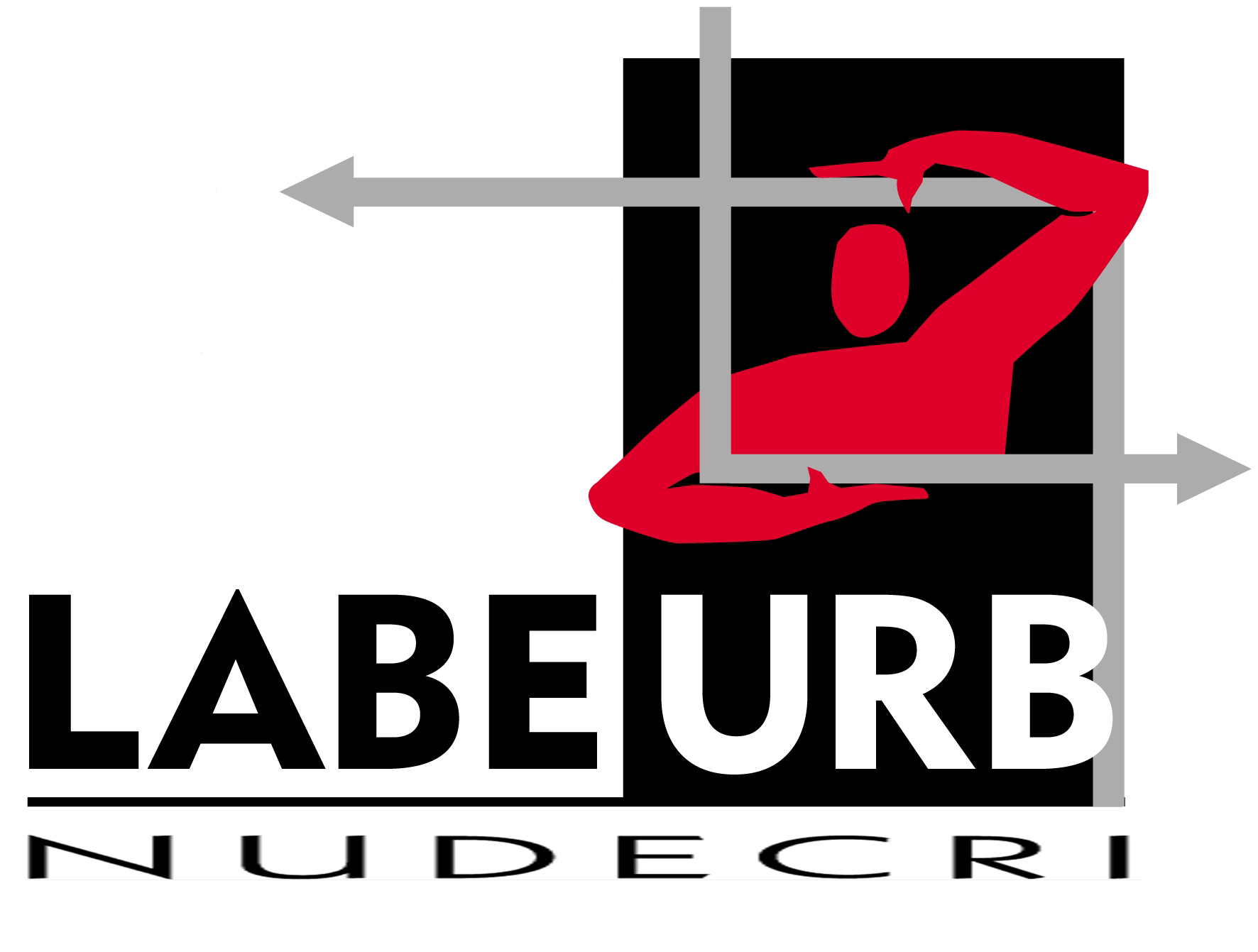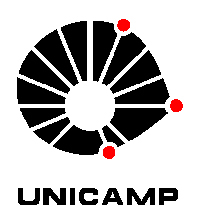Entre escrevivências e revides: elaborações negro-periféricas do viver na resistência à necropolítica campineira


Alison Douglas da Silva
Brunno Souza Toledo Pereira
Rafael Afonso da Silva
1. Introdução
Biopolítica e necropolítica são duas faces de um arranjo de tecnologias de poder que articula “fazer viver”, “deixar morrer” e “fazer morrer” (Foucault, 2000). Em uma reinterpretação dessas noções foucaultianas, sob inspiração de Esposito (2023) e Mbembe (2018), Silva (2023, p. 86) afirma que toda biopolítica pressupõe não somente “um ‘fazer viver’, que molda as formas de viver, segundo certos discursos de verdade sobre a vida e sob certas autoridades, mas também um ‘deixar morrer’, que negligencia certas vidas ou as exclui dos dispositivos de proteção comunitários”, ao mesmo tempo em que reedita o “fazer morrer”, “transcrito nas ‘ambições de jardinagem da modernidade’ (Bauman, 1999) como uma sorte de prática de extirpação de ervas daninhas e traduzido, sobretudo, mas não somente, em termos racialistas”.
Em sua análise das técnicas e modalidades de exercício desse “fazer morrer” — ou, como sugere Silva (2020), de uma articulação de agenciamentos e mecanismos de gestão que vai do “deixar morrer” ao “fazer morrer” —, ao propor e desenvolver o conceito de necropolítica, Mbembe (2018) expôs sua articulação com dinâmicas de territorialização, de produção de relações de poder espaciais ou de espacialização de relações de poder que distribuem agrupamentos humanos em uma geografia que define “quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é” (p. 41), configurando “espaços de violência”, espaços de suspensão dos controles e garantias de direito, espaços de “estado de exceção”, em que as pessoas estão sujeitas a toda sorte de violência, predação e espoliação. Ele analisa os contextos de “ocupação colonial na modernidade tardia” (p. 38), concentrando-se, em especial, no exemplo da Palestina, e os contextos em que as máquinas de guerra constituem “enclaves econômicos” sob a governança de milícias constituídas como “mecanismos predadores extremamente organizados” (p. 58), articulados a redes capitalistas transnacionais, como ele exemplifica referindo-se à situação de certas regiões africanas.
Para além das situações específicas que Mbembe analisa, o conceito de necropolítica tem sido manejado na análise de outros contextos e suas territorializações, como as periferias urbanas. Mbembe mesmo sugere essa possibilidade, ao traçar uma analogia entre os contextos de “ocupação colonial da modernidade tardia” e o “urbanismo estilhaçado” do mundo contemporâneo, com seus “enclaves periféricos e comunidades fechadas [condominiadas]” (p. 45). O uso do conceito de necropolítica tem se mostrado bastante produtivo para a análise do genocídio da população negra periférica e de outros grupos marginalizados pertencentes a esses “enclaves periféricos”, como a população LGBTQIAPN+ periférica, em geral, também negra1.
Como esses estudos têm demonstrado, a questão racial, em suas dinâmicas interseccionais, é central na configuração do “urbanismo estilhaçado” no Brasil. Esse “urbanismo estilhaçado” espacializa a tensão racial constitutiva da sociedade brasileira, produzindo espaços privilegiados em termos de infraestrutura urbana, proteção, mobilidade e acesso, destinados a classes médias e a elites predominantes brancas, e “espaços de violência”, em que predomina a população negra, submetida simultaneamente a situações de “segregação espacial/residencial; marginalização econômica; assimetria no acesso à infraestrutura urbana e nos recursos sociais; terror policial e encarceramento; epistemicídio e hierarquização subjetiva” (Soares, 2024, p. 55).
A tensão racial é reforçada por uma tensão territorial, sistemática e histórica, que se reitera nos conflitos que permeiam a regulação dos fixos e dos fluxos, da habitação e da circulação, dos acessos e dos recursos, da segurança e da violência, e mesmo do ar e do clima em um contexto de distribuição geográfica desigual de matas residuais urbanas e arborização. Como escrevem os moradores da Ocupação Eliana Silva (Belo Horizonte – MG) e lideranças do Movimento de Luta nos Bairros e Favelas (MLB), Poliana Souza e Leonardo Péricles (2024, p. 77), “a cidade é montada para não funcionar, pelo menos para a maior parte da população”. A outra parte teme e se defende da periferia, ao mesmo tempo em que depende dela para viver em uma farsa que, em parte, funcione, uma brancopia (Alves, 2020), a utopia urbana antinegra da branquidade: “A cidade formal é uma farsa, porque as elites que a constroem, articulam e impõem não são autossuficientes, não têm um modo de vida que independe da população que elas tornam periféricas” (Souza & Péricles, 2024, p. 75).
É para o contexto necropolítico desse “urbanismo estilhaçado” que se dirige este artigo, que associa duas pesquisas independentes entre si: a pesquisa de mestrado de Brunno Toledo intitulado “As Parceiras do Campo Belo: um estudo sobre psicanálise e outras escutas no enfrentamento do epistemicídio enquanto violência de Estado”2; e a pesquisa de doutorado de Alison Silva “A Comunidade Mandela e suas Práticas de Revide: o que a quebrada tem a dizer sobre saúde?”3. A primeira está situada no campo da Antropologia e da Psicanálise e procura refletir sobre a consolidação de uma prática pública de escuta como instrumento de enfrentamento/reconhecimento dos efeitos psicossociais da violência de Estado sofrido por moradoras(es) do Campo Belo, tomando como base a experiência do Projeto Escrevivências, da qual o autor faz parte. A segunda tem como principal interlocutor o campo da Saúde Coletiva e procura conhecer/compreender as práticas de produção de saúde desenvolvidas no cotidiano da Comunidade Mandela.
Os dois estudos foram conduzidos em territórios negros periféricos da região sul da cidade de Campinas, em comunidades constituídas a partir de movimentos de ocupação popular, e ambos abordam cenários marcados pelas múltiplas violências da necropolítica. Embora partam de abordagens distintas e de campos diferentes de conhecimento, os dois estudos se reencontram no desejo de falar desses lugares não somente como “espaços de violência” da necropolítica, mas também como territórios de “elaboração de viver” (Entidade Maré, 2024, p. 160), de conhecimentos e práticas que se desenvolvem como response-abilities (Haraway, 2023), quer dizer, como capacidades de responder, tecidas dia a dia, em redes colaborativas que produzem “comuns”, cum (com) + munus (obrigação), coobrigações, desafiando precariedades e violências e produzindo espaços de vida, de laços, de afetos, de ideias etc. que são também territórios a defender em “um mundo de que se está excluído a priori” (Macé, 2023, p. 33).
Partindo do interesse nas práticas de escuta dos efeitos psicossociais da violência estatal desenvolvidas pelo Projeto Escrevivências em Campo Belo, Brunno foi conduzido a uma releitura do conceito de “escrevivência” (Bispo, 2023), para poder compreender formas de escrevivência do território, quer dizer, formas de “escrever-se vendo” que se realizam como práticas coletivas de ocupação do espaço. Nessas escrevivências do território, uma coletividade é evocada no tempo mesmo em que é instituída, de forma prática, em nome de uma tarefa, de uma luta ou de uma causa, produzindo outras narrativas-espaços do “nós”, contrapostas às narrativas-espaços hegemônicas.
Orientado em sua pesquisa na Comunidade Mandela pela perspectiva de uma abordagem da saúde a partir da noção de “recursos gerais de resistência” (Antonovski, 1996), Alison esbarra, no curso da pesquisa, com a noção de “revide” (Soares, 2024) como modo de conceituar práticas de resistência à violência antinegra que não constituem apenas respostas ou reações à violência, mas “formas criativamente inventadas” para reformar um cotidiano, para produzir condições de “vida digna” e a própria ideia de “vida digna”, para pleitear um futuro (p. 6). Ao cruzar a noção de revide com as dinâmicas de reterritorialização da Comunidade Mandela, Alison consegue compreender diversas práticas de ocupação criativa do território, de reurbanização cotidiana pelas(os) moradoras(es) como revides que produzem “territórios de ser”, contrariando o projeto racial que designa para a população negra na cidade “territórios de não ser”, uma cidade “montada para não funcionar”.
Este artigo propõe uma leitura conjunta dessas perspectivas e aventuras conceituais. Apostamos, com esse exercício, na possibilidade de um diálogo não somente entre pesquisadores e pesquisas, mas entre estratégias populares de territórios negros que resistem à necropolítica não pela defesa da vida como puro “bios”, no sentido da biopolítica dominante, como “vida nua” (Agamben, 2010), vida sem forma e, por isso, disponível para receber uma na forma da lei, da política, da linguagem do poder soberano, mas pela defesa da vida vivida e vivível, que se faz escrevivendo o território, revidando à gestão da vida como gestão da morte pela elaboração coletiva de territórios de ser, de espaços de viver.
2. Os territórios
Tanto o Campo Belo como o Mandela nasceram como ocupações urbanas. O Campo Belo em 1997 e o Mandela em 2016. Duas décadas é o espaço de tempo que separa o surgimento das duas ocupações.
Os dois territórios estão localizados no extremo sul do município de Campinas. Essa região é marcada desde sua ocupação, entre o final do século XIX e início do século XX, pela presença de uma população majoritariamente negra e empobrecida, composta inicialmente, em grande parte, por recém-libertos do processo escravista e depois expandida pela chegada de imigrantes de outras regiões do país. Esse perfil manteve-se ao longo de sua história, configurando o extremo sul da cidade como um território negro periférico.
A constituição da região remete aos fundamentos violentos da urbanização de Campinas. No final do século XIX, como resposta às sucessivas epidemias de febre-amarela que assolaram a cidade, a polícia sanitária removeu um número significativo de pessoas que viviam nos cortiços da região onde hoje estão os bairros Cambuí, Ponte Preta, Vila Industrial etc. Essas pessoas se deslocaram no sentido sul da malha urbana que estava se constituindo. Essa “urbanização sanitarista campineira” (Penteado, 2012) impôs não somente um reordenamento da distribuição da população residente, mas também um disciplinamento dos usos da cidade, da circulação, na perseguição ao comércio ambulante e das atividades econômicas populares de venda de alimentos, em um período de crise alimentar.
Esse início violento, marcado por expulsões e subordinação policial dos usos da cidade pelos agrupamentos populares, sobretudo, negros, acabou por moldar a concepção da urbe campineira. Os empreendimentos de “embelezamento” e “organização” da cidade ao longo do século XX sempre ocorreram em detrimento dessa população, empurrada para o sul da região central da cidade, em sucessivas operações de expropriação (Martins, 2010). Uma repopularização do antigo centro da cidade apenas ocorreu quando esse centro foi deslocado para “o sul” no processo de constituição de um “novo núcleo central” para a cidade para atender aos interesses do capital corporativo industrial e imobiliário (Antipon & Cataia, 2019), o que transformou o antigo sul em extremo sul da cidade, uma região que se amplia e se espraia à medida que as desigualdades sociais e as dinâmicas de (re)urbanização da brancopia a convertem no destino das populações empobrecidas da cidade.
Mas esse “destino” não é dado de graça. A história do Campo Belo e do Mandela demonstram que a irrupção de novas ocupações na região por necessidade de agrupamentos populares confronta sua constante disrupção pelas frentes empresariais-estatais da brancopia campineira.
a). Campo Belo
A macrorregião nomeada hoje como Campo Belo encarna os efeitos de estar situada na zona perimetral urbana. Com uma malha urbana subordinada aos interesses do capital imobiliário e às necessidades de um polo científico e tecnológico que se expande no limite urbano à revelia da vida e das necessidades da maioria da população residente na região, o crescimento do Campo Belo acontece de modo difuso e espraiado, com núcleos residenciais descontínuos, interrompidos por empreendimentos corporativos, e sujeitos a serem deslocados por novos projetos industriais ou imobiliários. De acordo com Helena Rizzatti e Adriana Silva (2017), o descuidado alargamento do perímetro da cidade ocorre por duas vias. Por uma via, atende à viabilização dos interesses de especuladores imobiliários, “haja vista a sobrevalorização de frações do espaço com a instalação de condomínios fechados, shopping centers, equipamentos comerciais” (p. 212). Por outra via, promove a facilitação da implantação de grandes empresas, “deixando para segundo plano o atendimento às necessidades da população e, principalmente, dos pobres urbanos” (p. 212).
A ocupação que deu origem ao Campo Belo foi o resultado de uma insurgência contra esse “modo de vida proposto pela gestão neoliberal da cidade” e a “exclusão associada à produção da cidade para o mercado” (Ribeiro, A. C. T. apud Rizzati; Silva, 2017, p. 212). As ações associadas a essa ocupação compreendem agenciamentos isolados, mais ou menos individuais, e agenciamentos coletivos, multitudiários, ações organizadas e ações espontâneas. Elas podem ser vistas tanto como táticas de sobrevivência quanto como expressão da indignação coletiva diante da violência da urbanização brancópica, encarnando outras racionalidades e outra sensibilidade na “gestação do presente, envolvendo o aprendizado das ruas, a vitalidade dos espaços opacos... novas linguagens e formas de comunicação.” (Ribeiro, A. C. T., 2013, apud Rizzati; Silva, 2017, p. 212)
Localizado a quinze quilômetros do centro da cidade, o terreno em que atualmente se localiza o Campo Belo foi loteado em 1950, em um momento de ampliação excessiva do perímetro da cidade, com uma imensa região delimitada para uma futura expansão do aeroporto Viracopos, na década de 1970. No entanto, continuou sem uso até a década de 1990, quando ocorreu o processo de ocupação.
A ocupação ocorreu em meados de fevereiro de 1997, recebendo auxílio do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), principalmente para as atividades que necessitavam de um alto contingente de pessoas, como capinar e limpar o terreno, a montagem de barracos, e tudo o que envolve os momentos iniciais de instalação no território. Dos terrenos que foram ocupados, a sua maior parte pertencia a setores privados, empresas industriais, grandes e pequenos proprietários ou à Igreja Católica.
Segundo Rizzati & Silva (2017), em 2008 ocorreu o último momento de grande temor de remoção. À época, essa remoção, associada ao interesse de expansão do aeroporto, afetaria pelo menos 7.500 famílias. Sob grande pressão social, desgaste político e contrariedades econômicas, a expansão do aeroporto foi redirecionada para uma área rural da cidade. Essa alteração foi um marco importante na luta empreendida pelas(os) moradoras(es) da região. No entanto, teve impacto sobre outras populações e seus ambientes: “(...) tal alteração causou, até o momento, a remoção de 215 famílias e o agravamento de problemas ambientais, pois a expansão ocorre em um terreno acidentado e com diversos mananciais” (Rizzati; Silva, 2017, p. 220).
Em 2008, foi implementado o Programa Social VIP-Viracopos, vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com foco na reurbanização e regularização das regiões do Campo Belo e Parque Oziel. O projeto instalou infraestrutura urbana, como escolas, creches, postos de saúde, pavimentação e rede de água e esgoto. Iniciou-se também o processo de regularização fundiária, porém limitado pela localização das áreas mais densas nas curvas de ruído do aeroporto, o que inviabiliza a regularização plena.
Apesar dessa regularização, o Jardim Campo Belo ainda é classificado pela própria prefeitura como a ocupação “mais vulnerável socialmente, sendo que a necessidade de infraestrutura e serviços urbanos continua premente” (Rizzati; Silva, 2017, p. 221). A região expandiu-se muito desde sua emergência, passando de cinco bairros, com poucas moradias, no início da ocupação, a cerca de vinte bairros em 2016. Dentre eles, apenas um deles, o Jardim São Domingos, é considerado um bairro regular, o que testemunha a precariedade da região. Para além das conquistas alcançadas pela organização popular, mesmo com algum reconhecimento do espaço por parte da gestão pública, o território do Campo Belo segue sendo alvo de uma série de violências, como a remoção de residências conduzidas por ações arbitrárias, a violência policial, a falta de acesso a serviços públicos de saúde e assistência social, dentre outras.
b). Mandela4
O início da articulação do Mandela aconteceu em 2016 com a ocupação de um território nas proximidades do Jardim Capivari, região sudoeste do município de Campinas–SP. Essa foi a “primeira fase” do movimento. O território ocupado era o terreno de uma antiga indústria de cerâmica que, após o esgotamento dos recursos naturais utilizados na produção das peças, foi abandonado e estava ocioso há mais de 40 anos. No entorno do terreno vivia um conjunto de famílias, sem moradia própria e com dificuldades para arcar com os custos de aluguel. Foram essas famílias que iniciaram a movimentação de ocupação que veio a se tornar a Comunidade Mandela.
Após a ocupação inicial, rapidamente se agrupou nesse território um conjunto de aproximadamente 600 famílias, abrigando milhares de pessoas. O processo de organização, tanto estrutural quanto político, estava avançando até que, no final de março de 2017, as(os) moradoras(es) foram surpreendidas(os) por uma reintegração de posse que as(os) desalojou, sem oferecer alternativas habitacionais que atendessem às suas necessidades, repetindo o padrão histórico da necropolítica brancópica campineira.
Essa reintegração produziu marcas profundas nas pessoas que vivenciaram esse processo. Após o despejo, as famílias se dispersaram. Mas não demorou para que, após algumas semanas, acontecesse uma reorganização política que conduziu a uma nova ocupação, dessa vez próxima ao Distrito Industrial de Campinas (DIC). Essa nova fase da ocupação foi batizada de Nelson Mandela 2. Das 600 famílias vinculadas à primeira fase da ocupação, pouco mais de 100 famílias continuaram engajadas no movimento. A ocupação do terreno no DIC inicia o que o movimento designa como sua “segunda fase”.
Entre 2017 e 2022, o movimento conseguiu organizar um conjunto de mobilizações, que garantiram a abertura de um diálogo com o poder público municipal. Esse processo não foi “liso”. A comunidade resistiu a reiteradas ameaças e investidas jurídicas e policiais durante esse período. Mesmo durante a pandemia, as ameaças de reintegração de posse não cessaram e foi necessário, em mais de uma ocasião, que as(os) moradoras(es) realizassem atos públicos para garantir sua permanência no território ocupado.
Fruto da agenda de diálogo aberta com a prefeitura, em dezembro de 2022 foi firmado acordo entre a comunidade e a Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Cohab, uma empresa de economia mista que tem como acionista majoritária a Prefeitura Municipal de Campinas, e, a partir desse acordo, foi iniciada a construção do loteamento/residencial Mandela, no entroncamento que liga as ruas Maria Dolores e José Alves da Silva no DIC, uma área relativamente próxima àquela da ocupação anterior. As casas-embrião — unidades habitacionais em caráter provisório com dimensões de 15m² — foram entregues às famílias entre julho e agosto de 2023, inaugurando assim o que o movimento compreende como sua “terceira fase”.
A história de violência presente na emergência e consolidação dos territórios do Campo belo e do Mandela não se encerra com a regularização fundiária. A violência permanece como expressão da necropolítica brancópica na forma: da relação tensa com a “outra cidade”, fora dos limites da comunidade; da convivência com a violência policial e o encarceramento, um dos marcadores raciais de “fronteiras internas” da brancopia; do desemprego e da submissão a condições precarizadas de trabalho; da dificuldade de acesso a serviços públicos; da precariedade das condições de urbanização e habitação; do epistemicídio operado cotidianamente seja pela invisibilização de seus saberes, de seus modos de viver, de seus modos de ver a vida e as vidas, de pensar a cidade, das imaginações práticas mobilizadas pelas(os) moradoras(es) em suas vidas privadas e comunitárias e em suas formas de atuação política etc., seja pela “história única” (Adichie, 2019) sobre os dois territórios que agentes da brancopia, atuando no Estado, na mídia ou em outras instituições, inclusive, nas universidades, contam e repetem para normalizar as hierarquias (de raça, classe, gênero) que a brancopia espacializa; etc.
Mas seria também criar uma “história única” falar apenas de vidas invisíveis e invivíveis e esgotar a narrativa no campo das agências e consequências da necropolítica. Nesse sentido, as experiências que aqui serão relatadas tentam ampliar e multiplicar as narrativas, a partir dos agenciamentos criativos e das reinvenções do viver e dos territórios pelas(os) moradoras(es) do Campo Belo e do Mandela, em torno de duas experimentações conceituais, construídas em torno da noção de escrevivências do território e da noção de revides configuradores de territórios de ser.
3. Escrevivências do território: produzindo outras narrativas-espaços do “nós” no Campo Belo
Escrevivências foi o nome dado a um projeto que visa a promover o cuidado integral e humanizado da saúde mental de crianças e adolescentes, com estratégias interdisciplinares e antirracistas que favoreçam seu desenvolvimento. Entre os objetivos específicos estão: formar profissionais do cuidado infantojuvenil; fortalecer redes de acolhimento em saúde mental; articular a rede intersetorial para maior resolutividade dos casos; ampliar a escuta qualificada de jovens em situações de violência; e fomentar projetos terapêuticos compartilhados com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Construído a partir de um edital do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, “Escrevivências” faz referência à obra literária da escritora Conceição Evaristo, autora que tem sua escrita profundamente marcada pela experiência vivida, e ficcional, de uma coletividade de pessoas negras.
O projeto nasceu do encontro de pessoas trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do Sistema Único de Saúde (SUS) e da educação que, entre os anos de 2021 e 2023, dividiram um mesmo espaço formativo chamado Rede para Escutas Marginais (REM). Inicialmente coordenado pelo coletivo Margens Clínicas, a REM buscou realizar um conjunto de atividades, de enfoque teórico-prático, para o enfrentamento dos efeitos psicossociais da violência de Estado. Esse espaço formativo foi, por sua vez, uma tentativa de dar destinos aos esforços que vinham sendo realizados desde a Comissão Nacional da Verdade (Brasil, 2014) pelo esforço das Clínicas do Testemunho, da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, onde foi possível realizar um trabalho de escuta de pessoas afetadas pela violência de Estado durante o período da ditadura militar brasileira. Tal vinculação, talvez, permita compreender o projeto Escrevivências como um resultado da atuação dos coletivos de psicanálise brasileiros na construção de uma história das clínicas públicas e populares no país.
Para além de uma história mais detalhada do percurso formativo em si, para os objetivos desse artigo, nós nos ateremos aos efeitos dessa formação para a construção das práticas de escutas empregadas pelo projeto Escrevivências. Rafael Alves Lima, Pedro Obliziner e Anna Turriani, ao analisarem as dificuldades do trabalho da escuta dos efeitos da violência de Estado em periferias de grandes centros urbanos, apontam as dificuldades de reconhecimento dessas violências pelas próprias pessoas que as vivenciam. Em uma comparação com a Clínica do Cuidado (Broide & Katz, 2019) realizada em Altamira, na ocasião de uma série de violações de direitos durante a construção da usina de Belo Monte, os autores dizem:
Uma diferença com Altamira, contudo, é que se lá, ao chegar a equipe da Clínica de Cuidado, as pessoas reconheciam facilmente os efeitos de Belo Monte (“seu João não levanta mais da cama”, “dona Maria teve um AVC”) e eram capazes de apontar quem precisava desta atenção, perguntar em Perus por pessoas afetadas pela ditadura não surtia o mesmo efeito, parecia quase não fazer sentido, e, caso tivéssemos recorrido a essa estratégia, provavelmente atenderíamos só duas ou três pessoas. Então, como realizar um trabalho do Clínicas do Testemunho com pessoas que não se reconheciam como afetadas pela ditadura? (Lima, Obliziner, Turriani, 2019, p. 120)
Nesse sentido, transpondo a questão colocada pelos autores para a realidade do projeto Escrevivências, poderíamos formulá-la mais ou menos como segue: como realizar um trabalho de enfrentamento dos efeitos psicossociais da violência de Estado em um contexto em que o próprio reconhecimento dessa violência precisa ser socialmente construído?
O projeto foi formalmente iniciado no segundo semestre de 2024. As pessoas que o compõem, no entanto, trabalhavam no bairro desde 2018, no SUAS, no SUS e na rede pública de educação. O projeto foi construído como desdobramento de uma percepção compartilhada por essas(es) trabalhadoras(es) em sua atuação no território: “É preciso que haja escuta”.
Mas de que escuta se trata? E o que se espera como efeito dessa escuta? De certo modo, o projeto foi construído como uma aposta no desbordamento das possibilidades da psicanálise e de suas práticas de escuta ou, como disse Emiliano David, como uma aposta na psicanálise como
“instrumento afiado para o desmantelamento do mundo e para liberar a energia investida na manutenção dos sintomas para formas mais criativas e emancipadas, rumo à equidade racial e de gênero, dentro e fora da psicanálise” (David, 2021, p. 97)
De certa forma, é a aposta numa possível leitura do registro político dos afetos, sustentada por uma práxis que se nega a ler o sofrimento como algo idêntico a si, encerrado em si mesmo. Nesse sentido, os sintomas, por exemplo, deveriam ser tratados não como algo do campo da patologização — que encarceraria imaginariamente o sujeito ao sofrimento e o sofrimento ao curto-circuito de experiências limitadas, traduzidas em um vocabulário alheio ao próprio sujeito e condenadas a repetirem a si mesmas, dentro de uma estrutura de significado e de possibilidades congeladas —, mas como um “texto a ser traduzido, transcrito ou escrito pelo sujeito” (Ambra; Paulon, 2021, p. 2). Tratar-se-ia de ler o sofrimento em uma encruzilhada composta por: uma via que compreende a possibilidade dos sujeitos re-conhecerem seu sofrimento, refazerem sua estrutura de significado e de possibilidades, buscando legitimar suas experiências no contexto social e simbólico mais amplo; e outra, que procura não encerrar as leituras dos sofrimentos em uma “identificação imaginariamente totalizante do sujeito a essa experiência, desprovida de continuidades e aberturas” (Ambra; Paulon, 2021, p. 4). Em outras palavras, o que se almeja é uma escuta do sofrimento não para mantê-lo em seu lugar, mas para abrir devires, transformando simultaneamente a economia social e simbólico-afetiva interna do sofrimento e a economia social e simbólico-afetiva dos agenciamentos do sujeito no mundo, produzindo “formas mais criativas e emancipadas” de ser no mundo, faceando seus limites e iniquidades.
A partir dessa perspectiva, na busca de formas de prática de escutas efetivamente abertas a um re-conhecimento das violências, o projeto Escrivências propunha uma metodologia desenhada em torno da própria palavra que dá nome ao projeto: escrevivência.
Conceição Evaristo, em entrevista concedida a Morgani Guzzo (2021, s/p), conta que o termo é o resultado de uma investigação em que ela buscava criar um campo semântico-experiencial específico, conjugando a possibilidade de “escrever-viver”, “escrever-se-ver” e “escrever-se-vendo, escrevendo-se”. Segundo ela, é uma possibilidade pensada como forma de resistência negra, como estratégia projetada para romper a escravização da fala, a transformação da fala em “utensílio de trabalho escravizado”, que acompanha a escravização do corpo negro e que remete, em particular, ao trabalho das “mães pretas” na economia da educação na casa grande, como contadoras de história. Trata-se de “borrar” essa imagem do passado, de escrever não para contar uma história para ninar crianças, como as mulheres negras na casa grande, mas para acordar a casa grande de “seus sonos injustos”: escrever para confrontar as narrativas brancas, para denunciar “o que é que nos foi feito” e continua a ser feito contra pessoas negras sob outras formas, escrever para escrever-se e reescrever-se, em uma narrativa orientada por um “nós”, pelas vivências da coletividade negra brasileira e de outras coletividades subalternizadas.
Pode-se dizer que a escrevivência constitui uma forma de emancipação da fala enclausurada pelo campo semântico-existencial do racismo e de outras relações de poder interseccionadas: uma reescritura de si que se faz escrevendo e vivendo, escrevendo-se e vendo-se nessa escrita, fora da economia simbólica que produz esses sujeitos como “o Outro”, a margem do “centro” do poder ou o desvio/anomalia de uma norma que é branca, masculina, heterossexual, ocidental e capitalista. A escrivivência é um estilo de re-memoração, que não apenas permite criar canais para veicular narrativas-memórias coletivas que, de outro modo, seriam silenciadas e negligenciadas, mas que visa a transformar a estrutura de significados em que essas memórias ficaram aprisionadas, criando novas vivências, novos modos de viver, reformando o cotidiano e confrontando as estruturas de poder.
A escrevivência aproxima-se, assim, da perspectiva de escuta acima mencionada, uma escuta que visa a subverter o lugar de quem fala e de quem escuta e permite um re-conhecer-se que transforma estruturas de significado e multiplica possibilidades de agência. Ao adotar o termo, o projeto propunha escutas a partir das escrevivências das crianças e pré-adolescentes do Campo Belo participantes do projeto. Inicialmente a ideia era a realização de atividades lúdicas que pudessem ser canais de “escritas de si” e de “escritas de nós” dessas crianças e pré-adolescentes, formas de “escrever-se vendo-se”, associando brincadeira, desenho e fala como oportunidades de contar as histórias de cada um e da própria coletividade. Mas, sem abandonar essa perspectiva, elas/eles nos conduziram a outro lugar: a escrevivências em uma cartografia con-vivencial do território, a uma escrevivência coletiva do território.
A ideia de realizar uma cartografia pelo bairro surgiu quando a equipe do projeto, em um primeiro momento de escuta, se deparou com relatos que falavam de um território que a equipe desconhecia ou conhecia de outras formas, um território que habitava as narrativas que as crianças e pré-adolescentes produziam sobre si, o território que elas/eles habitam e que as/os habita. A partir dessas narrativas, a equipe decidiu iniciar uma atividade de andança pelo território, em um movimento guiado pelos pré-adolescentes e crianças.
Elas/eles falavam desse território a partir de biografias, trajetórias e afetos diversos. Em alguns casos, a memória de trajetórias migratórias a partir das regiões Norte e Nordeste conduzia a uma relação com o território atual permeada pelo sentimento de provisoriedade ou de estranhamento, associado à expectativa de retorno, em geral, alimentada pelo desejo de retorno dos pais. Em outros, a narrativa das trajetórias migratórias desembocava no desejo de estabelecer-se, ficar, lançar raízes. Em outros, crianças que nasceram na região produziam relatos de uma vida geograficamente enclausurada, uma vida cujas paisagens e possibilidades se circunscreviam ao território do Campo Belo, vida que se escrevia e se escreve naquele perímetro.
No dia em que havíamos marcado para realizar o planejamento das nossas primeiras andanças, as crianças e pré-adolescentes expuseram ainda outros afetos. Falaram do luto pela perda de amigos, tanto pela violência policial quanto pela falta de estrutura urbana que garantisse que pudessem brincar em segurança. Contaram também sobre praças a que iam para acalmar-se, para restabelecer-se em momentos de estresse, sobre o laguinho e o campinho em que podiam encontrar seus amigos e divertir-se.
Nesse dia, desenhamos juntos esses lugares, enquanto nos contavam suas histórias com esses espaços. Nos desenhos, histórias da Bahia e personagens de animes emergiam, de repente, inesperadamente, misturando memória e ficção na narrativa imagética e verbal sobre esses lugares e o sentimento dos lugares. Em alguns momentos, de maior tensão narrativa, em que falar era mais difícil, clipes de papel eram amassados e retorcidos.
Os clipes foram requisitados pelas crianças para os encontros seguintes, assim como outros materiais que pudessem amassar, como argila e massinha. Com esses materiais, também veio a ideia de construirmos um “saquinho das angústias”, em que esses objetos quebrados pudessem ter espaço de memória. Os clipes eram parte da escrevivência, marcadores de “nós” que foram difíceis de desenrolar narrativamente ou que ainda precisavam ser desemaranhados para que outros “nós”, outras leituras de si e de suas coletividades, pudessem se constituir.
As caminhadas ocorreram durante o período de novembro e dezembro. Nesses percursos, o grupo passava pelas casas das famílias dos participantes, encontrava com suas mães, evocava nomes idiossincráticos para os lugares — as ruas eram nomeadas de uma maneira muito própria por cada criança/pré-adolescente, de modo que uma rua era apresentada como “a rua do pastor”, outra, como “a rua da lhama”, outra, como “a rua do trabalho da minha mãe”, e assim por diante.
As crianças e os pré-adolescentes receberam câmeras e foram orientados a fotografar livremente aquilo que chamasse atenção. As fotografias escreviviam o território, que emergia como um espaço habitado por flores, árvores, frutas, cachorros, uma Lhama chamada Jhon — a lhama da tia de uma das crianças, outro migrante do território, além de nos encantar por uma manhã, virou uma incógnita: como Jhon chegou ali? Uma entrevista com a tia foi proposta para resgatar a memória da trajetória do migrante Jhon.
Em um dos dias, ao desistirmos de chegar ao destino final e decidirmos voltar, uma das crianças estava bastante interessada nas plantas. Ela começou a nos dizer o nome de todas que reconhecia pelo caminho. Dentre essas plantas, uma flor, que disse chamar flor-da-vida, e que a conduziu à lembrança de ter presenteado uma professora com ela, quando morava na Bahia. Ao pararmos para tirar uma foto, nos posicionamos ao lado de outras duas plantas. Uma delas foi rapidamente identificada como espada-de-são-jorge. A outra, misteriosa, foi nomeada por um dos profissionais que caminhava conosco. Popularmente chamada de guiné e também conhecida como amansa-senhor, essa planta, em virtude de suas propriedades tóxicas, era utilizada por pessoas escravizadas, como forma de resistência, para o envenenamento de escravizadores. Ao perguntarmos para a mulher que as havia plantado ali, ela nos disse que a planta trazia proteção, remetendo, consciente ou inconscientemente, a uma memória ancestral de uma associação escravo-planta que “amansava senhores”. A presença dessa planta era uma memória viva que a escrevivência cartográfica, associando conhecimentos e memórias, permitiu resgatar. Outras memórias vivas do bairro foram emergindo ao longo dessas andanças pelo bairro, conectando as memórias das crianças às memórias das coletividades do Campo Belo.
Essas “caminhadas peripatéticas” (Lancetti, 2008) pelo bairro eram escrevivências, escritas de si/nós por meio das quais as crianças e os pré-adolescentes, bem como os próprios integrantes da equipe do projeto, podiam ver-se ou rever-se, vendo e revendo suas histórias e as histórias dos habitantes, humanos e não humanos, do Campo Belo. Essas escrevivências eram escritas de si/nós em escrivências do território. Elas se desenhavam com giz de cera, canetinhas, folhas secas ou gravetos, emergiam em palavras e silêncios, em clipes e materiais amassados e guardados no “saquinho das angústias” como testemunhas de afetos complexos, evocavam nomes para lugares, invocavam caminhos a serem feitos para chegar à “praça do dinossauro” onde crianças brincam, ao laguinho onde elas nadam, às árvores onde elas lembram de ter encontrado sombra para deitar.
Essas escrevivências testemunharam outras escrevivências do território. Ao longo dessas andanças peripatéticas pelo bairro, o projeto foi encontrando escrevivências na forma de elaborações coletivas do viver.
Encontramos um coletivo de mulheres, em sua maior parte negras, que organizam um espaço comunitário com seus próprios recursos e com apoio de alguns poucos colaboradores. Esse espaço abriga as atividades de uma cozinha solidária, de uma articulação entre catadores de recicláveis do bairro e de um grupo de mulheres construído como espaço de fala e escuta de suas experiências. Para além dessas e outras atividades, o coletivo também realiza acolhimento de crianças no contraturno escolar, tanto para atividades de reforço escolar quanto para estar, brincar e conversar.
Todo esse trabalho realizado por essas mulheres é feito em autogestão e sem financiamento público, coordenando uma rede de atores que apoiam, dão sustentação ou se vinculam às atividades desse espaço. Nesse local, pessoas se encontram, crianças dão notícias da vizinhança, festas são comemoradas, a comida circula, saberes sobre alimentação e seu preparo circulam, educadores e artistas se articulam, mulheres tecem resistências. A cozinha solidária evoca memórias de fome e memórias de alimentos. Na comensalidade que o espaço possibilita, as pessoas encontram lugar para conversar sobre a vida, sobre a busca de emprego, sobre o que aconteceu ou está acontecendo no bairro. Em rodas de artesanato e conversa, mulheres confeccionam não apenas objetos, mas narrativas sobre suas vidas domésticas, que, assim, ganham dimensão pública e coletiva. O espaço como um todo transpira desejos de vida e de comunidade.
Esse espaço é relativamente novo no bairro. Foi criado há cerca de dois anos. Mas o Campo Belo tem um histórico longo de formas de associação e de produção de estratégias colaborativas de viver. A região é reconhecida historicamente pelo movimento de mulheres que deu origem à Comunidade Menino Chorão. Ao chegarmos nesse território, desde os momentos iniciais, escutamos dezenas de histórias da resistência das mulheres, como as greves de sexo, articuladas em caso de violência por parte de parceiros. Ouvimos narrativas sobre os apitaços e os fechamentos de avenidas, utilizados como modos de politização, protesto e de abertura de canais de comunicação com os poderes públicos para avançar reivindicações locais. Ouvimos sobre trabalhos de base, como as jornadas de alfabetização, fomentadas por movimentos sociais organizados no bairro.
Nessas escrevivências do território, uma coletividade é evocada no tempo mesmo em que é instituída, de forma prática, em nome de uma tarefa, de uma luta ou de uma causa, produzindo outras narrativas-espaços do “nós”, contrapostas às narrativas-espaços hegemônicas. Ao contrário das narrativas-espaços da brancopia, que colocam essas vidas à distância, nos limites da cidade, essas escrevivências expressam a recusa de permanecer na borda, colocam suas vidas no centro da narrativa, inventam formas, materiais e imateriais, de viver e conviver, espaços de escuta recíproca, estratégias de fazerem-se ouvir na “casa grande”, interrompendo avenidas e fazendo barulho, criando formas de proteção para “amansar os senhores”, acordando a “casa grande”, ao mesmo tempo em que produzem as formas pelas quais se qualificam e se constituem como “nós”, como “sujeitos coletivos”, transformando o espaço de suas vidas. Através dessas escrevivências, foi possível escutar um território que pulsa em suas formas de auto-organização diante da violência de Estado, formas essas que na seção seguinte analisaremos a partir da ideia de “revide” (Soares, 2024).
4. Revidando os golpes da brancopia: a pretopia dos territórios de ser do Mandela
“Amparado na ideia de contraviolência, de Frantz Fanon, no quilombismo de Abdias Nascimento, [e] nas práticas de desvio de Édouard Glissant”, Michel Soares propõe o conceito de revide para designar:
saberes extensivamente praticados por pessoas, coletivos e populações que sofrem a violência. Ou seja, são formas criativamente inventadas no sentido de se criar condições para se viver uma vida digna. Sendo a violência antinegra uma dimensão constitutiva das relações sociais e da reprodução da ordem urbana; considerando o antagonismo estrutural que existe entre sociedade civil e negritude, são as práticas de revide que permitem nos aproximarmos de um entendimento real sobre assimetrias, desigualdades e performances de poder (Soares, 2024, p. 6).
A palavra é extraída do boxe. Michel é antropólogo e instrutor de boxe e propõe o conceito de práticas de revide a partir de uma pesquisa etnográfica sobre o boxe olímpico brasileiro. O uso que Soares faz da palavra a inscreve no campo dos gestos, palavras, redes e movimentos que corpos-territórios negros mobilizam coletivamente para confrontar a ameaça da aniquilação e do epistemicídio, para aparar ou driblar os golpes cotidianos da necropolítica e, sobretudo, para o exercício da forma mais central de contraviolência que é viver, porque viver não é algo qualquer coisa para “corpos para os quais está desenhado um projeto de vida que na verdade é a morte” (Entidade Maré, 2023, p. 163). Isso é importante porque, como diz a Entidade Maré (2023, p. 160), na periferia as pessoas não estão o tempo todo “respondendo a essa estratégia de extermínio cotidiano”: “estamos vivendo”.
Outro mérito do conceito refere-se ao fato de que as práticas de revide são compreendidas como gestos que também são discursivos e epistêmicos. O revide sustenta uma teoria implícita sobre relações de poder expressas em “assimetrias, desigualdades e performances de poder”, na medida em que, para resistir e “criar condições para se viver uma vida digna”, é preciso um conhecimento prático sobre a força e os limites do poder e se testa essa força e esses limites na resistência que o poder oferece aos experimentos de “elaboração de viver” das coletividades. As práticas de revide têm, desse modo, um valor epistêmico incomparável, permitindo, como diz Soares, “nos aproximarmos de um entendimento real” sobre as relações de poder, em um experimento vivo em que o que está é jogo não é somente a força e a criatividade instituinte das associações que produzem o revide, mas a força inercial e as dinâmicas instituídas das associações que sustentam as relações de poder.
Ao longo da trajetória etnográfica que Alison realizou no Mandela, ele percebeu que o uso desse conceito parecia fazer todo sentido e buscou apreender as formas de revide que se inscrevem nas dinâmicas de reterritorialização ou de reurbanização produzidas pelas(os) moradoras(es) fora das normas da brancopia e do destino que a brancopia designa para corpos-territórios negros. Revide, nesse contexto, refere-se a práticas cotidianas produzidas pela comunidade que viabilizam: a moradia (como no caso das técnicas de autoconstrução utilizadas na construção dos barracos e dos puxadinhos); a manutenção no território (através das dinâmicas de trocas e compartilhamento); a construção de espaços de sociabilidade (com a criação de espaços de lazer e convivência); a organização política (por meio das articulações realizadas pelas lideranças); dentre outras dimensões que constituem os territórios de ser da comunidade.
Dentre essas dimensões, duas foram selecionadas para serem apresentadas neste artigo: o puxadinho e a construção de espaços de sociabilidade.
Formas habitacionais periféricas: entre o barraco e o puxadinho
Nas suas duas primeiras fases, a Comunidade Mandela se apresentava como Ocupação. Nesse período, todos os moradores utilizaram como forma de moradia o barraco. Os barracos são formas provisórias construídas a partir de materiais reciclados e técnicas construtivas que variam conforme o habitante e/ou sua rede de convívio.
Associado (ou não) aos barracos, outra forma de moradia periférica que merece destaque são os puxadinhos. Trata-se da extensão da moradia realizada, em geral, pelos próprios moradores. Podem ser feitos com recursos de alvenaria, novos ou reutilizados, ou pela reciclagem de materiais diversos — madeira, compensados, placas, grades, portões, dentre outros.
Barraco e puxadinho são formas construtivas que podem ser pensadas como um mesmo fenômeno, convergindo para um objetivo comum: possibilitar a habitação de quem não tem onde morar com os recursos disponíveis. Em geral, usa-se “barraco” quando, em contexto periférico e de modo autogerido, a habitação matriz não é feita com alvenaria. Já os puxadinhos referem-se, normalmente, à ampliação da habitação matriz. Assim, desde que se constituiu, a Comunidade Mandela opera cotidianamente com técnicas construtivas autogeridas na forma de barracos-puxadinhos.
Historicamente, essas formas habitacionais têm sido associadas a modos deteriorados de moradia, vinculando seus construtores à degradação, insalubridade, mau gosto e perigo. Durante o trabalho de campo, foram registrados relatos de moradores relembrando situações envolvendo a construção dos barracos-puxadinhos e suas repercussões. Após a análise desse material, propomos uma inversão na compreensão do fenômeno, considerando essas formas como indutoras de dignidade e, consequentemente, de saúde para as comunidades que as utilizam como recurso.
A construção dos barracos-puxadinhos, mais que uma escolha técnica, é condição de existência da Comunidade Mandela. Isso vale não só para a terceira fase, na qual um imóvel de 15m² sem janelas evidencia a necessidade de ampliação, mas também para as fases anteriores. A construção, embora sempre autogerida, nem sempre é feita pelos futuros moradores. Foram entrevistados moradores de diferentes fases que não construíram seus próprios espaços, utilizando estratégias como mutirões, contratação de serviços e, na maioria dos casos, solidariedade de vizinhos com as habilidades necessárias.
Para demandas específicas, são mobilizados sujeitos diferentes: o vizinho pedreiro, o eletricista, o marceneiro. Nem sempre de graça, mas, mesmo quando pago, os valores são irrisórios se comparados, por exemplo, ao custo de um único mês de aluguel.
Não é raro o discurso que vê apenas negatividade nas práticas de autoconstrução, seja dos barracos ou dos puxadinhos. No caso do Mandela, considerando que a solução proposta pelo poder público — representado pela Prefeitura de Campinas, a Cohab e a Justiça — diante de uma ordem de reintegração de posse foi a entrega de casas de 15m², as práticas de autoconstrução já faziam parte do cálculo político e econômico da comunidade ao aceitar a proposta.
Um exemplo de como esse discurso é produzido é a declaração de Fábio Muzetti, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas, em entrevista à Folha de São Paulo em 15 de junho de 2023. Ao ser consultado sobre a mudança das famílias para as casas-embrião, ele afirma:
(...) essas pessoas vão continuar vivendo em situação precária, apenas um pouco mais humanizadas. Vão começar a criar ‘puxadinhos’ à sua maneira e desconfigurar o planejamento urbano do bairro. Desencadeia um efeito de favelização.
Dado o contexto de espoliação a que estão expostos, a estratégia de ampliação, tal como vem sendo feita, deve ser lida como uma tecnologia e não como um problema, como falas como a de Muzetti sugerem. O que deve ser combatido é, em primeiro lugar, a “sabotagem orquestrada” da ordem de reintegração de posse de um terreno que não cumpre função social e, em segundo, a humilhação social contida na precariedade da proposta do poder público. O “efeito de favelização” é, ao contrário, uma expressão da inteligência coletiva do revide.
A resistência aos barracos-puxadinhos presente em discursos como o de Muzetti revela a assinatura da urbanização e seu compromisso com a brancopia. A “desconfiguração” do “planejamento urbano do bairro”, a “favelização”, expressa a contracolonização negra do território. Essa “desconfiguração” não responde apenas à precariedades impostas, mas compõe o espaço a partir das sociabilidades que o habitam: é uma resposta autonômica à configuração heteronômica do “planejamento urbano do bairro”. Contrapõe os saberes e valores sociais e estéticos das/os arquitetas/os-construtoras/es da comunidade aos de arquitetas/os e urbanistas formados na brancopia universitária e suas/seus patrocinadoras/es (o capital imobiliário).
Construção de espaços de sociabilidade
A imersão etnográfica dessa pesquisa possibilitou acompanhar um pouco do exercício das relações da comunidade em seus momentos de ócio. Dois espaços importantes para esse registro foram: o campinho e a adega, com as múltiplas relações que os medeiam.
Não existe nenhum equipamento público de educação, saúde, lazer, esporte e/ou cultura no território entregue pela prefeitura. No território destinado à comunidade, esta encontrou apenas as casas-embrião, as ruas e os postes de luz; todo o restante é resultado da ação direta de indivíduos e coletivos da própria comunidade.
O discurso espacial da prefeitura estabelece que à população do Mandela cabe apenas a moradia e as vias de locomoção: trata-se de uma população destinada a viver com mínimos materiais e a ocupar o mínimo de espaço, bem como a deslocar-se para trabalhar e consumir, como reserva de trabalho precário (ora desempregada, ora subempregada).
O discurso espacial da comunidade, representado, dentre outras invenções, pelo campinho e pela adega, desconfigura (para usar o verbo de Muzetti de maneira desfigurada) esse discurso espacial: a população do Mandela é destinada a criar formas de sociabilidade e de prazer, a ser feliz, contrariando sua objetificação e redução à figura do trabalhador-consumidor precário, como exército de reserva limitado a mínimos materiais e espaciais. O discurso espacial da prefeitura é um discurso de contenção e de condução espacial. O discurso espacial da comunidade é um discurso do “ar livre” e da sociabilidade transfluente e porosa, de conexão e não de condução.
Para entender o papel da adega e do campinho, é preciso conhecer Marcelo5. Um jovem de 32 anos, branco, de olhos claros. Ele foi o responsável pela limpeza do terreno e construção do campinho. Marcelo foi um dos primeiros moradores a ampliar sua casa após a mudança da ocupação para os embriões. Construiu um cômodo de alvenaria e uma área coberta projetada na calçada e, nesse espaço, abriu a Adega Mandela.
Em uma das incursões a campo, enquanto o pesquisador fazia um registro fotográfico do campinho, Marcelo se aproximou e perguntou qual era a intenção das fotos. Foi nesse contexto que se conheceram e conversaram pela primeira vez. Na ocasião, ela explicou o contexto da pesquisa e ele, assim que compreendeu, começou a falar sobre como seria bom ter um espaço de lazer para as crianças e a juventude da comunidade poderem brincar, praticar esportes e se movimentar. Segundo ele, o que o motivou a limpar o terreno e construir o campinho foi ver “a molecada na rua jogando bola” — uma cena frequente e rotineira.
Quando questionado sobre se a manutenção do espaço dava muito trabalho, respondeu, rindo: “Que manutenção? Esses moleques não deixam nascer um matinho”, fazendo menção ao uso frequente do local. Nas vezes em que foi possível dedicar tempo à observação do espaço, era notável a movimentação de meninos e meninas na faixa dos 8 aos 12 anos.
Já a adega é um espaço que amplia as relações sociais do residencial com a comunidade do entorno. Não apenas os moradores da comunidade compram suas bebidas ali, mas também os dos bairros vizinhos. Conforme o fim de tarde se aproxima, sobretudo de quinta a sábado, forma-se uma pequena aglomeração de moradoras, moradores e vizinhança ao redor do local — seja para beber cerveja, tomar um copo de chevette ou apenas encontrar pessoas para conversar.
Nas vezes em que esses encontros foram acompanhados, um assunto muito comum entre moradoras e moradores da comunidade era a ampliação de suas casas. Nessas ocasiões, foi possível presenciar mais de uma vez pessoas se dispondo a colaborar em contextos de folga, ou mesmo fazendo combinados de zeladoria do espaço coletivo.
Em uma situação, Marcelo conversava com mais duas pessoas sobre o espaço de lazer da comunidade. Na ocasião, uma delas propôs construir uma trave de balanço naquele final de semana. Marcelo prontamente se dispôs, e, na semana seguinte, o balanço foi feito em uma área ao lado do campinho. Madeira reutilizada, cordas de segunda mão e assentos improvisados — mas, agora, a comunidade dispunha de um balanço.
Essa prática de ocupação dos espaços públicos para a criação de soluções de lazer e convívio pode ser lida como uma prática prefigurativa, no sentido atribuído por David Graeber (2013) à expressão. Práticas prefigurativas são modos de viver ou agir de maneira que incorporam os valores e estruturas de uma sociedade futura desejada, em vez de apenas lutar por essas mudanças. Elas buscam encarnar os princípios do mundo que se deseja criar nas ações e relações cotidianas do presente (Graeber, 2013).
As práticas prefigurativas podem ser observadas ainda na movimentação política das lideranças da ocupação e na construção de outros espaços de convívio — como a mercearia, que começa a tomar forma em uma das extremidades do residencial, num formato muito parecido com a adega de Marcelo —, dentre outras ações que podem ser pensadas nesse mesmo sentido.
5. Entre escrevivências do território e revides configuradores de territórios de ser: considerações finais
No diálogo entre as duas pesquisas buscamos realizar um movimento de denúncia e testemunho das iniquidades da violência estatal presente nesses territórios e, para além disso, nos aprofundarmos no reconhecimento das várias formas de produção e reprodução dos espaços de elaboração do viver dessas comunidades. Mais além daquilo que “faz morrer” ou “molda a forma do viver”, esses corpos-territórios tornam-se Negrópolis (Alves, 2020) a partir de suas relações particulares que possibilitam suas construções de “escreverem-se vendo” e de suas mais variadas táticas e estratégias de revide.
Nesse sentido, os territórios investigados emergem como palcos de disputa entre a política da morte e os modos insurgentes de vida. As escrevivências desses sujeitos não apenas desvelam a violência histórica e estrutural que os atravessa, mas, sobretudo, afirmam a sua existência. São narrativas que não se encerram na dor, mas se reinventam na força de uma coletividade que recusa a expropriação do ser. Trata-se de uma epistemologia territorializada, onde as práticas cotidianas, os saberes ancestrais e as redes afetivas se entrelaçam como formas de resistir, persistir e criar novas possibilidades de mundo.
Assim, ao invés de olharmos para esses espaços apenas como cenários de ausência do Estado ou de sua presença violenta, propomos compreendê-los como territórios de reexistência. A partir das escutas sensíveis, das cartografias afetivas e dos encontros construídos nas experiências de pesquisa, vislumbramos outras geografias possíveis — aquelas que se desenham nos gestos de cuidado, nas estratégias de sobrevivência e nas formas de reencantamento do viver. Ao final, o que se revela é uma radical pedagogia do território, forjada na travessia entre dor e invenção, que exige de nós uma ética comprometida com a vida em sua complexidade.
Referências:
ALVES, J. Biópolis, necrópolis, negrópolis: notas para um novo léxico político nos estudos sócio-espaciais sobre o racismo. Geopauta, [S.I.] 4 (1), 2020, pp. 5-33.
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e vida nua, I. Belo Horizonte: UFMG, 2012.
AMBRA, Pedro; PAULON, Clarice. Registros políticos do sofrimento. Psicanálise e Política, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 43-60, 2021.
ANTIPON, LC; CATAIA, MA. Urbanização e fome: da gênese à popularização da situação alimentar urbana em Campinas (São Paulo, Brasil). Sociedade & natureza, 31, 2019, e42700.
ANTONOVSKY, A. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Prom Int. 1996; 11(1): 11-18
BAUMAN, Z. Modernidade e Ambivalência. Rio de Janeiro, Editora Jorge Zahar, 1999.
BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 2014.
BROIDE, Emília; KATZ, Ilana (orgs.). Psicanálise nos espaços públicos. São Paulo: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), 2019.
DAVID, Emiliano de Camargo; ASSUAR, Gisele (Org.). A psicanálise na encruzilhada: desafios e paradoxos perante o racismo no Brasil. São Paulo: Editora Blucher, 2021.
ENTIDADE MARÉ. Amar na maré. In: CARNEVALLI, Felipe; REGALDO, Fernanda; LOBATO, Paula; MARQUEZ, Renata; CANÇADO, Wellington (org.). Terra: antologia afro-indígena. São Paulo/Belo Horizonte: Ubu editora/PISEAGRAMA, 2024.
ESPOSITO, Roberto. Immunitas: Proteção e Negação da Vida. Belo Horizonte: UFMG, 2023.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
GRAEBER, D. The democracy project: a history, a crisis, a movement. New York: Spiegel & Grau, 2013.
HARAWAY, Donna. Ficar com o problema: fazer parentes no chthluceno. São Paulo: N-1, 2023.
LANCETTI, Antonio. Clínica peripatética. São Paulo: Hucitec, 2008. 127 p. (SaúdeLoucura, 20. Série Políticas do Desejo, 1).
LIMA, Rafael Alves; OBLIZINER, Pedro; TURRIANI, Anna. Margens clínicas. In: KATZ, Ilana; BROIDE, Emília Estivalet (Org.). Psicanálise nos espaços públicos. São Paulo: nVersos, 2019.
MACÉ, Marielle. Nossas cabanas: lugares de luta, ideas para a vida comum. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2023.
MARTINS, V. Mercados urbanos, transformações na cidade: abastecimento e cotidiano em Campinas, 1859-1908. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.
MBEMBE, A. Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: n-1, 2018.
PATERNIANI, Stella Zagatto. 2019. São Paulo cidade negra: branquidade e afrofuturismo a partir de lutas por moradia. Brasília, tese de doutorado, Universidade de Brasília.
PATERNIANI, S. Z. Ocupações, práxis espacial negra e brancopia: para uma crítica da branquidade nos estudos urbanos paulistas. Rev Antropol [Internet]. 2022;65(2):e197978.
PENTEADO, A. Urbanização e usos do território: as crianças e adolescentes e situação de rua na cidade de Campinas/SP. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências - IG, Unicamp, 2012.
RIBEIRO, M. A. R.; CUNHA, M. F. da. A “Segunda Escravidão” na Princesa do Vale (Vassouras, RJ) e na Princesa do Oeste (Campinas, SP), 1797-1888. História [Internet]. 2018; v. 37: e2018029.
RIZZATTI, Helena; SILVA, Adriana Maria Bernardes da. Cidades e contra-racionalidades: ocupações urbanas em Campinas/SP (do Parque Oziel ao Jardim Campo Belo). Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em Análise, Curitiba, v. 40, p. 211–230, ago. 2017. DOI: https://doi.org/10.5380/raega.v40i0.51845.
SILVA, Rafael A. O sonho curto dos napëpë e a pandemia. São Paulo: Igra Kniga, 2023.
SILVA, Alison Douglas da; SILVA, Rafael Afonso da. Da Ocupação às Casas-Embrião: Projetos de Vida e Produção de Saúde na comunidade Nelson Mandela em Campinas-SP. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 34., 2024, Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte: Associação Brasileira de Antropologia, 2024. ISBN 978-65-87289-36-6
SOARES, M.P. Pensar o Brasil a partir do confronto e do revide. Revista Tuíra. No prelo. 2024.
SOUZA, Poliana; PÉRICLES, Leonardo. Em uma rua de terra. In: CARNEVALLI, Felipe; REGALDO, Fernanda; LOBATO, Paula; MARQUEZ, Renata; CANÇADO, Wellington (org.). Terra: antologia afro-indígena. São Paulo/Belo Horizonte: Ubu editora/PISEAGRAMA, 2024.
Data de Recebimento: 30/03/2025
Data de Aprovação: 25/05/2023
1 Esse tipo de abordagem proliferou, sobretudo, a partir da pandemia de Covid-19, quando as políticas sanitárias evidenciaram, pela concentração temporal de seus efeitos, a gestão da vida e da morte como uma “jardinagem” que separa “quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é”, com resultados estatisticamente observáveis; e, pela espacialização da gestão da vida e da morte pela estratégia da quarentena domiciliar, a existência de populações que não estavam incluídas na comunidade-imunidade para a qual se orientavam as políticas sanitárias, seja porque a precariedade das condições habitacionais dessas populações não permitia o isolamento domiciliar, seja porque estavam destinadas a sustentar a quarentena domiciliar dos “outros” (Silva, 2023).
2 Pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-graduação de Humanidades, Direitos e outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Angélica Souza Ribeiro.
3 Pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, sob a orientação do Prof. Dr. Rafael Afonso da Silva. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp, Campus Campinas, sob o número 174024823.9.0000.5404.
4 Uma versão preliminar dos trechos que tratam da Comunidade Mandela foi previamente publicada nos Anais da 34ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) em artigo publicado por Silva e Silva (2024).
5 O nome de todos os interlocutores citados é fictício e foram anonimizados para garantir a privacidade dos mesmos.