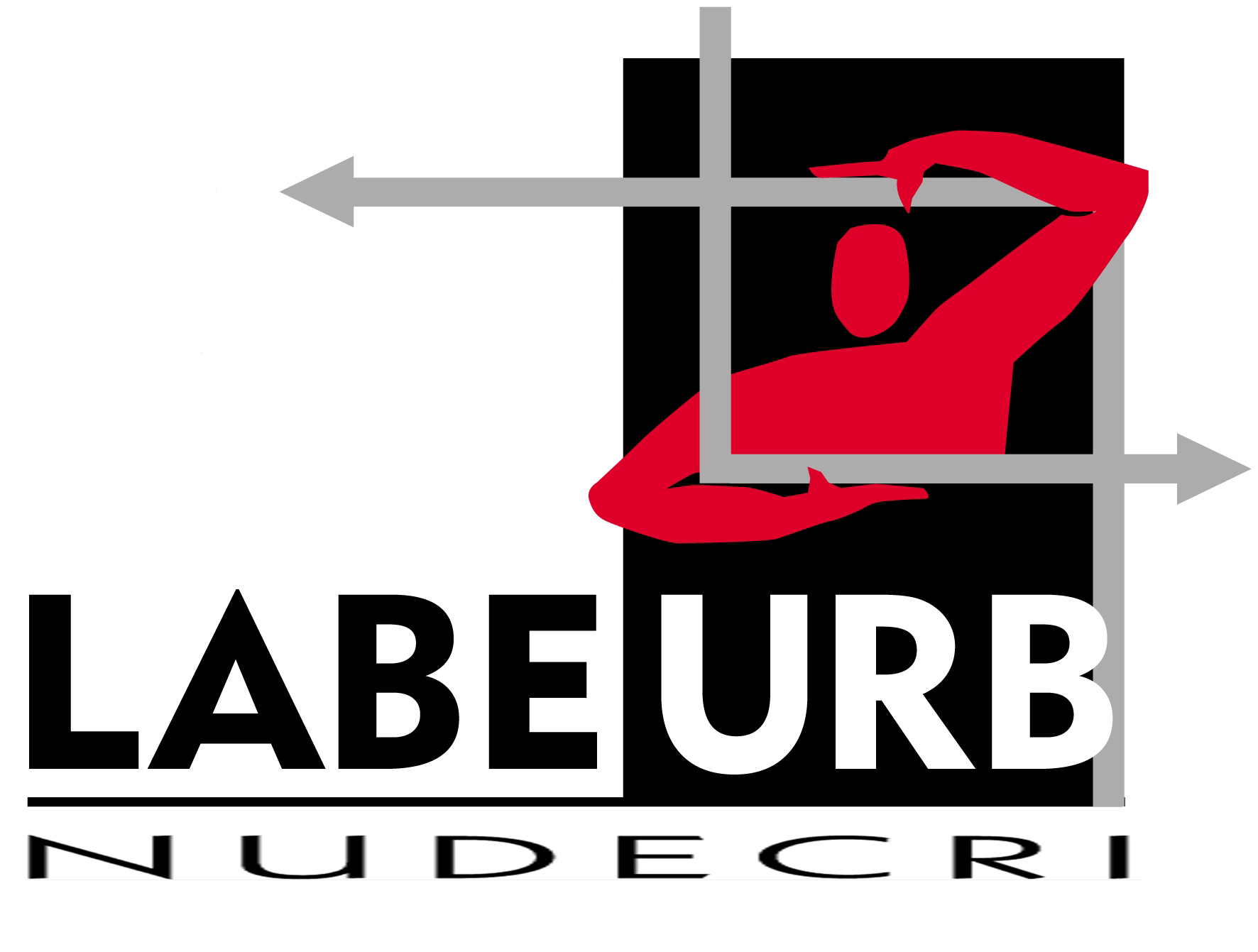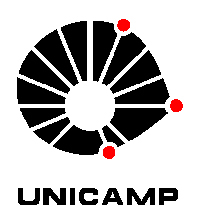(Cor)po cadavérico e narrativas silenciadas: Processo de (des)humanização de sujeitos no ensino em anatomia


Letícia Rafaela Aristeu de Queiroz
Marcos Aurélio Barbai
Depois da morte dela, agora há quase um ano, penso também na minha morte. Neste ano de 2020, em que todos passamos a temer a morte como nunca e em que vivemos a morte de muitas pessoas próximas e de milhares de pessoas distantes, passo a vislumbrar minha imagem velha e talvez doente sendo visitada por meus filhos e, quem sabe, por netos. Percebo o quanto tenho imitado e incorporado gestos e expressões de minha mãe, como tenho me tornado cada vez menos complicada e mais silenciosa do que eu era. Ela agora mora no meu corpo e na minha memória, e muitas vezes, ao me sentar para orar, sinto uma película fina de ar me envolvendo, seu abraço de penugem. Minha mãe se tornou um roçar.”
Jaffe, Noemie. Lili – novela de um luto. Companhia das Letras, 2021, p. 22
O termo humanização é amplamente utilizado na área da saúde para se referir ao desenvolvimento de uma construção coletiva de valores, comportamentos e ações que promovem dignidade e qualidade nas relações e laços sociais dos sujeitos (Rios, 2009). A existência de um processo de humanização implica no reconhecimento de que nem todos os processos e corpos seriam da ordem do humano, havendo necessidade de adequação dentro de valores éticos e morais para alcançar este patamar e ser reconhecido pelos seus semelhantes. Tornar-se humano é uma construção social, seria possível afirmar se alguns de nós são mais humanos do que outros?
Esse questionamento aparece não somente em vida, como também na morte, que é marcada por ritos que objetivam a humanização do corpo cadavérico, principalmente por aqueles que lhe cultivam amor, admiração e respeito. Esse processo resgata e preserva a dignidade do ser que partiu, reconhecendo sua humanidade mesmo após a morte e reforça a memória e os laços afetivos estabelecidos em vida, tanto para os entes mais queridos quanto para a comunidade a qual pertencia. A cerimônia do velório, ainda que periódica, é parte do conjunto da vida social e contribui para manter a continuidade estrutural da sociedade (Pereira, 2013). Ainda que o corpo morto seja um corpo em silêncio, é a partir dos rituais funerários que ele fala mais uma vez (Barbai, Souza, 2022).
No meio acadêmico, em especial na área da saúde, há um contexto no qual corpos cadavéricos são submetidos a outro processo após a morte: a instrumentalização. O cadáver é apropriado para servir como ferramenta com fins de ensino teórico-prático em estudos e laboratórios de anatomia. De prisioneiros e pacientes psiquiátricos a corpos não-reclamados, ao longo de toda a história, os corpos disponíveis para estudos de dissecação são majoritariamente populações marginalizadas, cuja obtenção dos corpos era mais uma manifestação da exploração pela classe dominante (Portela, et al., 2023). No Brasil, o corpo negro no estado de cadáver é presença constante em laboratórios de anatomia. Em nome da prática de pesquisa e ensino algo do sujeito é assim apagado. Mas e a vida ali outrora, essa pode ser submissimida? Esse texto objetiva refletir sobre como o corpo, em especial o negro, significa e é representado em existência e em finitude. Quem se importa com a morte — e vida — da população negra? Essa é uma pergunta que nos guia nesta reflexão.
A obra cinematográfica “M8 - Quando a Morte Socorre a Vida”, dirigida pelo Jeferson De, foi lançada em 2020 e retrata a vida do Maurício, interpretado pelo Juan Paiva, jovem negro e periférico que recentemente ingressou no curso de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ainda na primeira aula de anatomia no curso, Maurício é apresentado à M8, cadáver de corpo negro que está presente na sala com finalidade de ensino. O protagonista se vê sensibilizado por M8 devido à posição sujeito que ambos ocupam enquanto corpos negros em uma sala de aula de uma turma de medicina, enquanto corpo negro vivo e corpo negro morto. O desejo pela busca da identidade do M8 aflora como forma de, através da morte, explorar o afeto e a empatia. A posição discursiva assumida na obra permite uma reflexão sobre o filme que discuta a desumanização do corpo negro em vida e na morte, além da instrumentalização do cadáver humano, sobretudo negro, que transita involuntariamente entre os estatutos de pessoa, coisa e mercadoria (Neves, 2017).
A proposta deste artigo se situa no campo da Análise do Discurso materialista a partir dos pressupostos teóricos desenvolvidos por Michel Pêcheux, na França, e introduzida ao Brasil por Eni Orlandi. Aqui, compreende-se a ideia de que o discurso é uma prática de significação e determinado pelas condições históricas e sociais de condição de produção. Conforme proposto por Pêcheux, pretende-se abordar o papel da memória enquanto a partir da discussão sobre as “condições na s quais um processo histórico é suscetível de vir a se inscrever na continuidade interna, no espaço potencial de coerência próprio de uma memória”, compreendendo-se a memória como ordem de discursividade e do simbólico. O corpus deste estudo foi composto por uma amostra de cenas oriundas da obra cinematográfica “M-8: Quando a Morte Socorre a Vida” (2019), dirigida pelo diretor Jeferson De., e estrelada por Juan Paiva. Os segmentos discursivos foram selecionados a partir do contexto de sua produção.
Foi descrito o funcionamento discursivo do material para análise, considerando-se que o sentido do discurso é efetivado a partir da posição-sujeito e das condições de produção, sendo a manifestação das relações entre língua e ideologia (Orlandi, 2020). O arquivo criado para análise é composto de 3 de segmentos discursivos selecionados em diferentes cenas do filme.
Para tal reflexão, propõe-se uma análise que reflita a relação entre sujeito, história e língua. Objetiva-se a compreensão da formação discursiva na qual se inscrevem discursos sobre o corpo negro, a posição sujeito que ele ocupa, tanto em vida quanto na morte, e as suas formações imaginárias, conforme proposto por Orlandi (2020, 2022). O percurso metodológico será feito a partir da criação de recortes do filme que irão compor a criação de um arquivo com segmentos discursivos selecionados. A partir da análise discursiva do filme, é pretendido ampliar a compreensão sobre as representações e (res)significações de (cor)po cadavérico, sob a perspectiva do protagonista do filme, Maurício.
Damos destaque à primeira cena selecionada de nosso material de trabalho. No filme, ela se desenvolve no percurso entre a Universidade e a casa de Maurício, onde encontra diariamente uma manifestação de mães negras cujos filhos estão desaparecidos. Após o contato com o M8 em suas aulas de anatomia, um dia, Maurício resolve ir à manifestação para tentar encontrar mais informações sobre a identidade do cadáver. Ao se deparar com uma das manifestantes, ocorre o seguinte diálogo:
Mães em coro: Queremos nossos filhos! Queremos nossos filhos!
Maurício: Posso dar uma palavrinha com a senhora? Coisa rápida.
Manifestante: Pode! Claro.
Mauricio: A pergunta pode parecer um pouco estranha, mas cê tem foto do seu filho?
Manifestante: Por quê? Você viu ele em algum lugar? Ele tá preso? Tá no hospital? Pode falar meu filho, eu já tô preparada pra qualquer coisa.
Maurício: O rapaz que eu vi, ele tava morto
Manifestante pega a foto do filho
Manifestante: Esse aqui é o meu filho, Rubinho. Quando ele sumiu, tinha acabado de passar no vestibular pra educação física.
Maurício: Não é ele não.
Manifestante: Mas pode ser de outra mãe. Meninas, venham cá, junta aqui que esse rapaz ele pode ter visto um dos nossos filhos.
Nesse segmento, observa-se um grupo de mães negras manifestantes, portando cartazes de protesto e camisetas estampadas com os nomes e rostos de seus filhos. Em uníssono, elas gritam com força: “Queremos nossos filhos! Queremos nossos filhos!”. A opção pelo plural da frase não apenas reflete a dor individual, mas também fortalece a ideia de que a luta é coletiva, unindo todas as mães em busca de justiça para seus filhos. Nesse aspecto, tem-se a integração de identidades das mães manifestantes em níveis individual e coletivo, ambas construídas de forma inter-relacionada, dada a posição ideológica no processo sócio-histórico no qual os sujeitos estão inseridos (Orlandi, 2020). Há que destacar também, pelo efeito metafórico, o deslize no processo de formulação do sentido: de rapaz (algo genérico) para filho (que também pode ser genérico, mas, no diálogo, é revestido pelo processo de filiação, identificação e memória).
A produção de sentidos do discurso das mães inicia-se antes da fala, na composição homogênea do grupo por mulheres negras periféricas, o que direciona os gestos de interpretação do espectador para o que será dito, de acordo com o pré-construído que circula sobre tais grupos. A coletividade construída reforça a ideia de que o desaparecimento de jovens negros no Rio de Janeiro é um fenômeno recorrente, indicando a presença de um problema social e estrutural para o qual as mães se unem a fim de encontrar não somente os seus próprios filhos, mas de toda a comunidade ali existente.
Na sequência da cena, Maurício, que vem observando o grupo de manifestantes, opta por um contato direto com o grupo, direcionando-se para a manifestante que porta um megafone para maior projeção vocal. Durante o diálogo, ao ser questionada se possui uma foto do filho, a manifestante, que se apresentou de maneira receptiva, muda o seu semblante para preocupação, ato reforçado por sua fala “Por quê? Você viu ele em algum lugar? Ele tá preso? Tá no hospital?”. A mãe indica o desejo por encontrar seu filho, mas a fala ele tá preso? tá no hospital?, aponta para cenários negativos acerca do paradeiro do jovem, mas que, dada as vivências frequentes de jovens negros na sociedade brasileira, tornam-se possibilidades cogitadas pela mãe.
A frase é complementada por pode falar meu filho, eu to preparada para qualquer coisa. Durante o diálogo das personagens, pode-se observar o funcionamento da antecipação nas condições de produção do discurso, sendo uma incorporação que a falante faz de dois lugares ao mesmo tempo, projetando hipoteticamente as imagens feitas do lugar do interlocutor e vice-versa (Zoppi-Fontana, 2012). A mãe, abalada emocionalmente pelo contexto no qual se encontra, ao se deparar com um sujeito que solicita a foto de seu filho, antecipa que o encontro pode-lhe trazer uma informação negativa, incluindo a morte de seu filho, assuntos sob os quais ela já vem refletindo e se preparando para ouvir.
A violência com a população negra no Brasil também ocorre na esfera do simbólico. A mãe negra, diante do desaparecimento de seu filho, vivencia o processo de luto pela ausência dele, contemplando diversas possibilidades acerca de seu paradeiro, como hospitalizações, encarceramento ou a morte. A dor vivenciada pela mãe não reflete o que aconteceu com seu filho, mas o que pode ter acontecido; é o sofrimento gerado pela incerteza, pela ausência de respostas claras e pela imaginação de cenários cruéis, que agravam ainda mais o peso da perda. Esse sofrimento se intensifica pela impossibilidade de um fechamento, já que a mãe se vê consumida por especulações, sem poder lidar com a realidade de um luto resolvido, o que torna a espera por respostas um sofrimento contínuo.
Ao apresentar a foto do filho, a manifestante fala “Esse aqui é o meu filho, Rubinho. Quando ele sumiu, tinha acabado de passar no vestibular pra educação física”, e o que era até então um desaparecido inidentificável, torna-se um sujeito jovem com um futuro interrompido. Assim como M8, a ideia por trás de “jovens desaparecidos” contribui para a construção de um ser despersonalizado, cuja existência limita-se a um mistério. Entretanto, a partir do relato da mãe, o indivíduo é humanizado para o espectador, que simpatiza com o seu relato, desde o apelido no diminutivo, remetendo a uma forma carinhosa de tratamento, à ênfase na recém-aprovação no vestibular, exibindo dedicação com os estudos e objetivos para o futuro. A possibilidade de Rubinho ser M8 faz o cadáver transitar entre objeto e sujeito, fazendo com que o espectador tenha um olhar mais humanizado sobre ele.
O segmento destacado para a cena é finalizado com a fala: “Mas pode ser de outra mãe. Meninas, venham cá, junta aqui que esse rapaz ele pode ter sido um dos nossos filhos”. O termo nossos filhos é utilizado novamente pela manifestante, mas agora adquire uma dimensão ampliada. Após mostrar a foto de seu filho para Maurício, a manifestante tem a certeza de que o jovem visto morto não é seu filho. No entanto, ela mantém o uso de nossos filhos em seu discurso. Embora, no âmbito individual, o jovem não seja seu filho, no contexto coletivo, encontrar o filho de uma mãe assume um significado profundo e compartilhado por todas. A maternidade, nesse caso, é entendida como uma prática no plano simbólico, que abrange um conjunto de valores e sentidos que transcendem a experiência biológica, refletindo uma relação de solidariedade e empatia entre as mães.
O segundo recorte selecionado apresenta um diálogo entre Maurício e o professor, no qual o estudante, já sensibilizado por suas vivências na Universidade e nas aulas de anatomia, expressa o desejo por velar o corpo do M8. O segmento destacado para análise está exposto a seguir.
Maurício: Eu não tô tentando convencer o senhor de nada, eu só gostaria de enterrar um dos corpos.
Médico: Maurício, eu entendo o seu pensamento, o seu envolvimento, mas infelizmente, eu não posso fazer nada. Aqui eu sou apenas um professor.
Médico: A universidade tem um procedimento, depois de estudados os corpos são encaminhados à vala comum da prefeitura. Seria um absurdo eu dentro do departamento eu ir contra o protocolo
Mauricio: Quantos alunos negros o senhor já teve nessa faculdade?
Médico: Como é que é?
Mauricio: E quantos corpos negros o senhor já viu os seus alunos estudarem?
Médico: Isso não tem nada a ver.
Maurício: O senhor não acha isso estranho professor?
Médico: Mauricio, infelizmente não existe a possibilidade de eu fazer nada, não existe a possibilidade de devolução dos corpos, é uma situação protocolar, certo?
Médico: Filho, se tiver alguma coisa que eu puder fazer por você, me procura, por favor.
Durante a discussão, o professor está vestindo jaleco em seu escritório. Ao longo da história, a vestimenta representativa da classe médica passou por muitas alterações, até chegar no que hoje é simbolizado pelo jaleco branco. Os médicos que atendiam pacientes durante as epidemias de peste na Europa, eram caracterizados pelo uso de vestimentas de couro preto que cobriam todo o corpo, além de luvas e uma máscara no formato de bico de pássaro para guardar mantimentos que os impediam de respirar o ar contaminado dos doentes (Tubino, Alves 2009). A partir do avanço dos estudos sobre infecções e a medicalização da Medicina, esta passou a adquirir um caráter mais científico, apropriando-se do jaleco branco, traje comum entre profissionais de laboratório e cientistas, para torná-lo sua veste oficial, associando-se à cor branca que representava sabedoria, pureza e humildade como forma de suscitar confiabilidade e respeito (Malheiro, Almeida, Oliveira 2020; Tubino, Alves 2009).
Ainda que o jaleco branco seja um Equipamento de Proteção Individual (EPI), com uso indicado para garantir segurança e diminuir os riscos de contaminação, no filme, o professor utiliza o jaleco em ambientes nos quais não seria necessário o seu uso. Na construção da personagem do professor tem-se o funcionamento de uma cenografia discursiva que produz efeito de cientificidade, sendo composta não somente pelo jaleco branco, mas também pela interpretação por um homem branco idoso, figura comumente associada à imagem de médicos competentes (Orlandi, 2022).
No diálogo com o aluno Maurício, quando o professor diz “Maurício, eu entendo o seu pensamento, o seu envolvimento, mas infelizmente, eu não posso fazer nada”, cabe destaque para o uso do pronome seu, o que marca e distingue as formações discursivas de ambos os sujeitos do discurso. Quando o professor ressalta seu pensamento e seu envolvimento, ele indica que não compartilha do mesmo posicionamento que Maurício, e gera um distanciamento entre as suas ideias. Nesse segmento, é possível observar o funcionamento de formações imaginárias interferindo nas condições de produção do discurso (Orlandi, 2020). O professor, que observa a posição sujeito ocupada por Maurício enquanto um jovem negro na Universidade, entende o seu posicionamento sobre o referente cadáver, mas distancia-se dos ideais do jovem.
O questionamento de Maurício ao professor em “Quantos alunos negros o senhor já teve nessa faculdade?” e “E quantos corpos negros o senhor já viu os seus alunos estudarem?” abre reflexão para discutir-se o papel que um jovem negro ocupa em uma faculdade de medicina. A relação entre a quantidade de negros vivos que frequentam uma turma de medicina e a quantidade de cadáveres negros que estão nas mesmas salas aponta para um quadro estrutural de racismo que impacta negativamente na vida — e morte — da população negra. A objetificação do corpo negro transcende a vida e se perpetua até mesmo após a morte, na qual o cadáver, corpo instrumentalizado, é visto como algo que ocupa somente a posição de servir aos outros. O indivíduo é desumanizado e tem a sua identidade inquestionada refletindo um ciclo contínuo de exclusão e invisibilidade desses corpos, majoritariamente negros, nas esferas do saber acadêmico, onde as suas contribuições são silenciadas.
Esse tratamento reflete uma visão histórica e estrutural, onde os corpos negros sempre foram tratados como recursos disponíveis para a exploração e para o benefício de outros, sem que se leve em consideração a dignidade e os direitos das pessoas negras enquanto vivas ou após a sua morte. A presença constante do corpo negro nesses contextos não é apenas uma questão de apropriação do corpo físico, mas uma extensão da desumanização histórica que se reflete em todas as esferas da sociedade, incluindo a medicina e a educação.
Na última fala do professor, “Se tiver algo que eu possa fazer por você, filho”, ele se coloca na posição de alguém que oferece apoio ao aluno negro, que ali cursando medicina, mas não estende os seus cumprimentos para auxiliá-lo em relação ao cadáver. O corpo, nesse contexto, é tratado como algo de importância inferior, que não possui relevância o suficiente para ser discutido. Ele ocupa um lugar subumano, não sendo digno de consideração ou preocupação. A ausência de um olhar mais sensível ou humano para o cadáver revela a desvalorização do sujeito, que após a morte, torna-se sem dignidade ou reconhecimento de sua humanidade.
Na última cena selecionada, e também última cena do filme, Maurício pega o corpo do M-8 do laboratório, com ajuda de amigos e dos funcionários negros da instituição, e direciona para o cemitério. Ao sair do carro da funerária, o corpo é recebido pelas mães que faziam parte da manifestação para uma despedida.
Manifestante: Vai com Deus, Mateus.
Ao fundo, vozes das outras mães: “André, adeus!”, “Vai com Deus, Isis”, “Tchau Fábio”, “Vai com Deus Douglas”, “Vai com Deus Danilo” “Descanse em paz” “Vá em paz meu filho” “Que Deus lhe proteja”
A cena de encerramento do filme oferece uma reflexão sobre o significado do corpo e do rito de velório no contexto da experiência de mães que perderam seus filhos. Ao abordar o velamento de M8, é possível perceber como o corpo, embora fisicamente presente, assume uma nova dimensão simbólica para as mães. O corpo de M8, apesar de ser apenas uma representação física, torna-se a despedida final para o filho perdido. Ao se despedirem, as mães não estão diante do corpo físico de seus filhos, mas de algo que simboliza a partida deles.
O rito de velório, como um ritual cultural e religioso, insere o corpo de M8 na esfera do simbólico, ele se torna não somente uma representação do filho que se foi, mas também de uma sociedade que continuamente nega a humanidade de seus filhos negros. A luta das mães por encontrar seus filhos cujos sonhos foram interrompidos contraria um sistema que, em sua essência, trata o corpo negro como algo descartável e menos humano. Esse momento também reflete a ideia de que, apesar de aceitar o destino triste e injusto de seus filhos, as mães tentam restaurar alguma forma de dignidade a eles, afirmando sua humanidade através de uma despedida humanizada que por meio do afeto e da memória cultivam em vida a presença de sujeitos que faleceram. A ação de velar o corpo de M8, e simbolicamente o de seus filhos, pode ser uma tentativa de afastar o ciclo de violência, desumanização e opressão contínua que persegue os corpos negros em vida e a morte. O rito, portanto, não apenas simboliza o fim de uma vida, mas também a luta contínua contra uma estrutura de morte social e simbólica imposta àqueles corpos.
3. Considerações finais
O reconhecimento de ser humano enquanto uma construção social, simbólica e discursiva, já que somos seres de linguagem, implica compreender que a identidade humana não é algo intrínseco ou imutável, mas sim uma realidade que é construída pelas relações culturais, históricas, linguísticas e políticas em que estamos inseridos. Como bem expressou Orlandi (2021, p. 99), “o acontecimento do significante” no homem é o que lhe possibilita a assunção a sujeito, sujeito de linguagem. A noção de humanidade é determinada por questões de poder e de pertencimento, que exclui e marginaliza aqueles que não são reconhecidos como dignos perante um grupo. Nesses processos de segregação, é a identidade branca que irrompe como o espaço tradutório que racializa corpos e determina destinos. O corpo negro é assim apropriado, instrumentalizado, analizado, desumanizado. Diante de narrativas que tentaram por séculos inferiorizar corpos negros, tem-se um cenário social no qual o seu naturalizou-se o reconhecimento de seus corpos como objeto para exploração. Tanto em vida quanto em morte, os corpos negros foram tratados como recursos, sujeitos à exploração, violência e desumanização, enquanto suas identidades foram constantemente negadas ou distorcidas.
Essa abordagem amplia a compreensão sobre a relação entre vida e morte, e sobre o papel da educação no reconhecimento da humanidade no outro, propondo que a luta por justiça, respeito e igualdade é contínua e fundamental. A humanização do outro, como o filme nos propõe, também representa um processo de auto-humanização, no qual o protagonista, Maurício, ao olhar para os corpos cadavéricos com empatia e respeito, entende que esse reconhecimento da dignidade do outro é também uma forma de reconhecer e afirmar a sua própria humanidade.
Maurício e M8 representam duas possibilidades distintas, mas interconectadas, para o corpo negro na medicina, simbolizando tanto a vida quanto a morte dentro do contexto da formação e da prática médica. Por um lado, Maurício, enquanto personagem vivo, encarna a trajetória de um indivíduo negro em busca de reconhecimento e dignidade dentro de uma estrutura acadêmica e profissional muitas vezes marcada por desigualdades. Sua presença na medicina, um campo historicamente dominado por elites brancas, desafia as representações convencionais que frequentemente associam os corpos negros à marginalização e à subordinação. Como futuro profissional da saúde, carrega consigo não apenas o peso de sua identidade, mas também a responsabilidade de mudar a maneira como os corpos negros são vistos e tratados dentro dessa área. Sua busca por respeito e humanização na medicina reflete a luta constante para conquistar um espaço em um sistema que, por muitas gerações, os desconsiderou.
Por outro lado, M8, o corpo morto, representa o outro extremo dessa realidade. O cadáver negro, dentro do contexto da medicina, é frequentemente reduzido a um objeto de estudo, um corpo sem história, sem identidade, que serve como instrumento para a formação de futuros médicos. No entanto, ao longo do filme, o corpo de M8 adquire uma nova significância, torna-se a esperança de que um dos jovens desaparecidos retornaria ao lar para se despedir da família.
Esses dois corpos, vivos e mortos, são uma metáfora das diferentes maneiras como o corpo negro tem sido tratado na medicina. Enquanto Maurício representa a luta pela humanização e pela inserção do corpo negro no campo da saúde como sujeito ativo e agente de mudança, M8 ilustra o tratamento objetificado e desumanizado a que esses corpos foram, e muitas vezes ainda são submetidos. O enredo, ao trazer essas duas representações, propõe uma reflexão sobre como o corpo negro é tratado em vida e na morte, convidando os espectadores a questionarem as práticas de desumanização que continuam a ocorrer nas instituições médicas e em outras esferas da sociedade.
Maurício e M8 não são apenas figuras individuais, mas representam dois aspectos complementares e complexos do corpo negro na medicina: um sujeito em busca de seu lugar em um sistema desigual e um corpo que, embora morto, ressurge como elemento de reflexão, aprendizado e resistência. Ambos desafiam as narrativas históricas que reduziram os corpos negros a objetos e os posicionam, de maneira simbólica, como agentes ativos na construção de uma medicina mais humana, ética e justa.
Referências:
ACHARD, Pierre. Memória e produção discursiva do sentido In: ACHARD, P. et al. (Org.) Papel da memória. Tradução e introdução José Horta Nunes. Campinas: Pontes, 1999.
BARBAI, Marcos; SOUZA, Pedro de. Luto e Lamento: levantar a voz, cantar aos mortos. In: SCHERER, Amanda Eloina et al (org.). Restos de horror. Campinas: Pontes, 2022. p. 343.
Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS. [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/humanizasus. Acesso em: 12 fev. 2025.
NEVES, M. F. DE A. Entre pessoa, corpo e coisa: a vida social de cadáveres em laboratórios de anatomia. Antropolítica - Revista Contemporânea de Antropologia, v. 1, n. 40, 14 abr. 2022.
ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. 13. ed. Campinas, SP: Pontes, 2020.
ORLANDI, Eni P. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001.
RIOS, Izabel Cristina. Humanização: a essência da ação técnica e ética nas práticas de saúde. Revista Brasileira de Educação Médica, [S.L.], v. 33, n. 2, p. 253-261, jun. 2009. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0100-55022009000200013. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbem/a/LwsQggyXBqqf8tW6nLd9N6v/?lang=pt. Acesso em: 10 fev. 2025.
PEREIRA, José Carlos. Procedimentos para lidar com o tabu da morte. Ciência & Saúde Coletiva, [S.L.], v. 18, n. 9, p. 2699-2709, set. 2013. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232013000900025. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-684678. Acesso em: 09 fev. 2025.
PORTELA, Flávio Luis Dantas; SILVA, Caroline Alfaia; SOARES, Paula Gomes; VAL, Vitor Monteiro do; BYK, Jonas; MAIA, Maiko Ramos. Ética do uso de cadáveres humanos para ensino de anatomia. Revista do Hospital Universitário Getúlio Vargas, [S.L.], p. 1-9, 25 jul. 2023. Hospital Universitário Getulio Vargas. http://dx.doi.org/10.60104/revhugv13236.
ZOPPI-FONTANA, M. Autoria, efeito-leitor e gêneros discursivos. Livro-texto. Curso de Especialização em Língua Portuguesa, UNICAMP/REDEFOR, Sec. de Educação do Estado de São Paulo, 2012.
Data de Recebimento: 28/03/2025
Data de Aprovação: 25/04/2025