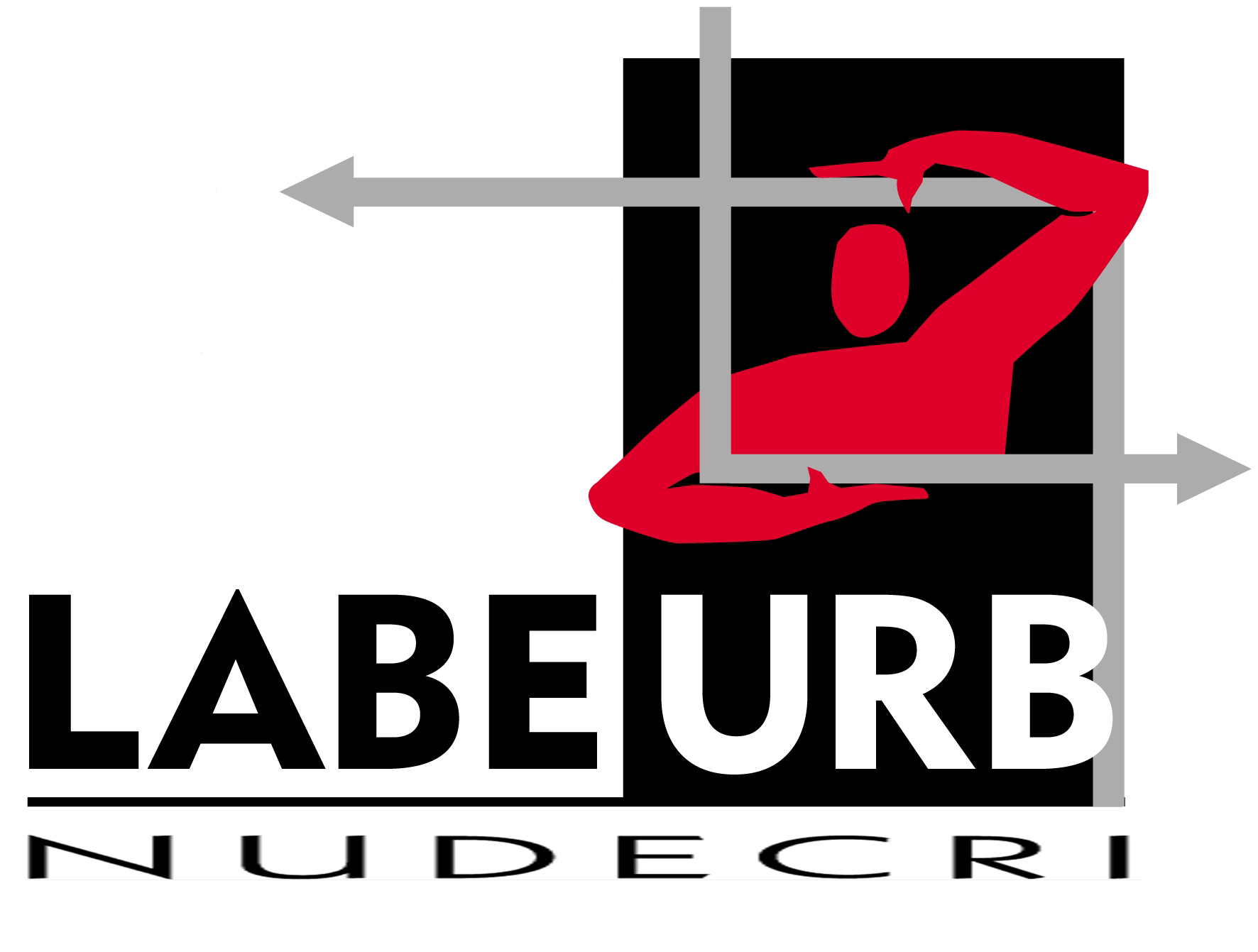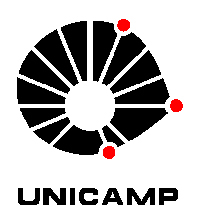A rua, a loja e a floresta: Metáforas do Ciclo da Borracha em Pará, Capital: Belém (200


Wellerson Bruno Farias dos Reis
César Augusto Martins de Souza
Ximena Antonia Diaz Merino
Introdução
A economia brasileira historicamente passou por alguns ciclos, como o do pau-brasil no início do período colonial; da cana-de-açúcar no Nordeste, entre os séculos XVI e XVII; posteriormente, com a eclosão do ciclo do ouro no Sudeste; seguido pelo do algodão, impulsionado pela Revolução Industrial, até a chegada da “estação” do café no século XIX, tendo sua predominância no estado de São Paulo. Períodos importantes, responsáveis pelo crescimento da economia e desenvolvimento do país.
Além desses, outro que contribuiu para o desempenho estatal, tido como o sexto ciclo, centrou-se no norte do Brasil durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. A borracha deu à Amazônia um protagonismo ainda não experimentado por e nesta região, e, assim como os demais, trouxe desenvolvimento e riquezas para suas cidades, principalmente. Sendo, pontualmente, este o objetivo deste artigo, elucidar os feitos do Ciclo da Borracha na capital paraense, porém, por meio de metáforas ao usar da Rua dos Mercadores, da loja Paris N’América e os seringais.
Nessa perspectiva, esses três pontos nortearão o estudo a sugerir, respectivamente, um panorama histórico-social dos feitos e efeitos do período correspondente ao Ciclo da Borracha e, por consequência, a Belle Époque amazônica. Destacam-se nesses campos primeiramente por ser a Rua dos Mercadores – por muito tempo – porta de entrada do comércio de Belém; a Paris N’América pela sua representatividade arquitetônica e também cultural ao estilo da época e, por fim, os seringais para evidenciar de modo comparado, seguindo os estudos de Carvalhal (2006), os “embates” e contrastes que há entre os dois primeiros e este último, seguindo assim uma discussão por meio de metáforas e alegorias, a espelho de Walter Benjamin (1984) e Flávio R. Kothe (1986).
Para este propósito, em um estudo sobre o tempo e lugares, a partir de obras literárias, se elege a antologia de Haroldo Maranhão, Pará, Capital, Belém Memória e Pessoas e Coisas e Loisas da Cidade (2000), como corpus justamente por nela o autor, que é paraense, elencar inúmeros excertos de textos outros narradores da história de sua cidade capital. Em específico, usa-se o capítulo “A opulência. O esplendor. O fastígio” para expressar por meio de documentos a importância que esse período representou para Belém e, consequentemente, para as demais capitais da região amazônica.
Para mais, além de Maranhão, estudiosos como Maria de Nazaré Sarges (2002), Ana Maria Daou (2004), Roberto Santos (2019), Márcio Souza (2019), Aldrim Figueiredo (2012), Alexei Bueno (2014) e Luiz LZ Santos (2018) contribuem para as inferências acerca do referido ciclo econômico, cultural e social feitas neste artigo. Período esse importante para a história do Norte do Brasil, sendo essa, então, a justificativa para a atual produção, uma vez que, quando se discute – a nível nacional – aspectos e influências econômicas, pouco se fala nesta região e em seus feitos monetários, desabono influenciado por estereotipias vigentes a respeito da Amazônia.
Outrossim, para embasar questões como a relação do espaço para a história, usa-se da Poética do Espaço (1993), de Gaston Bachelard, pois, ainda que a antologia em questão trate, em sua maioria, de memórias, no entanto, somente ela (a memória) não “reanima” questões discutidas neste artigo, sendo então “revividas” através do espaço (da Rua dos Mercadores, da loja Paris N’América e dos seringais).
Assim sendo, as inferências produzidas neste artigo também pairam sobre a visão da teórica Ecléa Bosi (2003), que diz que cada um tem o que contar sobre algo ou alguma coisa de sua cidade, sendo então um exercício seguido por Maranhão ao registrar partes da história de Belém em sua antologia. Prática que, consequentemente, se segue com este estudo, uma vez que se escolhe um período específico para se contar e reafirmar coisas a seu respeito e, principalmente, ao campo-cidade que os sediaram.
A rua, a loja e os seringais: a metáfora de um tempo
O champanhe espoucava nos bares,
e os comerciantes donos de seringais opulentos
e corredores de negócio, exibiam jóias caras
que cintilavam às luzes.
Era assim, como reflexo longínquo de Paris –
Luxo, mulheres e música!
(Haroldo Maranhão)
A antiga Rua dos Mercadores, no centro de Belém, na segunda metade do século XIX, exemplificava os efeitos do Ciclo da Borracha, o qual trouxe ao Norte do Brasil um sentido de Belle Époque. Foi um período de prosperidade na economia, pois nunca a região Norte do Brasil ensaiou algum protagonismo no cenário nacional. Com isso, houve um fortalecimento nas infraestruturas das cidades da Amazônia e, de igual forma, um enriquecimento cultural e artístico nas capitais, além de grande importação de artigos, sobretudo europeus, bem como Sarges (2002) pontua. Tudo isso em face do Boom da Borracha.
No entanto, a Amazônia não apenas importava, mas exportava em massa seus produtos, como cacau, fumo, as drogas do sertão e, principalmente, o látex. Na obra analisada neste texto, conta que “Gaba-se o Pará de primar sobre todas as outras cidades do Brasil quanto ao número de artigos de exportação, e, de fato, montam a não menos de 40” (Maranhão, 2000, p. 128). Esse movimento, por sua vez, só foi possível a partir da abertura do Rio Amazonas, que garantiu o escoamento e negócios da região Norte. Belém, então, se mostrou vantajosa e, com esta política, foi favorecida, a julgar principalmente por sua localização.
Estas palavras retratam a função comercial de Belém, que, graças à sua posição geográfica centralizava o escoamento da produção do sertão amazônico, ali chegava através dos barcos a vela (canoas), animando as ruas da capital, que, então não dispunha ainda de porto organizado, pois que a embocadura do Piri, no seu lado direito, só possuía uma rampa, conhecida como ponta de pedras, onde atracavam as embarcações fluviais; as de maior porte e destinadas ao tráfego marítimo, já que se exportava diretamente do Pará para Portugal, Grã-Bretanha, Índias Ocidentais, França, Holanda e América do Norte, ficavam ao largo no Guajará. (Penteado, 1968, p. 117).
A função comercial de Belém, descrita por Penteado (1968), muito se deve ao potencial de suas águas, elemento característico e importante desta região do Brasil. São, primeiramente, pelas águas que a cidade de Belém nasce, momento que Alfredo Oliveira (2015, p. 23) narra: “A noite baixou – imensa lagarta negra se arrastando sobre as águas do rio. Não demorou, surgiram as luzes de Belém. A ‘Santa Rita’ atracou no Porto do Sal”. Haroldo Maranhão (2000, p. 117) também registra isso, que “a cidade nasceu, por assim dizer, sob o signo insular. De uma ilha veio a expedição fundadora; ‘ilha’, consideravam os fundadores o sítio onde ela se edificou”.
Ele é mais que um escritor, é um sujeito ativo na vida cultural de Belém e que se colocava em diferentes espaços, como atuando em revistas e associações literárias, pensando e discutindo sobre os problemas e memórias da cidade, mas também como um pensador dos espaços urbanos e de seus diferentes significados.
Desse modo, nota-se a importância, tanto para a literatura quanto para a história e geografia, de que esse elemento é constante na vida e no cotidiano da cidade. Além deles, Ana Maria Daou (2004, p. 8) diz que “[...] embora eu procure mostrar que muitas das transformações que caracterizam o período são anteriores ao comércio deste produto. Aqui se entrelaçam os rios da grande bacia do Amazonas – identificadas com os dois ideais liberais e com a crença no progresso”. Uma visão típica desta região que ela reafirma.
O vapor leva as novidades às capitais, cidades que, na Amazônia, assumem redobrado valor como locus da atividade civilizatória. Em Belém e em Manaus, as elites se esforçaram por impor, pelas reformas urbanas, os sinais do conforto material e do progresso facilitados pelos negócios da borracha. O rumo das águas e o vapor favoreceram, igualmente, a internalização das redes do mercado internacional e o acesso aos recônditos seringais, também pontos de chegada de navios, embarcações menores e mercadorias (Daou, 2004, p. 11).
Dessa forma, por as águas “serpentearem” as regiões da Amazônia, há um sentido de oportunidade em suas ribeiras e vilas, nas áreas mais modestas, e também nas mais “pretensiosas”, tal como ocorreu com o mercado Ver-o-Peso e suas proximidades, chegando até a Rua dos Mercadores, hoje nomeada como Rua Conselheiro João Alfredo. Desse modo, a analogia feita a este último não seria por acaso, pois, segundo Wallace:
A arterial principal é a “Rua dos Mercadores” onde encontram quase todas as boas lojas da cidade. As casas, na maioria, só tem um pavimento, e as lojas, com todas as suas portas sempre abertas na frente, são conservadas limpas e esmeradamente arrumadas, tendo de preferência um variado sortimento de mercadorias. Aqui se encontram, de quando em quando, trechos de calçada, de poucas jardas de extensão, porém tão poucos, que servem apenas para tornar a vossa caminhada sobre ásperas pedras, ou profunda areia, mais desagradável por comparação. As outras ruas são todas muito estreitas (Wallace, 2004, p. 40).
Penteado (1968, p. 117), assim como Wallace, descreve a importância desta rua não só para Belém, mas para a região Norte: “Suas lojas, graças ao sortimento variado de mercadorias, eram verdadeiros magazines, o que, por certo, atendia às necessidades não só de Belém, mas de toda a Amazônia”. Maranhão (2000, p. 156) diz também que “Na principal artéria de comércio de Belém existiam (...) casas importantes, como ‘A Torre de Malakoff’, a ‘Casa Pekim’, ‘Aux Mines d’or’, ‘Notre-Dame de Paris’, ‘O Maltez’, a ‘Casa Aguiar’, [...] O bazar fazia boa renda”. Descrições que evidenciam a influência da Belle Époque, ajudada pelos lucros do extrativismo do látex.
Por este ponto, a visão que se tem, a julgar pela pluralidade e movimentos nesta rua, é a mesma construída por Ecléa Bosi (2003, p. 202), ainda que esta descreva a cidade de São Paulo, porém alegoriza muitas outras. Ela diz que este é um exercício importante e uma prática que enriquece o subconsciente quando se percebe e se registra os movimentos e sons das ruas. Ela diz que “Podemos gravar a trilha sonora de uma rua durante 24 horas. Desde a primeira janela que se abre de manhã, a vassoura na calçada, as portas das lojas que se erguem, os passos de quem vai para o trabalho, conversas antigas”. Assim sendo, esta é uma dinâmica corriqueira, a qual é, muitas vezes, imperceptível, principalmente pela normalidade que há nos atos listados por Bosi.
Para mais, acerca do movimento e das variedades de lojas na Rua dos Mercadores, Luiz Cesar Santos (2018) a apresenta como flâneur.
Como dissemos, a Rua dos Mercadores era uma artéria principal do comércio de Belém. Nela, encontramos outros tipos de estabelecimentos comerciais, como o Deposito de Pianos de Francisco Ferreira da Ponte, a Loja Judia, a Casa Havanesa, o Deposito de Machinas de Costura White, a loja de fazendas e miudezas A Deusa da Abundancia, a Chapelaria de M. J. da Costa e Silva, o Bazar de Modas Esmeralda, a loja do Braga Barateiro, a Loja Filial, a Casa da Fortuna Esmeralda, a Fabrica de Mallas e Calçados Monteiro & Irmão, o Grande Hotel Gibralta, a Fabrica de Chapas Metálicas José Booth, a Casa Importadora Le Grand Louvre, o J. Castellan Alfaiate de Paris, a loja de presentes a Phellipina, o cabelereiro de Paris Louis Olivier, a Loja de Calçados Regal e o depósito da Casa Engelhard, que vende de “machinas de escrever Pittsburg-Visivel” ao “Apparelho-Tanque Kodaks” para revelação de fotografias (Santos, 2018, p. 29).
Corroborando com essas imagens, Sarges (2002, p. 163) vem dizer que Belém estava “dominada por um francesismo, especialmente no aspecto intelectual, que ressaltava a ligação da cidade com as principais capitais europeias”, ora fosse pela dependência financeira e comercial com a Inglaterra, ora por uma relação cultural intensa com a França. Ademais, afirma ainda que essa ligação, sobretudo cultural, só existiu após a criação do “Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, quando um dos seus membros – Januário da Cunha Barbosa – enfatizava ao Institut Historique de Paris a influência que a instituição parisiense poderia exercer sobre a brasileira” (Sarges, 2002, p. 159).
Todavia, ainda que Belém seja caracterizada, por vezes, como a Paris n’América, não só a França, mas a Europa em sua maioria desembarcou nas capitais da Amazônia, “curiosa” por sua natureza e, principalmente, com intenções lucrativas. Em vista disso, pode-se dizer que a Alemanha também foi responsável por embasar a formação da identidade da capital paraense deste período, a exemplo das mobílias e decorações das residências das famílias dos seringalistas “exigentes”, tal como registra Haroldo Maranhão (2000)..
Na principal artéria de comércio de Belém existiam (...) casas importantes, como [...] A casa regurgitava de caixeiros-viajantes alemães, gordos e expansivos, louros, que recebiam as encomendas, em vez de num só padrão, estabelecido pelos fabricantes ingleses e franceses – pelo contrário, aceitavam as sugestões dos comerciantes. Por exemplo: conforme os catálogos, as cutelarias, as louças, os brinquedos, os móveis tinham tais e quais feitios. Pois os fregueses não gostavam deles, queriam de outro modo; e os fabricantes germânicos modificavam os modelos. E ainda mais, vendiam a prazo de 90 dias. Em pouco tempo a grande importação no Pará e no Brasil vinha toda da Alemanha. (Maranhão, 2000, p. 156).
No entanto, ainda que as características francesas tenham “tomado” a cidade de Belém pela proximidade e, sobretudo, influência do país perante os demais, haja vista a sua cultura, tendo sua ocorrência principalmente nas artes, na moda, na culinária, estarem em evidência. Resultando assim a classificação do período como Belle Époque, expressão francesa, o que “coroa” o país em face dos demais. É preciso destacar, que para além do grande cronista, Maranhão é também um romancista de grandes trabalhos, se colocando como um intelectual que pensa o Brasil, a partir de um olhar para a Amazônia.
Esse olhar transita, em romances e crônicas, com seu olhar sobre a cidade, problematizando a cidade e, a partir dela, o Brasil. Contudo, como descreveu Maranhão, nos cais da capital paraense não se descarregavam apenas produtos de origem francesa, mas um conjunto de países os quais formavam e desenhavam o estilo daquela Belém.
(...) Os transatlânticos germânicos Rugia, Rhaecia e Rio Negro chegavam periodicamente a Belém abarrotados de carga. Eram louças, pianos, talheres, máquinas, velocípedes, aparelhos de porcelana, candieiros, centros de mesa, artigos de prata elétrica, móveis diversos, espelhos, pratos, copos, panelas, fogões, quadros a óleo, enfim, todos os artigos domésticos (Maranhão, 2000, p. 156).
Nessa perspectiva, a cidade de Belém, além do desenvolvimento em sua infraestrutura, da implantação de novas formas de cultura e do intelectualismo em face da Europa, a economia1 é um ponto importante a se destacar, pois como enfatiza Maranhão (2000, p. 154) “A vida em Belém é relativamente tão barata como nas capitais européias e para a alimentação encontra-se tudo quanto se pode obter em qualquer das grandes capitais do mundo, quer de artigos nacionais, quer estrangeiros, pois até legumes e frutas dos climas frios existem”.
Para mais, em vista da alimentação na Belle Époque amazônica Sarges diz que.
Como a produção de gêneros alimentícios vivia sempre em crise, tornou-se por hábito das elites paraenses consumirem não somente a carne verde vinda do Marajó, mas também uma gama de produtos importados da Europa e dos Estados Unidos como podemos observar nos anúncios dos jornais da cidade. Importavam-se biscoitos champanha franceses, vinagre português, azeitonas portuguesas, vinho portugueses, franceses e espanhóis, manteiga inglesa, sabão americano e até chá de Pequim, e uma série de produtos considerados supérfluos numa cidade em que a maior parte da população não podia comprar sequer o peixe da região, por seu elevado preço no mercado (Sarges, 2002, p. 160).
Desse modo, se elege o campo da Rua dos Mercadores como metáfora dos efeitos do Ciclo da Borracha por entender que este espaço, a espelho dos estudos de Bachelard (1998, p. 126) elucida a poética que há em sua extensão, pois “O imaginário não encontra suas raízes profundas e nutritivas nas imagens; a princípio ele tem necessidade de uma presença mais próxima, mais envolvente, mais material”. Em vista disso, Santos (2018, p. 26) diz que “O Centro Comercial da cidade de Belém era o termômetro do progresso da metrópole da borracha”, ou seja, a dinâmica desta rua infere uma imagem2 representativa do Boom da borracha, sendo sua alegoria por excelência.
Figura de linguagem que Flávio R. Kothe (1986, p. 19) diz ser “um tropo de pensamento, uma ampliação da metáfora, consistindo na substituição, mediante uma relação de semelhanças, do pensamento em causa, do qual aparentemente se trata”. Julgamento feito por meio deste artigo justamente por ser ela, a Rua dos Mercadores, ponto de maior efervescência do comércio da Borracha na cidade de Belém deste período, pois ao usar deste cenário se discute pontos outros, bem como destaca Walter Benjamin (1984, p. 38) “a alegoria diz uma coisa, e significa, incansavelmente, outra”.
Para culminar, uma outra metáfora pode ser feita, a loja Paris N’América, por exemplo, é uma imagem que nessa perspectiva alegoriza de igual forma esse período. A respeito do local, Santos diz que era uma “Casa comercial construída no início do século, toda revestida em cantaria de pedra pré-fabricada, importada da Europa, assim como os demais componentes construtivos” e que durante a Belle Époque “[...] a loja foi [...] ponto de referência da sociedade paraense, sempre com os últimos lançamentos de Paris e das principais capitais europeias (1998, p. 226). Descrição feita também por Maranhão.
(...) Passaram pelo belo edifício de mármore português “Paris N’América”, majestoso, repleto de “voiles” suíços, nas mais belas e finas padronagens. O tafetá, o organdy, a casemira, o linho, entre os quais o famoso H J, os botões de madrepérola, os enfeites, as alamares, as fitas, gaze, crepes – tudo do exterior – havia ali em profusão. Em frente, o ‘Bon Marché’, imenso casarão antigo, importante loja de artigos para homens e para damas no mesmo diapasão (Maranhão, 2000, p.155).
Além disso, a imagem do lugar infere uma comparação entre as cidades e os seringais, o que não seria uma questão abstrata apenas, mas relativa à história e sociologia, arte e sociologia ou literatura e sociologia, bem como Williams (2010) 3discute. Uma questão que se busca ilustrar com as imagens a seguir.
Figura 1 – Loja Paris N’América

Fonte: Belém da Saudade: A Memória da Belém do Início do Século em Cartões-Postais (1998, p. 226)
Figura 2 - Malocas de palha nos seringais

Fonte: No tempo dos Seringais: o cotidiano e a sociedade da borracha (2012).
Em vista dessa questão comparativa, Carvalhal (1991, p. 11) diz que a comparação não se engessa, ou tem um fim em si mesma, pois é, entre outras coisas, um instrumento de trabalho. “Um recurso para colocar uma relação, uma forma de ver mais objetivamente pelo contraste, pelo confronto de elementos não necessariamente similares e, por vezes mesmo, díspares”. Se compara, então, esses dois espaços pela disparidade que há entre eles, diferenças que se mostram nas imagens acima, os detalhes da Paris N’América 4divergem da rusticidade das malocas de palha nos seringais. No entanto, a loja, ainda que um espaço privado, é um dos exemplos dos objetivos das gestões públicas da época.
O embelezamento da cidade resultava de alterações urbanísticas e arquitetônicas estimuladas por uma legislação que procurava modernizar os espaços públicos e dotar de certas características as construções, imprimindo, nas fachadas dos prédios, elegância estética, graciosidade e uma racionalidade condizente com as necessidades de ventilação e higiene exigidas pelo clima. Antonio Lemos, intendente de Belém, em relatório de 2905, comentava, desgostoso, o desequilíbrio estético de parte dos edifícios, sugerindo sua demolição e incentivando o apuro arquitetônico nas novas edificações. O apelo teve ressonância, as restrições se impuseram e, de fato, no cenário urbano de Belém e Manaus do início do século, consagraram-se as fachadas que expressavam a incorporação de novas técnicas. Novos materiais de construção chegavam da Itália, de Portugal e da França, de onde vinham também muitos dos profissionais que cuidaram de executar as alterações de estilo. (Daou, 2004, p. 31-32).
Os efeitos da economia da borracha fizeram das capitais amazônicas, principalmente Belém e Manaus, centros urbanos que se assemelhavam a regiões da Europa, como descreve Mário de Andrade em sua viagem a Belém, cujo registro Maranhão o faz: “Passei ali duas horas inolvidáveis – e nunca esquecerei a surpresa que me causou aquela cidade. Nunca São Paulo e o Rio terão as suas avenidas monumentais, largas de 40 metros e sombreadas de filas sucessivas de árvores enormes”. A capital paraense estava em ascensão em alguns campos, e as mudança ocorriam ligeiramente assim perceptiva em sua estética, pois como é lido na antologia “Não se imagina no resto do Brasil o que é a cidade de Belém, com os seus edifícios desmesurados, as suas praças incomparáveis e com a sua gente de hábitos europeus, cavalheira e generosa. Foi a maior surpresa de toda a viagem” (Maranhão, 2000, p. 342).
Descrições desse tipo fizeram da Amazônia um cartão postal e porta de oportunidades para investidores e grandes empresários, mas também para migrantes e imigrantes que a viam como mudança de vida. Uma oportunidade, principalmente para o retirante do nordeste, que no período vivia uma das piores secas de sua região “[...] catástrofe que fornecerá aos vazios amazônicos a maciça maioria da mão de obra para a extração da borracha, nordestinos, e, entre eles, em proporção esmagadora, cearenses” (Bueno, 2014, p. 27). Migração oportuna para os seringalistas descrita por Souza (2019).
O seringueiro, retirante nordestino que fugia da seca e da miséria, era uma espécie de assalariado de um sistema absurdo. Era aparentemente livre, mas a estrutura concentradora do seringal o levava a se tornar um escravo econômico e moral do patrão. Endividado, não conseguia mais escapar. Quando tentavam a fuga, isso podia significar a morte ou castigos corporais rigorosos. Definhava no isolamento, degradava-se como ser humano, era mais um vegetal do extrativismo. (Souza, 2019, p. 256-257).
Nessa perspectiva, Márcio Souza (2019, p. 253), e de igual forma Adrin Figueiredo (2012)5, discutem outra face do Ciclo da Borracha, ponto este que diverge da ideia de cenários únicos referentes às riquezas desse período. Assim, a dualidade, que é real, percebe-se, todavia não apenas para os seringueiros vindos do nordeste brasileiro, mas de outras regiões e de outros países também, pois “sabemos o quanto era diversificada a origem da mão de obra recrutada para a corte da seringa: além de brasileiros do Nordeste, jovens estrangeiros, norte-americanos, europeus e asiáticos vinham em busca de riqueza”. Contradições que se exprimem em relatos outros também.
Depois de oito semanas na colocação um dos nossos companheiros morreu, um rapaz chamado Andrew Benton; parece que era de Cincinnati. Isso nos deixou com uma terrível impressão, porque ninguém podia me ajudar a enterrar, e eu mesmo estava muito fraco para carregar o corpo e cavar a sepultura. Assim mesmo comecei a cavar, e como não tinha uma pá ou enxada, cavei com meu terçado e com as mãos, um trabalho duro. Consegui fazer um buraco de três pés e aí eu cortei a rede e deixei o corpo cair no buraco, que tapei e consertei o assoalho. (Souza, 2019, p. 253)
Além dessa descrição, Euclides da Cunha, um dos pioneiros a denunciar os crimes dos barões da Borracha, diz que “nas paragens exuberantes das héveas e castilôas, o aguarda a mais criminosa organização do trabalho que ainda engendrou o mais desaçamado egoísmo” (apud, Souza, 2019, p.252). Um sistema escravista o qual prendia seus trabalhadores antes até de chegarem nos seringais, pois com a dívida do transporte, da moradia, da alimentação o sujeito ficava a mercê do patrão, bem como narra Bueno6 e completa Souza (2019).
Para o pobre imigrante. Contra isso, pede “urgência de medidas que salvem a sociedade obscura e abandonada: uma lei do trabalho que nobilite o esforço do homem; uma justiça austera que cerceie os desmandos; uma forma qualquer de homestead que o consorcie definitivamente à terra”. O autor redescobre o seringueiro explorado: “[...] são admiráveis. Vimo-los de perto, conversamo-lo [...] Considerando-os, ou revendo-lhes a integridade orgânica a ressaltar-lhes as musculaturas inteiriças ou a beleza moral das almas varonis que derrotaram o deserto”. Com essa visão crítica, ele passou a ser considerado, pelos coronéis, pobre demente, que não sabia o que dizia numa literatura intricada. A análise e as descrições de Euclides da Cunha quanto ao regime de trabalho imposto aos seringueiros, fruto de observação e vivência, estão perfeitamente documentadas nos diários de um seringueiro. Documentos pessoais escritos por trabalhadores, pelos humildes que viveram na camada mais baixa de sociedades desiguais, como foi o ciclo da borracha na Amazônia, são raríssimos e preciosos. (Souza, 2019, p. 252).
Desse modo, a jornada dos seringueiros na Amazônia, no viés desse artigo, é tida como algo díspar ao que corresponde a uma imagem única do Ciclo da Borracha e Belle Époque. Pois, se a Rua dos Mercadores em Belém alegoriza as riquezas e efeitos positivos, os seringais, não apenas metaforizam, mas descrevem um outro lado desse período, um cenário avesso do apontado por Daou7. Uma disparidade ilustrada pelas imagens abaixo, onde se tem um coreto de estilo europeu, iluminado e no centro da cidade, o que se opõe ao “trabalho esquecido daquele responsável por sua existência”.
Figura 3 - Coreto estilo Belle Époque

Fonte: https://fragmentosdebelem.tumblr.com/
Figura 4 - O seringueiro

Fonte: No tempo dos Seringais: o cotidiano e a sociedade da borracha (2012)
As imagens divergem em alguns aspectos, muito embora os resultados vistos na primeira dependessem, de modo direto, das práticas que se nota na segunda. Ou seja, se a opulência da Belém deste período, descrita por Maranhão, Daou, Sarges, Santos e ademais, é um dado histórico, muito é em função dos trabalhadores da borracha, que por sua vez contrasta com seus próprios feitos. Bem como se nota nas imagens que se assemelham as discussões dos estudiosos ora citados.
Desse modo, haja vista a relevância, tanto das características e efeitos do Ciclo da Borracha para a história e, sobretudo, as denúncias acerca das vivências dos seringueiros na Amazônia para a sociedade, é certo dizer que essas são discussões importantes. Realidades que fazem dessa comparação possível, pois para o estudo comparado “[...] deixa de resumir-se em paralelismos binários movidos somente por ‘um ar de presença’ entre os elementos, mas compara com finalidade de interpretar questões mais gerais das quais as obras ou procedimentos literários são manifestações concretas (Carvalhal, 2006, p. 86).
Portanto, se elege pontos específicos da Belém de um tempo para tais discussões justamente pela sua importância para a história, porém não só da cidade, mas da Amazônia e do Brasil deste mesmo período, bem como se discutiu. Além disso, o artigo corrobora com a ideia de Ecléa Bosi (2003, p. 199) quando diz que estudar o campo de uma cidade é uma vertente e “tema dos mais dignos a serem estudados por militantes políticos e culturais”, pois este “[...] desdobra e alarga de tal maneira os horizontes da cultura que faz crescer junto com ela o pesquisador e a sociedade em que se insere”.
Em síntese, as discussões ocorridas circundam um dos períodos mais importantes da história da região amazônica e animam debates outros, pois, a exemplo dos contrastes que se percebeu a partir dos lugares eleitos pela pesquisa, há outras formas de discuti-los. Assim sendo, as comparações feitas com e a partir da Rua dos Mercadores, loja Paris N’América e os seringais alegorizam diferentes perspectivas existentes em um mesmo tempo e lugar, sendo estes então espaços da borracha.
Considerações finais
Sendo então a metáfora uma figura de linguagem cuja função é usar de um ponto específico para ilustrar algo sobre ele, ou a partir dele – seguindo as perspectivas de Benjamim (1984) e Kothe (1986) – usa-se este mecanismo neste estudo com igual objetivo e funcionalidade. Pois, tendo em vista a semântica dos lugares e dos agentes elegidos nele, se discutiu temas importantes que se contrastam, mas que também sinalizam semelhanças as quais contribuem para a alegorização de um tempo importante para a história da Amazônia, o Ciclo da Borracha.
A Rua dos Mercadores, por exemplo, foi por um longo período a principal via de entrada de produtos os quais contribuíram para a construção e formação da capital paraense. O destaque dado a este espaço neste artigo se deu justamente pela importância que Haroldo Maranhão e outros estudiosos dão a esta rua. Nessa perspectiva, usa-se desse cenário – sendo ele físico – para apresentar o que foi o período do Ciclo da borracha e, por consequência, a Belle époque amazônica. Uma abordagem que seguiu por meio de metáforas.
Em vista disso, pode-se dizer que a rua ganha essa importância por ser estrategicamente próxima do cais da cidade, na época ponto de exportação do látex e outros materiais, bem como importação de produtos e tendências outras também. Contudo, a partir dela se infere, além deste dado histórico e geográfico importante, a relação que Belém e demais cidades da região amazônica têm com as águas. Uma discussão que versou pela funcionalidade que os rios desempenham, mas que de igual forma ilustrou a simbologia que há neles – um cenário abstrato – algo para além do palpável, mas real, visto nas vivências dessa região.
Além disso, foi também via e entrada dos migrantes e imigrantes trabalhadores da borracha. Ponto importante que se discutiu de forma comparada, na perspectiva de Carvalhal (2006), entre a loja Paris N’América e as condições de moradia e trabalho nos seringais, contraposições que se distinguem nos detalhes da loja – de estilo específico da época – ressaltados, respectivamente, por Santos (2019); Sarges (2002); Daou (2004); Maranhão (2000) e as realidades dos seringueiros enfatizadas por Figueiredo (2012), Souza (2019) e Bueno (2014). Um embate necessário haja vista os diferentes panoramas construídos neste período.
Dessa forma, têm-se com esse estudo não apenas uma exaltação dos efeitos da borracha na economia da região amazônica, mas uma amostra do que “se teve” com esta atividade extrativista. Imagens que vão além das praças; ruas; comércio; teatros, cenários outros são destacados mesmo por sua importância, tanto para os feitos durante o fim do século XIX e início do século XX para a própria história da Amazônia e também do Brasil. Pois, tendo em conta que, se em outras regiões a cana de açúcar, o leite e o café impulsionaram a economia, a borracha do norte de tal modo “deu” sua contribuição.
Em suma, o artigo, com base na antologia Pará, Capital, Belém (2000) de Haroldo Maranhão, buscou metaforizar a partir de alguns pontos e elementos característicos da região amazônica, o que se sabe sobre o Ciclo da Borracha, especificamente no estado do Pará. Uma abordagem conveniente para as discussões propostas, o que delibera – possivelmente – outras mais possibilidades de análises, seja para com este tema ou metodologia também.
Referências
ACHARD, Pierre [et al.]. Papel da memória. Campinas, SP: Pontes, 1999.
BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
BAUDELAIRE, Charles. O Pintor da Vida Moderna. Tradução Teresa Cruz. 4. ed.
Lisboa: Nova Veja, 2006.
BENJAMIN, Walter. Origem do drama Barroco alemão. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1984.
BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória: ensaios de psicologia social. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
BUENO, Alexei. Palácios da Borracha: Arquitetura na Belle Époque Amazônica. Rio de Janeiro: Edições Fadel, 2014.
CARVALHAL, Tania Franco. Literatura comparada. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006.
DAOU, Ana Maria. A belle époque Amazônia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. No tempo dos Seringais: o cotidiano e a sociedade da borracha. São Paulo: Atual, 2012.
KOTHE, Flávio R. A alegoria. São Paulo: Ática, 1986.
MARANHÃO, Haroldo. Pará, Capital, Belém: memórias & pessoas & coisas & loisas da cidade. Belém: Supercores, 2000.
OLIVEIRA, Alfredo. Belém, Belém. São Paulo: Empíreo, 2015.
PENTEADO, Antonio Rocha. Belém do Pará: estudo da geografia urbana. Belém: UFPA, 1968.
SANTOS, Luiz LZ C. S. dos. Publicidade na Belle Époque entre os anos de 1870 e 1912. Curitiba: Appris, 2018.
SANTOS, Roberto. História econômica da Amazônia – 1800-1920. Manaus: Editora Valer, 2019.
SARGES, Maria de Nazaré. Belém: riquezas produzindo a Belle-Époque (1879-1912). Belém: Paka-Tatu, 2002.
SOUZA, Márcio. História da Amazônia: do período pré-colombiano aos desafios do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2019.
WALLACE, Alfred Russel. Viagens pelo Rio Amazonas e Rio Negro. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2004.
WILLIAMS, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
Data de Recebimento: 31/07/2023
Data de Aprovação: 25/08/2023
1 Em seu livro História Econômica da Amazônia (2019), Robertos Santos enumera a os dados da economia da Borracha da seguinte forma “Em 1889, para uma cotação máxima de Rs. 12$970 por quilo em Belém, a mínima alcançou 8$150. Eram preços, sem dúvida, excelentes, com uma média de 10$560. Mas em 1900 a cotação caía a 8$678e em 1902 estava a 4$952. Essa precipitação vertiginosa dos preços em moeda nacional tinha dois componentes: uma queda real, bio decorrente da valorização externa de mil-réis. Com efeito, a crise dos negócios nos países capitalistas em 1900 produziu resultados bastante recessivos para a economia da borracha. A procura mundial da goma elástica esteve então aquém da oferta até 1904” (Santos, 2019, p. 238).
2 “Por que a imagem? Porque ela oferece – ao menos em campo histórico que vai do século XVII até nossos dias – uma possibilidade considerável de reservar a força: a imagem representa a realidade, certamente; mas ela pode também conservar a força das relações sociais (e fará então impressão sobre o espectador”. (Achard, Davallon, Durand, Pêcheux, 1999, p. 27)
3 Ele diz que “[...] se voltarmos à questão cultural na sua forma mais usual – quais são as relações entre arte e sociedade, ou entre literatura e sociedade? – à luz da discussão anterior, temos de dizer, em primeiro lugar, que não há relações entre literatura e sociedade nessa forma abstrata. A literatura apresenta-se desde o início como uma prática na sociedade. De fato, até que ela e todas as outras práticas estejam presentes, a sociedade não pode ser vista como completamente formada. A sociedade não está totalmente disponível para análise até que cada uma das suas práticas esteja concluída. Mas ao adotarmos essa ênfase, devemos adotar uma outra correspondente: que não podemos separar a literatura e a arte de outros tipos de prática social de modo a torna-las sujeitas a leis muito especiais e distintas. Elas podem ter características bastante específicas como práticas, mas não podem ser separadas do processo social geral” (Williams, 2010, p. 61).
4 “Ao entrar na loja, há a suntuosa escadaria em estilo Art Nouveau, que apresenta em seu vão central uma estatueta de bronze de uma mulher de braços abertos, como se estivesse recebendo os visitantes/consumidores, dispondo em cada uma das mãos de uma luminária no formato de tochas. Atrás da estatueta, encontra-se pintada na parede uma imagem bastante elucidativa de duas figuras femininas dispostas lado a lado, voltadas uma para outra, tendo entre si um brasão com o símbolo (marca), em cujo centro está grafado o nome da loja (Paris N’América); acima, uma torre de castelo em forma de coroa monárquica e, logo abaixo, o nome comercial do estabelecimento (F. de Castro) e a frase “Casa fundada 1870” (Santos, 2018, p. 35-36).
5 “Tendo, pois, uma ideia do que era um seringal, falemos agora da figura central em toda essa história: o seringueiro. Sujeito que enfrenta imensas dificuldades para chegar até a árvore de seringa, é muitas vezes esquecido nos livros de história, ou quando muito tratado como figura anônima, um número a mais nas extensas listas de trabalhadores que viviam no seringal. [...] A rotina de até catorze horas de trabalho prolongava-se durante toda a safra de coleta do látex. Esse tempo sazonal de trabalho com a borracha coincidia com a estação seca, entre os meses de setembro e abril, época em que ele podia preparar uma roça para a sua subsistência. Quando isso não era possível, o seringueiro ficava preso aos esquemas do patrão, que lhe fornecia o necessário à sobrevivência, a preços sempre muito altos”. (Figueiredo, 2012, p. 14).
6 “No próprio dia em que parte do Ceará, o seringueiro principia a dever: deve a passagem de proa até o Pará (35$000), e o dinheiro que recebeu para preparar-se (150$000). Depois vem a importância do transporte, num ‘gaila’ qualquer de Belém ao barracão longínquo a que se destina, e que é, na medida, de 150$000. Admitem-se cerca de 800$000 para os seguintes utensílios invariáveis: um bião de furo, uma bacia, mil tigelinhas, uma machadinha de ferrro, um machado, um terçado, um rifle (carabina Winchester) e duzentas balas, dois pratos, duas colheres, duas xícaras, duas panelas, uma cafeteira, dois carretéis de linha e um agulheiro. Nada mais. Aí temos o nosso homem no ‘barracão’ senhoril, antes de seguir para a barraca, no centro, que o patrão lhe designará. Ainda é um ‘brabo’, isto é, ainda não aprendeu o ‘corte da madeira’ e já deve 1:135$000. Segue para o posto solitário encalçado de um comboio levando-lhe a bagagem e víveres, rigorosamente marcados, que lhe bastem para três meses: 3 paneiros de farinha de água, 1 saco de feijão, outro, pequeno, de sal, 20 quilos de arroz, 30 de charque, 21 de café, 30 de açúcar, 6 latas de banha, 8 libras de fumo e 20 gramas de quinino. Tudo isso lhe custa cerca de 750$000. Ainda não deu um talho de machadinha, ainda é o ‘brabo’ canhestro, de quem chasqueia o ‘manso’ experimentado, e já tem o compromisso sério de 2:090$000”. (Bueno, 2014, p. 28).
7 “O ritual da ida ao teatro oferecia à elite uma oportunidade de reconhecer a si mesma e aos comportamentos condizentes com as alterações por que a cidade e a sociedade passa. Os frequentadores do teatro, ao conferirem os gestos e trajes de cada um, nutriam a fantasia de civilização, de comunhão dos benefícios desta modernidade. O comportamento esperado no teatro expressava-se na movimentação da plateia pelo espaço do prédio (inclusive nos terraços laterais), no uso dos serviços do “botequim” e na demonstração de satisfação. Neste aspecto, as mulheres tinham um papel importante e rigidamente controlado. Se, tradicionalmente, um dos locais de aparecimento do público das mulheres era a missa de domingo, o teatro foi a “escola de costumes” da qual participaram as famílias, mas onde eram observados os indivíduos, e especialmente as mulheres”. (Daou, 2004, p. 54).