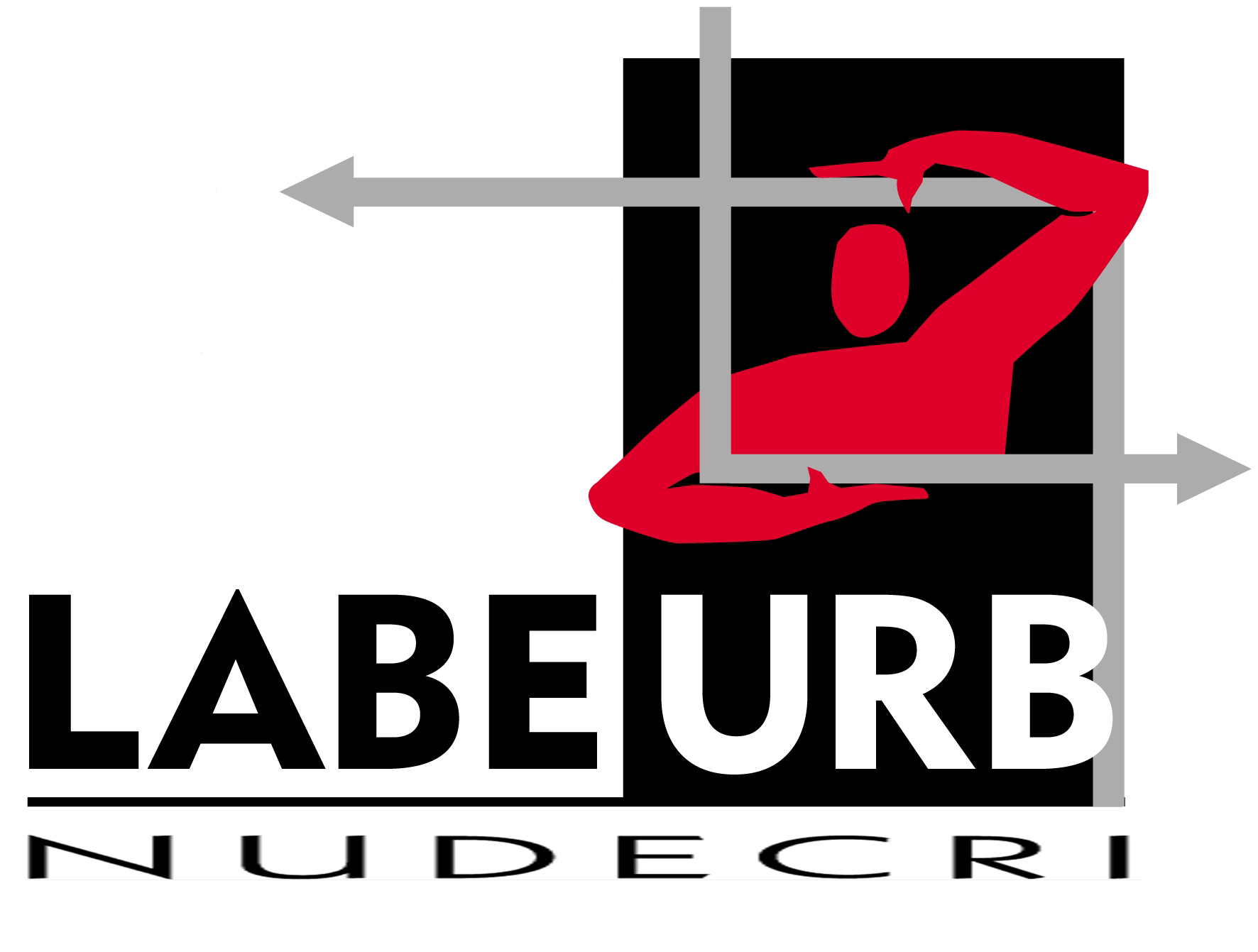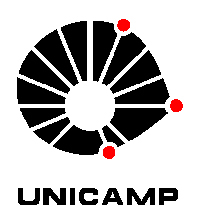“Eu passo pelos carreiro tranquilo”: Uma análise da fronteira Brasil-Argentina


Marilene Aparecida Lemos
1 “Eu passo pelos carreiro tranquilo”
Nos últimos trabalhos que escrevi sobre a tríplice fronteira Dionísio Cerqueira-Barracão-Bernardo de Irigoyen, observei, a partir dos materiais analisados, diversas menções aos carreiros relacionadas à travessia fronteiriça. Para exemplificar, trago dois enunciados analisados em Lemos (2021):
Todos vão e volta pelos careiros dai não pega o corona so pela aduana. Tomara q abra mesmo dai não precisao ficar pulando careiro (Jornal da Fronteira, 05/11/20, grifo próprio).
Eu passo pelos carreiro tranquilo pra i pra Argentina policia nenhum me para kkkk (Jornal da Fronteira, 05/11/20, grifo próprio).
Nesse trabalho de 2021, compreendi que esses recortes — frutos de reações de internautas fronteiriços à manifestação pela reabertura da aduana — indicavam uma possível falha no processo de interpelação do sujeito fronteiriço pelo Estado (argentino e/ou brasileiro), abrindo espaço para a resistência do sujeito ao discurso dominante (Lemos, 2021).
Ainda, um ponto de destaque nesses enunciados é o efeito de ironia. No primeiro, a ironia “acentua que [...] o coronavírus somente é contraído se o sujeito fronteiriço cruzar a aduana” (Lemos, 2021, p. 15), evidenciando, ainda, que todos passam pelos carreiros, havendo, portanto, outra forma de cruzar a fronteira. No segundo enunciado, a ironia e o deboche são direcionados à polícia ou, mais amplamente, à instituição Estado. Esses sentidos deslizam para uma indiferença em relação ao fechamento da aduana e ao controle policial, “[...] evocando efeitos de negação e deboche às estratégias de contenção da circulação do vírus, às medidas sanitárias e à própria vida” (Lemos, 2021, p. 15).
Diante disso, considero importante expor esses materiais a outros questionamentos, como: o que é um carreiro? Onde, em termos geográficos, localizam-se os carreiros? Em Lemos (2022), observa-se que, no trecho de fronteira seca entre as cidades paranaenses de Barracão e Santo Antônio do Sudoeste, as “trilhas na mata” são chamadas de piques e carreiros. Assim, é possível observar que a questão dos carreiros se impõe e não pode ser ignorada nos estudos da/sobre a fronteira.
Desse modo, para as reflexões deste artigo, inicialmente, tomo o verbete carreiro em três dicionários de língua portuguesa, relativos aos séculos XIX, XX e XXI, respectivamente:
(Sd11): Carreiro, s. m. O que guia o carro. Caminho estreito. Carreiro, fallando das formigas [...] (Pinto, 1832, p. 207). Diccionario da lingua brasileira.
(Sd2): Carreiro, s. m. Lugar por onde passa habitualmente a caça. “Cevei certo ponto do carreiro das pacas” (Taunay, 1914, p. 57). Lexico de lacunas: subsídios para os diccionarios da língua portugueza.
(Sd3): Carreiro
substantivo masculino
1 individuo que conduz carro de ger. bois, e da viagem; guieiro ger. chefiando a execução dos trabalhos
1.1 (1898) B, S. cocheiro, boleeiro
2 (1611) caminho de formigas em bando
3 p. met. quantidade de formigas em fila
4 B m. q. carreira (no sentido de ‘caminho nas plantações’)
5 (1911) VEN; B lugar por onde habitualmente passam os animais de caça
6 P sulco aberto no chão pela passagem contínua de carros
7 B, S. e P caminho estreito, atalho
adjetivo
8 relativo a carro. Dicionário Houaiss (2023).
Inicialmente, destaco o fato de que o sentido não está “colado” à palavra carreiro, “fixado eternamente”; portanto, “sempre pode ser outro”, assim como as leituras dos dicionários. Ainda, na perspectiva discursiva, os sentidos não podem ser quaisquer um, e assim também as leituras, “[...] visto que a história dos sentidos tem uma materialidade específica que deve ser considerada” (Nunes, 2010, p. 12).
Nunes (2010) chama a atenção para três procedimentos de leitura crítica dos dicionários: “[...] a identificação de lacunas, a análise das posições de definição e o questionamento dos exemplos”. O primeiro procedimento — identificação de lacunas — é uma prática presente já nos primeiros dicionários, como o Vocabulário Portuguez e Latino, de Rafael Bluteau (1712-1728). O próprio dicionário de Affonso Taunay (1914) — Lexico de lacunas: subsídios para os diccionarios da língua portuguesa —, que tomo neste trabalho para a análise do verbete carreiro, pode ser um exemplo de instrumento linguístico que se dedicava à prática de identificar as faltas nos dicionários.
O segundo procedimento de leitura dos dicionários apresentado por Nunes (2010) — análise das posições de definição — diz respeito à “explicitação da posição do lexicógrafo quanto ao modo de definir”, ou seja, as definições são efetuadas a partir da posição discursiva ocupada pelo lexicógrafo.
O último procedimento de leitura — questionamento dos exemplos — pode ser objeto de uma leitura discursiva dos dicionários. Segundo Nunes (2010, p. 14-15), quando os dicionários
[...] não trazem exemplos, a imagem que se tem é de que as palavras e as definições existem independentemente de quem as pronuncia. Já quando há exemplos, eles se apresentam em vários tipos: linguísticos, literários, de falas cotidianas, exemplos elaborados pelo lexicógrafo, dentre outros. A seleção da forma do exemplo é decisiva para a concepção do dicionário.
A partir dessas reflexões teóricas, incontornáveis para a análise do verbete que proponho neste artigo, passo a observar, como ponto de partida, uma certa regularidade nas definições de carreiro, apesar da distância temporal entre os dicionários: 1) carreiro definido como “caminho”, quando está na posição de substantivo; e 2) carreiro como “lugar”.
No primeiro caso, “caminho” aparece relacionado ao espaço geográfico, como se vê em “caminho estreito” (Sd1 e Sd3), “caminho de formigas em bando” e “caminho nas plantações” (Sd3). Considerando tais expressões nominais, torna-se possível pensar em uma definição de carreiro na direção de “um caminho que é x”, conforme as seguintes orações (relativas determinativas) indicam:
Um caminho que é estreito.
Um caminho que é feito pelas formigas.
Um caminho que é feito nas plantações.
No segundo caso, conforme a (Sd2), que contém a definição retirada do dicionário do século XX, carreiro é o “lugar” por onde, habitualmente, passa “a caça”. Já na (Sd3), nessa mesma direção, carreiro é o “lugar” por onde, habitualmente, passam os “animais de caça”. Portanto, carreiro pode ser definido como “um lugar que serve para x”, conforme elaboro nas sentenças a seguir:
Um lugar que serve para a passagem da caça.
Um lugar que serve para a passagem de animais de caça.
Sintetizando, as acepções para definir carreiro seguem em duas direções: 1) um sentido de carreiro que remete a um caminho geográfico; 2) e outro sentido que refere carreiro a uma função, utilidade, uso. Nesse ponto, faço um parêntese para abordar a posição do lexicógrafo quanto ao modo de definir a palavra. Observo que, em 1914, ano de edição do dicionário, não havia uma lei que proibisse a caça no Brasil, já que esta somente foi proibida no país pela Lei n. 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispunha sobre a proteção à fauna e dava outras providências.
Art. 1º Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, caça ou apanha (Brasil, 1967, grifo próprio).
Apesar da Lei, é possível observar na (Sd3) — referente ao dicionário do século XXI, em uma menção ao ano de 1911, seguida das reduções VEN [arte venatória] e B [brasileirismo] — que carreiro é definido como o “lugar” por onde habitualmente passam “os animais de caça”. Chamo a atenção para o modo de definir a palavra, para a utilização do recurso da datação histórica e demais detalhes sobre o verbete em questão. Nesse caso, noto que não há qualquer observação ou exemplo que remeta à atualização ou a uma nova definição para o verbete, tendo em vista os discursos em circulação.
Considerando a materialidade linguística, a referida definição presente no dicionário resulta de uma tomada de posição do sujeito lexicógrafo. Assim sendo, que efeitos de sentido produzem “animais de caça” em um dicionário do século XXI? Na evidência dos sentidos, caçar é uma prática proibida no Brasil há mais de 50 anos, com exceção da caça ao javali-europeu, autorizada pelo Ibama em 2013 para conter danos à biodiversidade. Além disso, houve uma série de polêmicas durante o governo Jair Bolsonaro com relação ao Projeto de Lei (PL) n. 5.544/20 (retirado de pauta, por acordo, por solicitação do Relator), que dispunha sobre a autorização da caça esportiva de animais no território nacional.
Tendo isso em conta, retomo a definição que está sendo problematizada: “lugar por onde habitualmente passam os animais de caça” (Sd3), lembrando que ela aparece em uma acepção do verbete vinculada a um dado tempo-espaço histórico. Destaco, na referida formulação, o advérbio “habitualmente” e o verbo “passar”. Com isso, é possível observar que o que se coloca como uma referência de uso em 1911 está sendo dito/repetido no dicionário do século XXI, em um batimento entre escrito/inscrito. Em outras palavras, o advérbio “habitualmente” e o verbo “passar” (conjugado no tempo presente), cunhados na materialização da escrita na língua, produzem no discurso um deslize de sentidos que remete à evidência de que “animais de caça” passam ou continuam passando pelos carreiros como uma prática rotineira, costumeira.
A análise da posição do lexicógrafo permitiu observar, no nível da estrutura linguística, um certo descompasso entre a definição do dicionário para o verbete carreiro e os discursos em circulação, visto que não há qualquer observação ou exemplo que remeta à atualização ou a uma nova definição para o verbete. De outro modo, na ordem do discurso, pelo trabalho da memória discursiva, os efeitos de sentido de “caça” e de “animais de caça” se atualizam na formulação, identificando-se a enunciados “já ditos”, “esquecidos” (Pêcheux, 2010 [1983]. p. 52).
Assim, a posição-sujeito lexicógrafo, entrelaçada ao saber autorizado dos especialistas (dicionários, no caso deste artigo), ao enunciar “caça” e “animais de caça”, nas acepções empregadas para o verbete carreiro, reproduz a tensão entre a letra da lei — que dispõe sobre a proteção à fauna — e sua (não) aplicação, ou seja, entre o saber jurídico e o saber ordinário. Em outras palavras, definir carreiro como o “lugar por onde habitualmente passam os animais de caça” também significa reproduzir práticas e discursos de infração da lei.
Na sequência da leitura do dicionário, é possível notar, na (Sd1), o verbete carreiro definido como “o que guia o carro”. De outro modo, na (Sd3), cujo recorte foi selecionado de um dicionário mais atual, carreiro é definido como “indivíduo que conduz carro de bois”, “guieiro”, “cocheiro”, “boleeiro”, evidenciando que carreiro é um trabalho executado por um individuo. Dessa forma, a palavra “indivíduo” preenche, na ordem da sintaxe, uma lacuna da definição presente na (Sd1). De acordo com Haroche (1992, p. 117-118).
Tradicionalmente, a compreensão de um enunciado não poderia verdadeiramente constituir um problema na gramática. Esta funciona, com efeito, ao nível de enunciados gramaticalmente corretos, isto é, considerados por definição como compreensíveis, explícitos; além disso, [...] completos ou facilmente completáveis, em princípio.
Analisando o enunciado “o que guia o carro”, no dicionário do século XIX, tem-se: o [Ø] que guia o carro [Ø]. Já no dicionário do século XXI, a partir das lacunas “completadas”, observa-se: o [indivíduo] que guia o carro [de bois]. Ou seja, no dicionário do século XIX, ficam elípticos o sintagma nominal [indivíduo] e o adjunto adnominal [de bois], lembrando que, para a gramática, a elipse é concebida como uma falta necessária (Haroche, 1992, p. 116). Ainda nas palavras da autora,
Enunciado formalmente incompleto, mas em que a linguística pressupõe o caráter completo do ponto de vista do sentido, a elipse é o lugar onde se encontram, inevitavelmente, o linguístico e o extralinguístico, formalismo e ideologia, língua e história (Haroche, 2016, p. 239-240, grifo próprio).
A noção de elipse, segundo a autora, constitui o ponto fraco do edifício conceptual da sintaxe (Haroche, 1992, p. 117). Compreendo, portanto, que a elipse se encontra no limiar entre a língua e o discurso. Nesse limiar, procuro analisar o funcionamento do sintagma nominal [indivíduo] e do adjunto adnominal [de bois] nos dicionários mencionados.
Pelas análises realizadas até esse ponto, é possível dizer que a definição de carreiro pode ser remetida a um caminho, a um lugar ou a uma função. Além disso, pela atualização do verbete realizada no dicionário do século XXI, carreiro é a denominação de um trabalho realizado por um “indivíduo”. De qualquer forma, a palavra “indivíduo” fica em suspenso, pois precisa ser problematizada. Nesse sentido, retomo o enunciado “o [Ø] que guia o carro [Ø]”, presente na (Sd1), e, considerando as elipses, levanto algumas perguntas: de que carro se trata? Quem guia o carro?
Diante dessas questões, as pesquisas de Souza (1958) apontam um lugar possível de entrada analítica. De acordo com o historiador,
Relacionada intimamente com a invenção da roda e o aparecimento do carro está a domesticação dos animais. No dizer de Vidal de la Blanche, as aplicações da roda se desenvolveram em razão do emprêgo da tração animal. [...] O boi e o cavalo foram, provavelmente, os primeiros animais utilizados na tração dos veículos (Souza, 1958, p. 48-49, grifo próprio).
Na relação entre língua e discurso, tendo em consideração o funcionamento do adjunto adnominal em “carro [Ø]”, transitam outros sentidos pela “brecha sintática aberta pela elipse” (Ferraça, 2019, p. 115), como o aparecimento do carro em relação à domesticação dos animais, o emprego de veículos de tração animal e a utilização do boi e do cavalo na tração dos veículos. Assim, “[...] se para a gramática a elipse significa falta, numa tomada discursiva, essa falta conduz a um excesso, visto ser a elipse o ponto de encontro entre língua e exterior” (Ferraça, 2019, p. 19).
Convém pontuar que as referidas teorizações de Souza (1958) fazem parte de um vasto estudo sobre o ciclo do carro de bois no Brasil. A obra traz ricos detalhes sobre o emprego desse meio de transporte, a saber: desde as civilizações da Antiguidade Oriental até sua introdução no Brasil e suas primeiras utilidades; seus serviços entre os séculos XVI e XX; os diferentes tipos de veículos; o gado bovino de trabalho no Brasil; e o carro de bois como veículo de transporte essencialmente rural.
Para melhor compreender o funcionamento do sintagma nominal em “o [Ø] que guia o carro [Ø]”, destaco a quinta parte da obra, que aborda os “trabalhadores do carro de bois”, incluindo os condutores do carro de bois e seus auxiliares: carreiros ou carreteiros, guias e outras categorias de carreiros. Souza (1958) explica que “O trabalho de dirigir, guiar e manobrar o carro de bois é geralmente executado, no Brasil, por duas pessoas: o condutor, de regra um homem feito, e o ajudante, de costume um menino ou rapazola” (Souza, 1958, p. 411, grifo próprio).
O título da seção vai na direção de indicar quem guia o carro: o [trabalhador], o [condutor], o [auxiliar]. Na sequência da explicação, destaco: o [ajudante]. Nesse ponto, a palavra “indivíduo”, deixada anteriormente em suspenso, movimenta sentidos outros na relação com os estudos de Souza (1958), ou seja, os sentidos de “indivíduo” podem remeter a “uma pessoa”, a “um homem feito”, a “um menino”, a “um rapazola”.
Considerando o dicionário de 1832, de onde parte a definição “o que guia o carro”, destaco também, da obra de Souza (1958, p. 515), que, ao longo do século XIX, o carro de bois foi amplamente utilizado, do Norte ao Sul do Brasil, para transportar famílias de agricultores e fazendeiros até localidades próximas, onde ocorriam festas e cerimônias religiosas. Assim, no jogo entre a base linguística e os processos discursivos, penso ter chegado a elementos importantes neste artigo, entre eles, a identificação de lacunas.
De outro modo, quando os carreiros são definidos como “lugar”, observo uma lacuna nas definições dos dicionários analisados no que se refere à passagem de pessoas. É importante assinalar que, segundo os exemplos, por esse “lugar” passam “formigas” e “pacas”, o que reforça a definição de carreiros nos dicionários como uma passagem para animais, não para pessoas. Em outras palavras, a passagem de pessoas pelos carreiros não está legitimada nos dicionários analisados, o que produz sentidos de que tal passagem não está autorizada.
Além disso, a (Sd3) apresenta a definição de carreiro como “atalho”, o que me leva a identificar lacunas nos dicionários anteriores, a partir das (Sd1 e Sd2). Nesse ponto, exponho novamente o enunciado que é objeto de análise deste artigo:
(Sd4): Eu passo pelos carreiro tranquilo pra i pra Argentina policia nenhum me para kkkk
Tendo em vista o enunciado e as reflexões apresentadas anteriormente sobre o verbete carreiro em dicionários, proponho as seguintes paráfrases:
(Sd4.1): Eu passo tranquilamente pelos atalhos [...]
(Sd4.2): Eu passo tranquilamente pelos caminhos não permitidos [...]
(Sd4.3): Eu passo tranquilamente pelos caminhos estreitos [...]
(Sd4.4): Eu passo tranquilamente por onde não podem passar pessoas [...]
Junto às paráfrases, apresento um trecho que faz parte da entrevista com o prefeito de Bernardo de Irigoyen, Guillermo Fernández, produzida pelo canal de televisão Noticiasdel6, de Posadas, no dia 10 de novembro de 2020, sobre o fechamento da fronteira e as manifestações de comerciantes e empresários desse município em prol de sua reabertura. É importante assinalar que o trecho selecionado faz parte da resposta dada pelo prefeito à pergunta: “¿Está cerrada la frontera o pasa algo, intendente?” (Lemos, 2022).
(Sd5): Prefeito – [...] Siempre hay muchos lugares ilegales que por ahí es muy difícil de controlar todo, pero siempre la gendarmería está haciendo muy buen trabajo en la zona acompañando siempre, en conjunto con la policía, bueno, nosotros con la Salud Pública tratando siempre de los lugares críticos como la aduana de camiones y todo eso ahí estamos con mucho control y de esa forma, bueno, estamos llevando muy buen trabajo hasta ahora (Noticiasdel6, 10/11/20).
Em uma primeira leitura da passagem, nota-se a afirmação de uma prioridade no trabalho da Administração Pública Municipal, o qual é realizado em parceria com a Saúde Pública: o controle efetivo dos “lugares críticos”, direcionado à “aduana de caminhões”. Os demais controles, de “lugares ilegais”, ficam a cargo do trabalho da gendarmeria e da polícia. Nesse ponto, é importante destacar a afirmação de que “há muitos lugares ilegais por aí. É muito difícil controlar tudo”. Em Lemos (2022), entre outras análises, refleti sobre a formulação “pasos ilegales”; assim, não há como escapar, no presente texto, dos “já-ditos”, dos sentidos que foram se construindo ao longo de meus estudos da(s) fronteira(s).
Contudo, com este artigo, busco, sobretudo, ampliar a reflexão a partir da escuta e da análise de outros materiais e de novas questões que se impuseram. Tomando a formulação Siempre hay muchos lugares ilegales que por ahí es muy difícil de controlar todo, interrogo-me: Que sentidos de fronteira se produzem ao enunciar “há muitos lugares ilegais por aí. É muito difícil controlar tudo”? Com esse propósito, parece-me que a locução adverbial “por aí” e o pronome “tudo” podem ser produtivos. Para tanto, recorro ao Dicionário Houaiss (2023), a fim de apresentar algumas definições para as palavras selecionadas:
(Sd6): Aí
Advérbio
[...] em lugar indeterminado, em qualquer parte; por aí, por aí afora [...]
(Sd7): Tudo
Pronome
[...] o total das coisas ou seres que são objeto do discurso [...]
Dadas essas definições, o primeiro passo é tentar desconstruir a homogeneidade da sintaxe e caminhar para os processos discursivos. Refletindo sobre o espaço de fronteira (Lemos, 2019), pergunto-me: se não é possível controlar o total das coisas e todos os sujeitos, há algo que se pode controlar? O que é possível controlar? O trecho selecionado da fala do prefeito, presente na (Sd5), me leva a compreender que se produz um processo de significação responsável por estabilizar e significar o espaço de fronteira e os sujeitos de dois modos: uma porção controlável e uma porção de difícil controle. Não intento dizer que a “aduana de caminhões” é “controlável”, mas os efeitos produzidos pela formulação vão nessa direção.
São produzidos, ainda, efeitos de oposição entre um lugar determinado = a “aduana de caminhões” e lugares indeterminados = que estão “por aí”; entre um lugar autorizado e lugares não autorizados; entre o visível e o invisível; entre a circulação de caminhões e a circulação de sujeitos pelo espaço de fronteira; entre o que faz parte das ações/interesses da Administração Pública Municipal e o que não faz parte; entre saberes institucionalizados e saberes cotidianos.
Assim, o controle está nesse lugar do visível, do palpável, da lei. No entanto, o funcionamento da lei não é estanque; há algo que escapa ao controle. Conforme Nunes (2011, p. 43), “[...] o real da cidade sempre escapa a esse desejo de controle total da cidade, visto que a dimensão do equívoco nunca é completamente dominada”. Diante disso, na língua e nos termos de Milner (2012, p. 69), “não se diz tudo [...] as palavras estão sempre em falta com alguma coisa [...] há impossível de dizer”. De forma semelhante, no espaço de fronteira, “tudo” não se pode controlar, “tudo” não se pode conter — esta última afirmação, faço inspirada em Barbosa Filho (2012), a partir de sua compreensão de que “o real da cidade é o incontível”.
Nessa linha, retomo o enunciado propulsor deste artigo, com o propósito de tecer um diálogo com as análises que estão sendo construídas.
(Sd4): Eu passo pelos carreiro tranquilo pra i pra Argentina policia nenhum me para kkkk
Entendendo a língua como “sistema sintático intrinsecamente passível de jogo” (Orlandi, 1998b), pode ser possível mobilizar a pergunta: que motivos acarretariam a ação de “passar” pelos carreiros? Para tal, apresento as paráfrases a seguir, buscando dar visibilidade às causas dessa ação e tentando, também, quebrar a homogeneidade da palavra “polícia”.
(Sd4.5): Eu passo tranquilamente pelos atalhos porque os policiais não me param.
(Sd4.6): Já que a segurança pública não funciona, eu passo tranquilamente pelos caminhos não permitidos.
(Sd4.7): Dado que não há controle policial, eu passo tranquilamente pelos caminhos estreitos.
(Sd4.8): Eu passo tranquilamente por onde não podem passar pessoas, pois os decretos não funcionam.
Convém destacar, inicialmente, que o material não permite precisar a nacionalidade do sujeito que passa pelos carreiros, desviando da aduana, embora a formulação “pra i pra Argentina”, especialmente pelo uso do verbo “ir”, possa indicar que se trata de um brasileiro. Outra questão a ser considerada é que, durante uma visita à tríplice fronteira Dionísio Cerqueira-Barracão-Bernardo de Irigoyen, no período da pandemia de coronavírus, em 2021, mais precisamente nas proximidades da aduana, mantendo-me no lado brasileiro, foi possível observar, no lado argentino, a presença da “Gendarmería Nacional Argentina” em lugares estratégicos da fronteira (figuras 1 e 2). Contudo, não foram vistos policiais atuando no lado brasileiro.
Figura - Dionísio Cerqueira (Brasil) - Bernardo de Irigoyen (Argentina)

Fonte: Lemos (2021, acervo pessoal).
Figura 2 - Dionísio Cerqueira (Brasil) - Bernardo de Irigoyen (Argentina)

Fonte: Lemos (2021, acervo pessoal).
Diante das figuras apresentadas e dos pontos que se destacam nas paráfrases (os policiais não me param, a segurança pública não funciona, não há controle policial, os decretos não funcionam), entendo ser possível mobilizar a formulação “desorganização da cidade” (Barbosa Filho, 2012, p. 109), não para pensar limites ou delimitações de espaço e de sujeitos — no caso, a “desorganização da cidade” de Bernardo de Irigoyen ou de Dionísio Cerqueira —, nem para cindir o espaço de fronteira em lado argentino e lado brasileiro, ou os sujeitos em argentinos e brasileiros. De outro modo, a “desorganização da cidade” contribui para a reflexão sobre uma “desorganização” da fronteira e, ainda, sobre uma “desorganização cotidiana” (Orlandi, 1998a). Desse modo, a prática de “passar tranquilamente” pelos atalhos aparece como uma resposta de sujeitos fronteiriços (independentemente de suas nacionalidades), como um efeito da “desorganização” da fronteira, da “desorganização cotidiana”.
Dito isso, abaixo exponho novas paráfrases para o enunciado em análise, desta vez, a partir de orações que atribuem uma consequência ao ato expresso na oração principal.
(Sd4.9): Os policiais não me param de forma que passo tranquilamente pelos atalhos.
(Sd4.10): A segurança pública não funciona de modo que passo tranquilamente pelos caminhos não permitidos.
(Sd4.11): Não há controle policial de sorte que passo tranquilamente pelos caminhos estreitos.
(Sd4.12): Os decretos não funcionam tanto que passo tranquilamente por onde não podem passar pessoas.
Nesse caso, as paráfrases permitem observar como a prática de passar pelos atalhos emerge como consequência e retrata indícios de fragilidade ou de fracasso do aparelho jurídico, incluindo-se aí as ações da força de segurança, os decretos, as leis, etc. Mostram, ainda, a tensão entre o discurso jurídico e o político, como na fala do prefeito de Bernardo de Irigoyen: “É muito difícil controlar tudo”. Nesse ponto, ao observar as paráfrases acima expostas, posso dizer que, em “tudo”, o total das coisas e todos os sujeitos materializam discursividades vinculadas a atalhos, caminhos não permitidos, caminhos estreitos, lugares por onde não podem passar pessoas. Ainda, significam o sujeito invisível que passa “tranquilamente” pelos carreiros, no espaço do incontrolável.
Contudo, na ilusão de passar “tranquilamente” e “livremente” pelos carreiros, o sujeito, enquanto sujeito de direito, está submetido ao Capital, ao Estado, dado que “[...] a pessoa humana é juridicamente constituída em sujeito de direito, em ‘sempre-já sujeito’ independentemente da sua própria vontade” (Edelman, 1976, p. 28). É, nesse aspecto, que “[...] a produção jurídica da liberdade é a produção de si próprio como escravo. O sujeito de direito aliena-se na sua própria liberdade” (Edelman, 1976, p. 99).
Assim, a partir da construção de paráfrases, expondo o enunciado ao jogo da língua, na relação causa/consequência, foi possível compreender que se produz um efeito de ironia que denuncia as falhas do poder público, cujos sentidos deixam descobertas tanto a falha no funcionamento da prática política e jurídico-administrativa (organização) como a falha no funcionamento das práticas cotidianas e ordinárias da fronteira (ordem, o real). Em outras palavras, a crítica ao poder público é caracterizada por um duplo efeito: a contradição entre o que está na ordem do institucional (os Decretos sobre fronteiras e Covid-19, a aduana, a gendarmeria, a polícia, a prefeitura, o Estado, etc.) e o que está na ordem da prática cotidiana (os carreiros, os atalhos, os caminhos estreitos não permitidos e os sujeitos que passam por onde “não podem” passar).
Nesse entendimento, tanto o espaço de fronteira quanto os sujeitos se constituem na organização da cidade, mas também no/pelo que está nas lacunas, nos silêncios, nas falhas dessa organização. Considero, nas palavras de Barbosa Filho (2012, p. 52), que “[...] o real da cidade fala na falha, enquanto o saber sobre a cidade se situa no espaço de contenção da falha”. No caso da presente reflexão, esta última pode ser exemplificada pelas políticas de controle à aduana de caminhões.
A partir das reflexões empreendidas neste artigo, foi possível analisar que, tal como a língua, a fronteira se constitui na incompletude, está exposta ao equívoco, à falha. Há algo que escapa ao controle da língua, aquilo que se caracteriza no resto, nas lacunas, nas margens, deixando um resíduo que foge ao “controle” do espaço de fronteira, da língua de fronteira, dos sujeitos fronteiriços, mas que, ao mesmo tempo, produz efeitos.
Por fim, conceituar a fronteira exige um esforço teórico que está apenas começando. Pretendo, contudo, continuar investigando a “[...] relação contraditória entre a ordem (o real) e a organização (o imaginário)” (Barbosa Filho, 2012) da/na fronteira, situada nesse espaço fluido, impossível de conter, no invisível, na movência de sujeitos e línguas, no deslimite, na fronteira “vivida”, no real da fronteira.
Considerações finais
Nesse ponto de “fechamento” do artigo, que também representa o início de outras reflexões sobre a fronteira, considero que o enunciado “Eu passo pelos carreiro tranquilo pra i pra Argentina policia nenhum me para kkkk” inspirou análises interessantes, partindo do estudo do verbete carreiro em três dicionários de língua portuguesa, dos séculos XIX, XX e XXI. As regularidades nas definições de carreiro e a posição do lexicógrafo permitiram analisar a tensão entre os discursos da letra da lei (de proteção à fauna) e os discursos de (não) aplicação dessa lei, além de observar como o dicionário reproduz discursos de infração da lei. As análises sobre o funcionamento das elipses no dicionário do século XIX também trouxeram reflexões importantes em torno do movimento dos sentidos de “indivíduo”, ao ser posto em relação com os estudos de Souza (1958) sobre o ciclo do carro de bois no Brasil.
Na sequência, as paráfrases propostas para o referido enunciado, colocadas em diálogo com um trecho da entrevista concedida pelo prefeito de Bernardo de Irigoyen ao canal de televisão Noticiasdel6 de Posadas, conduziram-me a enunciados produtivos de sua fala: “há muitos lugares ilegais por aí. É muito difícil controlar tudo”. Essa escolha foi muito acertada, pois, ao tentar desconstruir a homogeneidade da sintaxe e avançar em direção aos processos discursivos, cheguei a efeitos de oposição significativos: lugar determinado/lugar indeterminado, lugar autorizado/lugar não autorizado, visível/invisível, circulação de caminhões/circulação de sujeitos, saberes institucionalizados/saberes cotidianos. Tais efeitos permitiram-me compreender que, no espaço de fronteira, “tudo” não se pode controlar, “tudo” não se pode conter.
Além disso, as paráfrases construídas na relação causa/consequência permitiram mobilizar o conceito de “desorganização da cidade” (Barbosa Filho, 2012) e expandir a reflexão para uma “desorganização” da fronteira, pensada juntamente com uma “desorganização cotidiana” (Orlandi, 1998a). Nesse sentido, “passar tranquilamente” pelos atalhos pode ser uma resposta, um efeito da “desorganização” da fronteira, da “desorganização cotidiana”. De outro modo, a partir das paráfrases construídas como orações de consequência, são postos em jogo indícios de fragilidade ou fracasso do aparelho jurídico, assim como a tensão entre o discurso jurídico e o político.
De tudo o que foi exposto, destaco a relevância de começar a pensar um conceito de fronteira a partir da relação entre a ordem da fronteira e a ordem da língua, considerando que há algo que escapa ao controle da língua — o que se caracteriza no resto, nas lacunas e nas margens. Da mesma forma, há um resíduo que foge ao “controle” do espaço de fronteira, da língua de fronteira e dos sujeitos fronteiriços, mas que, ainda assim, continua a ecoar e a produzir efeitos.
Referências:
BARBOSA FILHO, Fábio Ramos. A escrita urbana nos (des)limites do (im)possível. 2012. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.
BARBOSA FILHO, Fábio Ramos. O discurso antiafricano na Bahia do século XIX. São Carlos: Pedro & João Editores, 2019.
BLUTEAU, Rafael. Vocabulário Portuguez e Latino. Coimbra: Colégio das Artes, 1712-1728. v. 1.
Courtine, Jean-Jacques. Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos. São Carlos: EDUFSCAR, 2009.
DICIONÁRIO HOUAISS – UOL. Disponível em: https://houaiss.online/houaisson/apps/uol_www/v7-0/html/index.php#0 Acesso em: 10 mar. 2023.
EDELMAN, Bernard. O direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do direito. Coimbra: Centelham 1976.
FERRAÇA, Mirielly. (R)esistir no Jardim Itatinga: laços entre sujeitos e espaço urbano. 2019. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.
HAROCHE, Claudine. Fazer dizer, querer dizer. Tradução Eni Puccinelli Orlandi. São Paulo: Editora Hucitec, 1992.
HAROCHE, Claudine. A elipse (falta necessária) e a incisa (acréscimo contingente): O estatuto da determinação na gramática e sua relação com a subjetividade. In: CONEIN, Bernard et at [org.]. Materialidades discursivas: a espessura da linguagem. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2016. p. 237-248.
LEMOS, Marilene Aparecida. Entre espaços, sujeitos e línguas: a produção da fronteira em Dionísio Cerqueira-SC, Barracão-PR (Brasil) e Bernardo de Irigoyen (Misiones, Argentina) nos relatos de viagens. 2019. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.
LEMOS, Marilene Aparecida. Pandemia e frontera cerrada: entre limite(s) e deslimite(s). Cadernos de Linguística, [s.l.], v. 2, n. 2, p. 1-19, 2021.
LEMOS, Marilene Aparecida. ¿Está cerrada la frontera o pasa algo? línguas de fronteira e o cotidiano da fronteira Brasil/Argentina em tempos de pandemia. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, SP, v. 64, n. 00, p. 1-13, e022027, 2022.
MILNER, Jean-Claude. O amor da língua. Tradução e notas Paulo Sérgio de Souza Júnior. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012 [1978].
NUNES, José Horta. Dicionários: história, leitura e produção. Revista de Letras, [s.l.], v. 3, n. 1/2, p. 6-21, 2010.
NUNES, José Horta. Silêncios do político no espaço público. In: RODRIGUES, Eduardo Alves et al. [org.]. Análise de discurso no Brasil: Pensando o impensado sempre. Uma homenagem a Eni Orlandi. Campinas: Editora RG, 2011, p. 37-67.
ORLANDI, Eni Puccinelli. A desorganização cotidiana. Escritos, Campinas, v. 1, p. 3-10, 1998a.
ORLANDI, Eni Puccinelli. O próprio da análise de discurso. Escritos, Campinas, v. 3, p. 17-22, 1998b.
ORLANDI, Eni Puccinelli. A cidade como espaço político-simbólico: textualização e sentido público. In: ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes, 2001. p. 185-214.
PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre et al. [org.]. Papel da memória. Tradução e introdução José Horta Nunes. 3. ed. Campinas: Pontes Editores, 2010 [1983]. p. 49-57.
PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da língua brasileira. Ouro Preto: Typographia de Silva, 1832.
RODRÍGUEZ-ALCALÁ, Carolina. Discurso e cidade: a linguagem e a construção da “evidência do mundo”. In: RODRIGUES, Eduardo Alves [org.]. Análise de discurso no Brasil: Pensado o impensado sempre. Uma homenagem a Eni Orlandi. Campinas: Editora RG, 2011. p. 243-258.
SOUZA, Bernardino José de. Ciclo do carro de bois no Brasil. São Paulo: Companhia Editoral Nacional, 1958.
TAUNAY, Affonso d’E. Lexico de lacunas: subsidios para os diccionarios da lingua portugueza. Tours Imprimerie E. Arrault, 1914.
Data de Recebimento: 06/11/2024
Data de Aprovação: 18/03/2025
1 A respeito de sequências discursivas (Sd), ver Courtine (2009) e Barbosa Filho (2019).