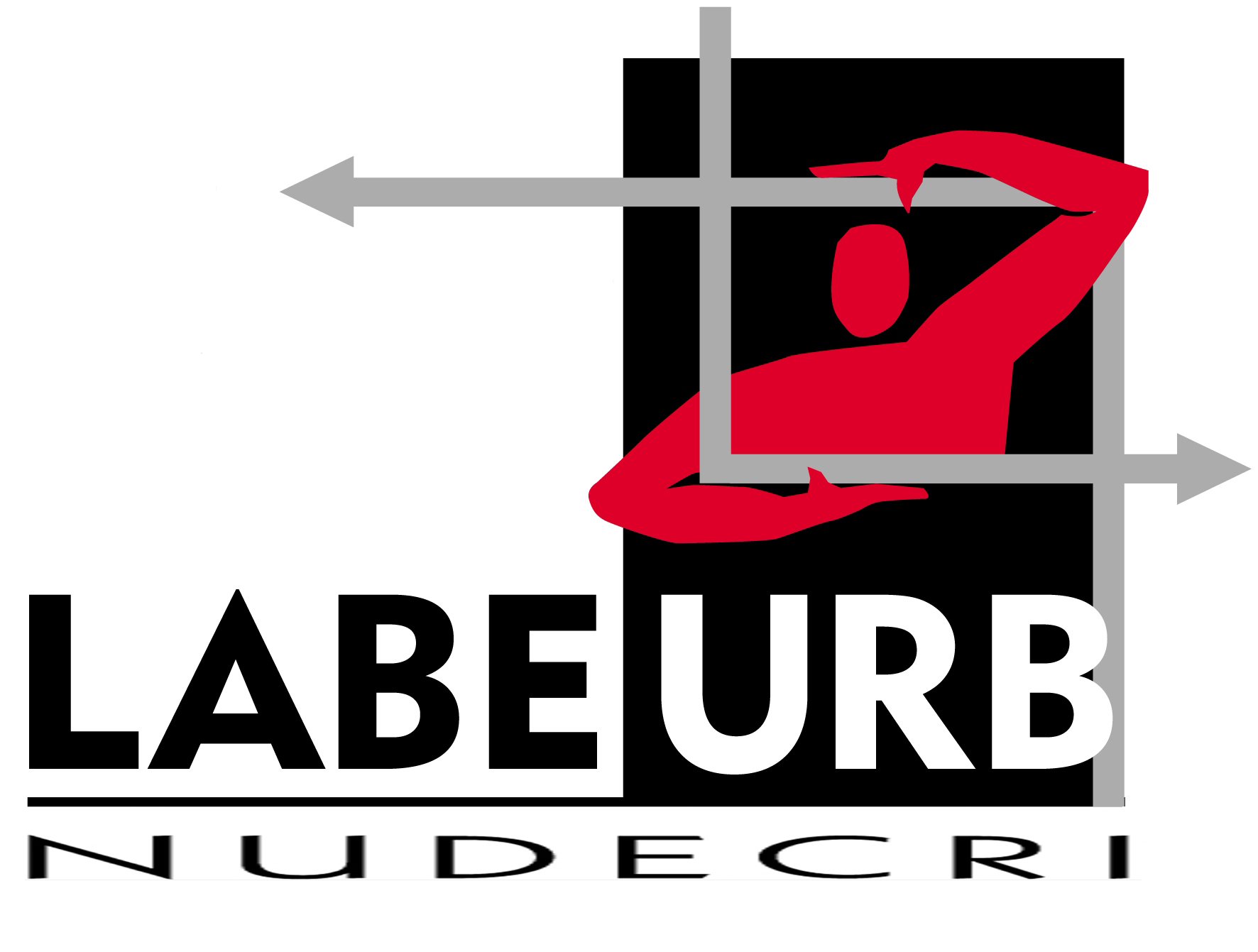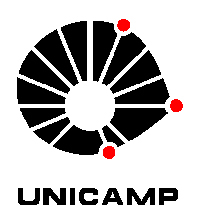Apresentação Dossiê

Apresentação do dossiê:
A cor, a palavra e o corpo negro: subjetividade e formação social.
Marcos Aurelio Barbai1
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4693-1401
A descoberta de ser negra é mais do que a constatação do óbvio. (Aliás, o óbvio é aquela categoria que só aparece enquanto tal depois do trabalho de se descortinar muitos véus.) Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas.
Neusa dos Santos Santos, 2021, p. 18
No campo da Análise de Discurso materialista, somos advertidos de que “(...) é ilusório colocar para a história uma questão de origem e esperar dela a explicação do que existe.”, dirá Paul Henry (2003, p. 51-52), em “A história não existe?”. Porém, gostaria de recuperar o trabalho de um historiador, que reflete sobre o estatuto político e simbólico das cores.
O historiador francês Michel Pastereau tem todo um trabalho minucioso, europeu e de muita qualidade, refletindo sobre a história de uma cor. O objetivo do autor é, de certa forma, retraçar a história das cores primárias (branco, vermelho, preto, verde, amarelo, azul) na história ocidental. O interessante desse trabalho documental é que se pode observar, em ato, um autor que toma as cores em sua essência transdocumentária e transdisciplinar. Dentre esses aspectos há o léxico já que “a história das palavras traz, para o nosso conhecimento do passado, informações numerosas e pertinentes; no domínio da cor, a história ressalta como, em qualquer sociedade, sua principal função é classificar, marcar, proclamar, associar ou opor” (cf. Pastereau, 2008, p. 15).
Para o autor, “o léxico proporciona um outro testemunho dessa diversidade de tonalidades pretas percebidas pelos povos antigos. As palavras servem para captar as diferentes nuances utilizadas pelos artistas, mas também, e sobretudo, para nomear todas as qualidades de tonalidades pretas na natureza.” (idem, p. 25). Nos faço aqui uma pergunta: o que o preto e suas tonalidades nomeiam em nossa sociedade brasileira?
Em se tratando do vocabulário, diz ao autor que o latim está um pouco mais próximo de nossa concepção moderna das cores. Isso por conta de um jogo variado de prefixos e sufixos, para dar prioridade à expressão da luz (clara/sombria; opaca/brilhante) da matéria (saturada/insaturada) da superfície (unida/composta/lisa/rugosa). No que se refere ao latim, o preto é distinguido em dois grandes conjuntos: o preto opaco (ater) e o preto brilhante (niger). Há um campo semântico durável no latim: ater e niger para preto, albus e candidus para o branco.
Ater, de origem etrusca, figurou durante muitos séculos para designar a cor preta. No entanto, figurou como uma palavra que nomeava a nuance opaca ou neutra de preto. É por volta do século II, antes de nossa era, que o preto assumiu uma conotação negativa: “tornou-se a cor preta má, feia, suja, triste, e até mesmo “atroz” (o adjetivo francês omitiu o sentido cromático para conservar apenas o afetivo)”. (idem, p. 26). Em se tratando da história vocabular das cores, o autor sublinha que as línguas antigas (hebraico, grego e latim) mostram que no processo de nomear a cor, “o parâmetro mais importante é o da luminosidade. A coloração vem depois. A questão da luminosidade é flagrante, já que o preto é utilizado para iluminar e não para escurecer”. O francês antigo, que de certa forma se torna uma língua importante para muitas cortes europeias, despreza a palavra latina ater, tornando o niger (noir, neir) como sua base.
Nesse processo de construção da palavra, a cor preta se formula em uma base simbólica que não devemos ignorar. A cor preta é “triste, funesta, feia, horrenda, cruel, maléfica, diabólica” (idem, p. 27). E segue o autor: “Mas, para expressar nuances de qualidade ou de intensidade cromática (opaca, brilhante, densa, saturada, etc), somos forçados a recorrer a comparações: preto como o piche, preto como jabuticaba, preto como o corvo, preto como tinta.” (idem).
Ao ressaltar, no estudo de um historiador, o que testemunha na história a cor preta, tenho por finalidade fazer balançar os efeitos de sentido que corporificam a cor preta. Não se trata, evidentemente, de enunciados empíricos. Preto é a cor da peste. Não uma peste qualquer, mas “Peste Negra” – nome que designa uma epidemia que atingiu a Europa entre 1346 e 1350. Preto é ainda a cor da melancolia, da prisão e... da elegância. Pastoureau conclui com uma questão: “Uma cor perigosa?” (idem, p. 188). É o preto uma cor como as outras?
Em solo brasileiro, nós sabemos em corpo, povo e raça a produção de sentidos da cor preta. Ela, como tão bem destacou Siniscalchi, Dias e Helsinger (2024, p. 92), é parte da história da escravidão. Uma cor que despojou milhares de sujeitos de sua história, da família e seus antepassados. O que resta são lacunas e silêncio, silêncio esses também dos arquivos (cf. Orlandi, 1992), “inscrevendo a história nos domínios do indizível e as suas origens no registro do desconhecido.” (idem).
Assim, convido os leitores desse dossiê a um conjunto de questões quais somos confrontados em nosso cotidiano, na sociedade brasileira: como situar o problema do racismo, da cor e da subjetividade? Como pensar as relações contemporâneas, no que tange à emocionalidade e os corpos, na cidade, quando pensamos a negritude no Brasil?
A finalidade dos textos, aqui reunidos, é a de fomentar essas e outras reflexões. Os artigos são tecidos por diferentes pessoas, de diferentes formações e percursos de pesquisa, estudo e trabalho. A base desse dossiê está na experiência de transformar uma disciplina de curso de Pós-Graduação, em um laboratório de escrita. Experiência essa praticada no interior do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural (Labjor/IEL – da Unicamp), na disciplina JC 005 “Jornalismo, Ciência e Tecnologia”, no ano de 2024. Agradeço, portanto, ao Laboratório de Estudos Urbanos, através da Revista RUA, de acolher esses textos, na particularidade de um Programa de Pós-Graduação, que tem muitos servidores da Carreira de Pesquisador da Unicamp, como docentes de curso.
Podemos, com nossa escrita, uma escrita discursiva, esburacar a memória, naquilo que faz do negro, do preto, uma avaria (cf. Baptista, 2021, p. 122) simbólica, política, social e de tecnologia? Podemos, com nosso gesto de leitura, interferir naquilo que a socióloga Ruth Frankenberg chamou de Color blindness – ou seja, “cegueira racial” (cf. Schwarcz, 2024, p. 52)?
Por fim, nos deixo com um dito ético e político de Michel Pêcheux:
“Aceitar todas essas questões como sérias, e não folclóricas ou como “anexos da literatura”, significa não tratar a língua como mero Meio, que permite descrever esses processos (um espelhamento desses processos), mas sim, como um campo de forças constitutivo desses processos, por meio dos “jogos de linguagem”, do trilhar metafórico dos sentidos e dos paradoxos de enunciação, que as discursividades trabalham na e contra os “corpos” de regras de cada língua” (Pêcheux, 2011, p. 119).
Referências:
BAPTISTA, Izildinha. A Cor do inconsciente: Significações do corpo negro. São Paulo, Perspectiva, 2021.
PASTOUREAU, Michel. Preto: história de uma cor. Tradução: José Alfaro. São Paulo, Editora Senac, 2014.
ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: Editora da Unicamo, 1992.
PÊCHEUX, Michel. Ideologia - Aprisionamento ou Campo Paradoxal? In: Análise de Discurso de Michel Pêcheux: textos escolhidos por Eni P. Orlandi. Campinas, São Paulo, Pontes, 2011, p. 107-130.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Imagens da branquitude: a presença da ausência. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.
SINISCALCHI, Bruno; Dias, Luciano; HELSINGER, Natasha. É de raça que estamos falando: tornar-se herdeiro da psicanálise no Brasil. Rio de Janeiro, RJ: 7Letras, 20024.
SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro: ou as vicissitudes da identidade do negro
brasileiro e ascensão social. Rio de Janeiro, Zahar, 2021.
1 Pesquisador B do Laboratório de Estudos Urbanos, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. É professor permanente do PPG - DCC (Programa de Pós- Graduação em Divulgação Científica e Cultural (Labjor/IEL). Psicanalista membro de Escola –EPFCL- Brasil. E-mail: barbai@unicamp.br.