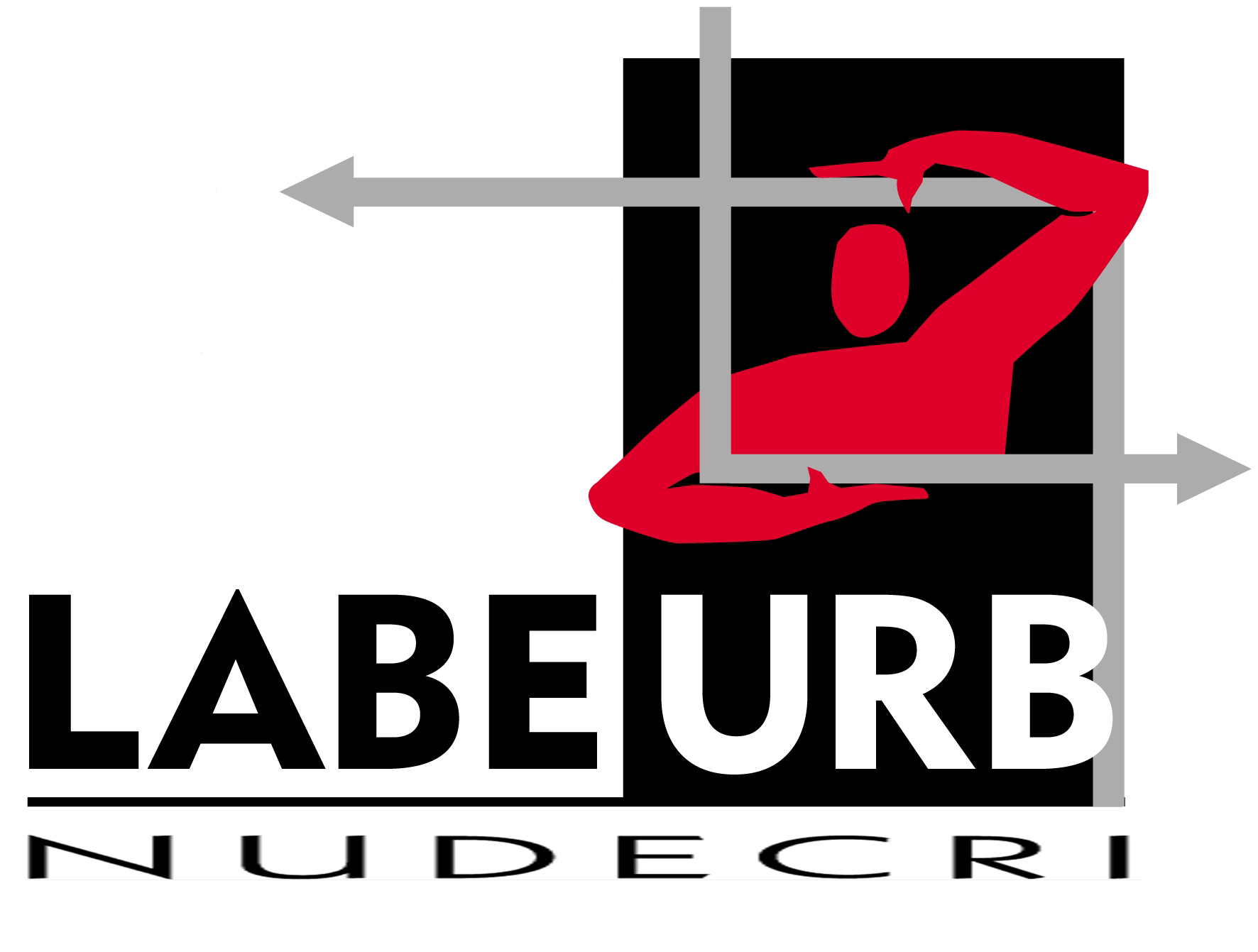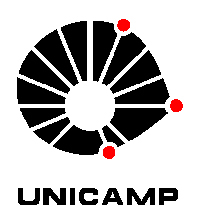Mulheres negras no sistema prisional: um gesto de leitura do encarceramento feminino


Amanda de Oliveira Rodrigues
Marcos Aurélio Barbai
1- Apresentação
Nos últimos anos, a taxa de encarceramento feminino aumentou consideravelmente no Brasil. Até 2021, segundo Borges (2021), o país possuía a quinta maior população de mulheres encarceradas do mundo. Dessas, 67% são mulheres negras. Número que não pode ser ignorado. Porém, esse dado mudou em 20221, e o Brasil passou a ocupar o ranking de terceiro lugar nos países de população carcerária, ultrapassando a Rússia.
Esse número reflete não apenas a seletividade penal, mas também a desigualdade social e econômica que afeta esse grupo racial. Tais vulnerabilidades contribuem para a marginalização dessas pessoas, como afirma Davis (2016): a pobreza e a falta de oportunidades são "armas silenciosas" que o sistema usa para garantir que corpos negros, especialmente de mulheres, permaneçam marginalizados, e assim, “recorta-se, ao mesmo tempo, como resíduo dessa operação, um lugar de exclusão que abrange [...] aqueles interpretados como uma ameaça, como marginalidade, como estranhos, e ainda como meros objetos, indefinidos na sua identidade” (cf. Zoppi-Fontana, 2003, p.16).
Essa realidade evidencia como o racismo estrutural e o olhar colonialista continuam a impactar profundamente a vida das mulheres negras, refletindo-se no encarceramento e na exclusão social que enfrentam diariamente. Para Gonzaga; Aguiar; Alves (2023, p. 133): “é muito nítido concluir que estamos diante de uma estrutura social que ainda preserva o olhar colonialista sobre o papel que estas mulheres deveriam ocupar na sociedade”.
Quando não estão inseridas em ocupações ligadas ao trabalho doméstico, as mulheres negras enfrentam uma acentuada exclusão no mercado formal, que majoritariamente não as absorve. Esse cenário evidencia a persistência do racismo estrutural.
Isso posto, o objetivo deste texto é de produzir uma leitura que organize esses processos históricos e simbólicos no Brasil, que encarceram os corpos, punem negros e violentam e segregam os corpos femininos. Há uma política higienista no Brasil e o racismo é um vetor potente quando se fala em prisão.
2- Racismo e controle no sistema de justiça
O racismo estrutural perpetua essas condições, já que ele limita as oportunidades de ascensão social e educacional, inscrevendo o corpo negro nos espaços de servidão capitalista. Às mulheres negras fica reservado “lugares e espaços públicos delimitados: hipersexualização de seus corpos, a empregada doméstica, mãe preta que abandona seus filhos para cuidar dos filhos de suas patroas, mulata” (Gonzaga; Aguiar; Alves, 2023, p. 128). É evidente que o racismo estrutural é uma problemática histórica que permeia todas as esferas da sociedade. No Brasil, onde as desigualdades raciais são acentuadas, o encarceramento reflete as dinâmicas de exclusão e opressão, impactando de forma desproporcional mulheres negras. Para os autores:
Trata-se de uma forma de controle e segregação social da população negra através do sistema carcerário, que são creditados pela sociedade ao eleger esta parcela da população discriminada como “inimigos do Estado”, os quais tem seus direitos fundamentais vilipendiados apenas por serem negros, moradores de comunidades e muitas vezes por apenas terem acesso ao emprego informal no mercado de trabalho. (idem, p. 129-130).
Recordamos que o Brasil é um país com histórico escravocrata, e que ainda utiliza do controle e punição aos corpos negros, tornando emergente a discussão do encarceramento atrelado ao gênero, para que possamos ampliar o nosso olhar analítico para os vários fatores que se apresentam junto a este público. Essa questão reflete uma complexa interação entre o racismo, o sexismo e a desigualdade social.
Entende-se que o racismo, o sexismo e a desigualdade de classe não apenas marginalizam as mulheres negras antes da prisão, como interferem diretamente na maneira como elas são tratadas dentro do sistema de justiça criminal, o qual “tem profunda conexão com o racismo sendo o funcionamento de suas engrenagens mais do que perpassados por essa estrutura de opressão” (Borges, 2021, p. 21).
O judiciário, por exemplo, é composto por 84% de Juízes, Desembargadores e Ministros brancos, sendo que 64% deles são homens (Senappen, 2014). Ainda há que se pensar também, que as prisões foram pensadas por homens e para homens, o ambiente em si acaba por perpetuar a vulnerabilidade de gênero e, para além disso, o racismo institucional presente no sistema de justiça influencia desde a abordagem policial até a aplicação das sentenças. Germano; Monteiro; Liberato (2018, p. 29), acrescentam que
deve-se levar em conta os trâmites dos processos judiciais que frequentemente operam para a reprodução da injustiça social, com base no entrelaçamento da discriminação de gênero, raça-etnia e classe, desde a abordagem policial até o sentenciamento e a reclusão de mulheres. O resultado desse conjunto de fatores é visível no perfil sociodemográfico da população carcerária feminina em ascensão
O racismo estrutural desempenha um papel fundamental na criminalização das mulheres negras. A seletividade penal é evidente quando se analisa as estatísticas do encarceramento: enquanto mulheres brancas têm maior acesso a penas alternativas, as negras são mais frequentemente condenadas ao regime fechado. Além disso, dentro das prisões, as mulheres negras enfrentam condições desumanas, como superlotação, falta de acesso a produtos de higiene pessoal e assistência médica deficiente. Essas dificuldades são agravadas pelo fato de que as penitenciárias femininas são menos numerosas e estruturadas em comparação às masculinas, tornando o cumprimento da pena ainda mais degradante.
Esse fenômeno deve ser compreendido a partir de uma perspectiva que muito nos interessa, ou seja, a interseccional. Essa posição considera a sobreposição de opressões que essas mulheres sofrem, pois “a interseccionalidade não é narrativa teórica de excluídos” (Akotirene, 2019, p. 30). Para a autora, “[...] a interseccionalidade se refere ao que faremos politicamente com a matriz de opressão responsável por produzir diferenças, depois de enxergá-las como identidades”. (idem, p. 46). Enquanto ferramenta analítica para compreender as opressões estruturais, ela está intrinsecamente ligada a uma dimensão ética e política.
Assim, partindo da premissa de que a interseccionalidade trata de identidades sociais - gênero, raça, classe, deficiência, entre outras - e não opera de forma isolada, mas se sobrepõe e se coproduzir em determinados contextos sociais e históricos, “os letramentos ancestrais evitam pensarmos em termos como “problema negro”, “problema da mulher” e “questão das travestis”” (idem, p. 30).
No contexto carcerário, a invisibilidade da mulher negra está presente em diferentes níveis. Primeiramente, há uma ausência de políticas públicas voltadas para suas necessidades específicas, como acesso adequado à saúde, assistência jurídica e programas de ressocialização. Além disso, a mídia e a sociedade pouco discutem as condições de vida dessas mulheres, o que contribui para a perpetuação de sua marginalização.
Juliana Borges (2021), nos aponta a importância de atentarmos ao público feminino dentro do sistema prisional, trazendo o olhar da interseccionalidade para pensar medidas emergenciais, seja para mulheres em privação de liberdade, ou aquelas que se vinculam ao cárcere de maneira indireta devido à relação com seus familiares em privação de liberdade.
Tal situação dialoga com questões discutidas por Orlandi (2010), quando autora reflete sobre como os discursos jurídicos, institucionais e midiáticos contribuem para a construção de identidades femininas marcadas pela marginalização e pelo desvio das normas sociais e de gênero. Outro aspecto relevante é o impacto do encarceramento na maternidade. Muitas mulheres são responsáveis por seus filhos antes da prisão e enfrentam dificuldades para manter o vínculo familiar durante e após o cumprimento da pena. A falta de suporte institucional para essas mães demonstra a negligência do Estado em relação a essa população.
3- O tráfico como porta de entrada para a prisão
As principais razões para a prisão de mulheres estão relacionadas ao tráfico de drogas, muitas vezes cometido em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. “Esse salto do encarceramento feminino está atrelado à Lei nº11.343 de agosto de 2016 - Lei de Drogas, que não deixa especificada a quantidade de drogas que a pessoa precisa portar para ser considerada usuária ou traficante” (cf. Pinto; Moreira, 2023, p. 37). Além disso, há um alto índice de mulheres encarceradas por crimes não violentos, o que evidencia a rigidez do sistema penal para crimes de menor potencial ofensivo quando cometidos por pessoas negras e pobres. A criminalização dessas mulheres está diretamente relacionada às desigualdades estruturais que limitam suas opções econômicas, tornando o tráfico um meio de sobrevivência. Em entrevista para a Agência Brasil, a pesquisadora e autora do livro Tornar-se Mulher Usuária de Crack, Luana Malheiros, diz que o trabalho mais fácil para uma mãe de baixa escolaridade e sem acesso ao mercado formal é comercializar drogas. “O único trabalho mais acessível para a mulher sem escolaridade e com filho é o mercado local de drogas, que está crescendo cada vez mais e sempre tem um espaço” (Malheiros, 2023, s/p).
Em muitos casos, tais mulheres até trabalham, mas não são bem assalariadas e estão sujeitas a condições insalubres de trabalho. Comumente, vemos em universidades, hospitais, empresas e diversos estabelecimentos comerciais um contingente invisível de mulheres negras, em condições de risco e má remuneração, realizando um árduo trabalho de limpeza (Lima; Jeremias; Ferrazo, 2023).
Como se vê, o ingresso no tráfico se dá, na maioria das vezes, por necessidade econômica, falta de oportunidades de trabalho formal e, em alguns casos, por coerção de companheiros ou grupos criminosos. E diferente da imagem disseminada pelo discurso punitivista, tais mulheres não ocupam posições de destaque dentro das organizações criminosas. Na maioria das vezes, elas desempenham as funções de “mulas” (transporte de drogas) ou de “vapor” – venda direta ao consumidor (Barcinski, 2012).
É fundamental destacar que as dinâmicas de poder, tanto no contexto do tráfico de drogas quanto nas estruturas sociais mais amplas, tendem a posicionar as mulheres em situações de maior vulnerabilidade. Normalmente, os homens assumem os papéis de liderança e gerenciam as finanças, enquanto às mulheres são atribuídas funções secundárias, como o transporte de entorpecentes, o que as torna mais expostas aos riscos.
A mulher delinquente é frequentemente tomada não somente como transgressora da lei, mas como transgressora de um modelo social idealizado de feminilidade, o que resulta em sua dupla penalização. O processo de individuação do sujeito feminino delinquente é, assim, atravessado por discursos que reforçam estereótipos e controlam os corpos e comportamentos femininos. E para que ocorra essa individuação, o sujeito estabelece “um laço social mínimo que o signifique” (Orlandi, 2010, p. 18).
Diante da justiça, elas são severamente penalizadas, muitas vezes até recebendo punições superiores àquelas impostas a homens que ocupam posições de maior comando, demonstrando uma problemática envolvendo não só a raça, mas também o gênero. Quando unimos a questão racial e a de gênero, constamos uma discriminação reiterada, por uma dupla jornada de preconceito. Há uma série de reprodução negativa referente ao malandro, ao mestiço, mas quando se atribui esses fatores à mulher, principalmente a negra, ocorre um agravamento. Ela é espaço para a imaginação de que não se trata apenas da preguiça, mas também das práticas sexualmente “condenáveis”.
A guerra contra as drogas tem sido um instrumento de controle social que criminaliza especialmente pessoas negras e pobres (cf. Davis, 2024). Enquanto mulheres brancas envolvidas em crimes similares têm maiores chances de responder em liberdade ou receber penas alternativas, as mulheres negras são, na maioria das vezes, submetidas ao regime fechado. Além disso, há um viés discriminatório na aplicação das leis antidrogas, que frequentemente classificam usuários brancos como dependentes químicos e pessoas negras como traficantes, independentemente das circunstâncias do flagrante.
Não são apenas as mulheres negras que são afetadas pelo encarceramento, mas também seus familiares e até a comunidade onde elas vivem. Muitas delas são mães solteiras e chefes de família, o que significa que, ao serem presas, seus filhos ficam desamparados e podem ser encaminhados a algum familiar ou para abrigos.
Além disso, o sistema prisional brasileiro é notoriamente precário para atender às necessidades das mulheres. A falta de acesso a produtos de higiene, a superlotação e a violência institucional são algumas das adversidades enfrentadas por essas presas (Borges, 2021). A ressocialização também é um desafio, pois a maioria sai do sistema penitenciário sem apoio para reinserção no mercado de trabalho, aumentando a probabilidade de reincidência criminal.
Diante de tal cenário, faz-se necessário discutir políticas públicas que reduzam o encarceramento feminino, em especial de mulheres negras, e buscar solucionar essa problemática por meio de alternativas mais eficazes e humanizadas. Em crimes sem violência, por exemplo, como o tráfico de pequenas quantidades de entorpecentes, penas alternativas podem evitar a prisão desnecessária e permitir que essas mulheres retornem ao convívio em sociedade. “Criar projetos de desencarceramento e ampliar o leque de alternativas nos ajudam a colocar em prática o trabalho ideológico de desmontar o vínculo conceitual entre crime e castigo” (Davis, 2024, p. 121).
Já no caso das mulheres que são mães, programas que lhes garantam manter o vínculo com os filhos, assim como políticas que priorizem medidas socioeducativas no lugar da reclusão para gestantes e mães de crianças pequenas. É necessário também que haja um apoio a essas mulheres quando elas estiverem fora do sistema prisional. Programas que garantam o retorno ao mercado de trabalho podem ser um caminho para evitar a reincidência. Malheiros (idem, s/p) ainda acrescenta que deve haver uma política com redução de danos e que proporcione projetos sociais a essas minorias. Para a autora, quando há a defesa de política para reduzir danos, com justiça social e reparação, há a possibilidade de se pensar para esses locais uma presença de Estado diferente. É necessário haver um cuidado do sujeito dentro da comunidade, proporcionando arte, cultura e diversos recursos terapêuticos.
Não devemos esquecer que a justiça criminal brasileira é marcada por desigualdades raciais evidentes. É fundamental haver uma reformulação no sistema judiciário para que as mulheres não continuem a ser condenadas de maneira desproporcional, pois, muitas vezes, as políticas públicas de segurança e justiça reforçam práticas punitivistas em vez de considerar os contextos sociais e simbólicos que atravessam essas mulheres.
4- Considerações Finais
A leitura que empreendemos neste texto toma a interseccionalidade da mulher negra no sistema prisional brasileiro como um lugar de produção das dinâmicas de opressão que permeiam essa população. A articulação entre gênero, raça e classe social revela como as estruturas do racismo institucional, do patriarcado e das desigualdades socioeconômicas contribuem para o encarceramento em massa de mulheres negras no Brasil. Assim, compreender “o racismo e toda sua metodologia, bem como estruturas com cargas político-sociais, requer um grande esforço de toda sociedade para conseguir entender suas interseccionalidades e estruturas enraizadas em todos os espaços públicos e institucionais” (cf. Gonzaga; Aguiar, Alves, 2023, p. 124).
O índice de mulheres jovens e mães, presentes nos presídios brasileiros, evidencia a principal porta de entrada para o encarceramento feminino: o tráfico de drogas, refletindo desigualdades históricas e estruturais, refletindo como a seletividade penal opera de maneira punitivamente desproporcional quem ocupa posição de maior fragilidade social. A ausência de distinção clara entre usuárias e traficantes, aliada a um judiciário atravessado por estereótipos racistas e misóginos, resulta na prisão massiva dessas mulheres por crimes de menor potencial ofensivo. Tal realidade reforça a urgência de revisões na legislação de drogas e na formulação de políticas públicas focadas em medidas socioeducativas e alternativas ao encarceramento, pois, do contrário, em vez do sistema penal atuar para reduzir essas desigualdades, reforça o ciclo de marginalização e exclusão social.
As políticas punitivistas, aliadas a um Estado historicamente negligente na promoção de direitos fundamentais, ampliam a vulnerabilidade dessas mulheres, consolidando um ciclo de marginalização e criminalização. Além de tais condições externas, elas também enfrentam grandes desafios ao adentrar nas unidades prisionais. A falta de acesso à saúde adequada, incluindo atendimento ginecológico e obstétrico, o desrespeito aos vínculos maternos e a precariedade na assistência jurídica são fatores que agravam as violações de direitos dessa população. Diante desse cenário, é imprescindível que o Estado e a sociedade civil se mobilizem para reformular as práticas punitivas e ampliar o acesso à justiça e à dignidade para essas mulheres.
Compreender a situação da mulher negra no sistema prisional brasileiro permite evidenciar como as desigualdades estruturais moldam as trajetórias dessas mulheres, desde antes do encarceramento até o momento em que elas são postas em liberdade, para que assim, por meio da formulação de políticas públicas antirracistas e de gênero, seja possível transformar essa realidade, com o intuito de mitigar os impactos negativos do aprisionamento e garantir uma reinserção social com dignidade e eficácia, além de garantir educação, acesso à saúde e oportunidade de emprego como maneiras preventivas ao encarceramento. Somente com um compromisso efetivo contra o racismo estrutural e o machismo é que será possível construir um sistema penal mais justo e menos excludente.
Referências:
AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 152 p. (Coleção Feminismos Plurais, coordenação de Djamila Ribeiro). Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1154/o/Interseccionalidade_%28Feminismos_Plurais%29_-_Carla_Akotirene.pdf?1599239359. Acesso em 30 de setembro de 2024.
BARCINSKI, Mariana. Mulheres no tráfico de drogas: a criminalidade como estratégia de saída da invisibilidade social feminina. Contextos Clínicos, vol. 5, n. 1, janeiro-junho 2012. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-34822012000100007. Acesso em 15 de fevereiro de 2025.
BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaira, 2021.
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). Plano Nacional de Política Penitenciária. Disponível em: https://www.gov.br/senappen/pt-br/pt-br/composicao/cnpcp/plano_nacional/plano-nacional-de-politica-criminal-e-penitenciaria-2020-2023.pdf. Acesso em março de 2025.
DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/trans/a/FScyDnYgTQHYxtCYnHLbMqv/#:~:text=Sua%20autora%20%C3%A9%20Angela%20Davis,%20uma%20das%20mulheres. Acesso em 25 de out. de 2024.
GONZAGA, Álvaro de Azevedo; AGUIAR, Gisele; ALVES, Willi Fernande. Sistema Prisional no Brasil e as Mulheres Negras. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas, UNIFAFIBE, Vol. 11, N.2, 2023. Disponível em: http://www.unifafibe.com.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/index. Acesso em 22 de março de 25.
LIMA, Fernanda da Silva; JEREMIAS, Jéssica Domiciano Cardoso; FERRAZZO, Débora. Como gênero e raça estruturam o sistema prisional: Diálogos com Angela Davis sobre racismo e sexismo no controle punitivo brasileiro. Rev. Direito e Práx., Rio de Janeiro, Vol. 15, N. 2, 2024, p. 1-29. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rdp/a/F8L7VQ6hndHQvFpnkqR4bKd/?lang=pt. Acesso em: 18 de março de 2025.
MALHEIROS, Luana. Pobres e negras estão na ponta da superexploração do tráfico de drogas. [entrevista concedida a] Daniel Melo. Agência Brasil, São Paulo, 2023. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-04/pobres-e-negras-estao-na-ponta-da-superexploracao-do-trafico-de-drogas. Acesso em: 22 de março de 2025.
ORLANDI, Eni Puccinelli. Formas de individuação do sujeito feminino e sociedade contemporânea: o caso da delinquência. In: ORLANDI, Eni Puccinelli (org.). Discurso e políticas públicas urbanas: a fabricação do consenso. Campinas: Editora RG, 2010. p. 11-42.
PINTO, Poliana de Oliveira; MOREIRA, Lisandra Espíndula. Interseccionalidade de Mulheres Privadas de Liberdade e a relação de poder no sistema prisional. Revista Brasileira de Execução Penal, Brasília, v. 5, n.2, jun/dez 2024.
ZOPPI-FONTANA, Mónica. Identidades (in)formais: contradição, processos de designação e subjetivação na diferença. Organon, Porto Alegre, v. 17, n.35, p. 245-282, 2003. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/30027/18623. Último acesso em 20 de nov. de 2024.
Data de Recebimento: 31/03/2025
Data de Aprovação: 25/05/2025
1 De acordo com o Institut for Crime & Justice Policy Research (2022) o número de mulheres e meninas privadas de liberdade aumentou de forma significativa em vários países desde o ano de 2000. O relatório ressalta que 200.000 mulheres e meninas privadas de liberdade estão em território estadunidense, seguido da China com 145.000 mil mulheres e meninas, em terceiro lugar vem o Brasil com 42.694 mulheres e meninas privada de liberdade e a Rússia com 39.120 mulheres e meninas (cf. Pinto; Moreira, 2024, p. 37).