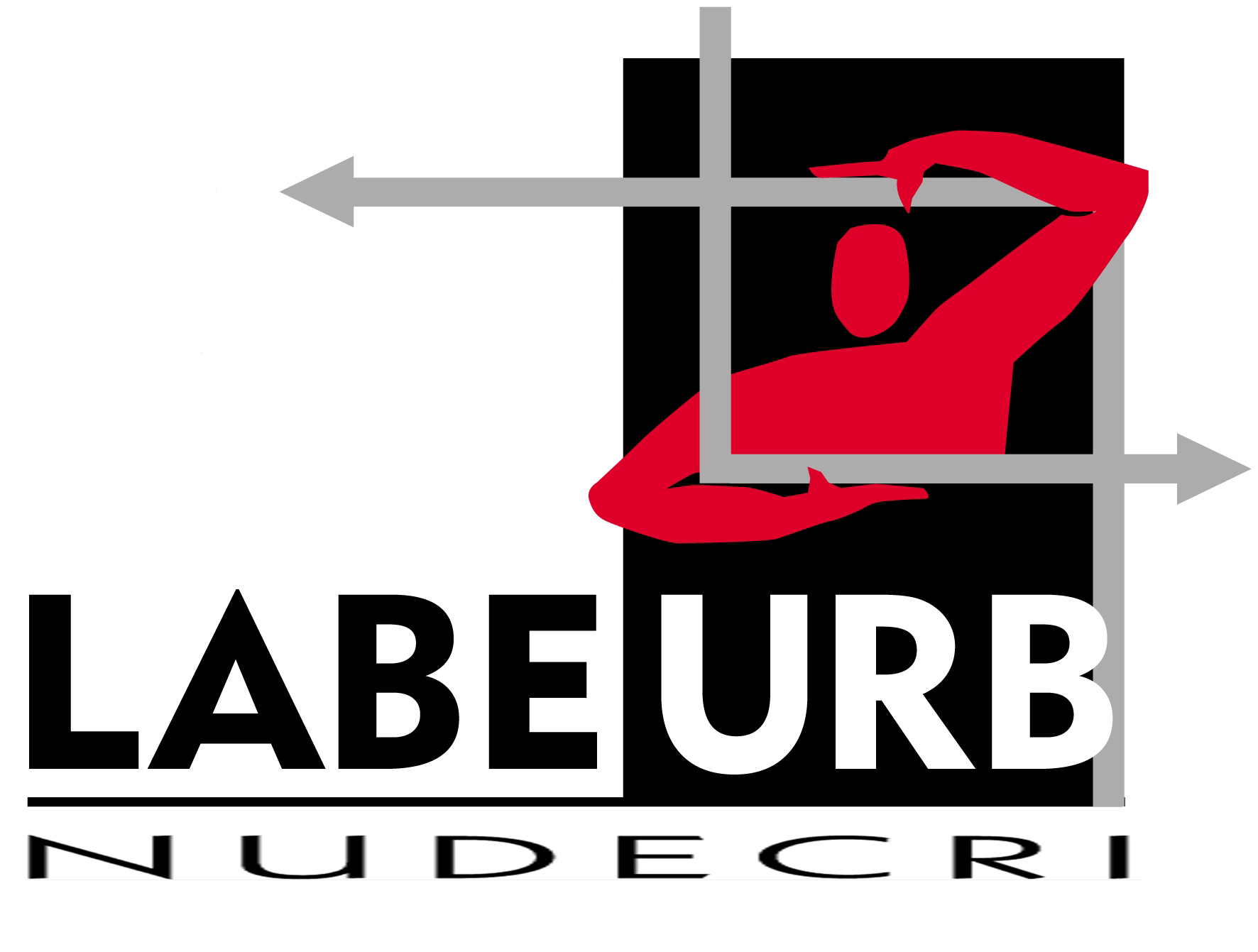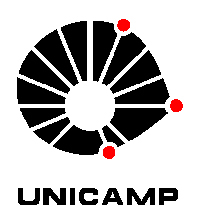Roupa, dor e fé negra: o acontecimento discursivo da intolerância religiosa na imagem


José Magno de Sousa Vieira
Uma entrada pela cor na palavra
Ele reconheceu a ignorância de seus contemporâneos do século XIX. Em sua autobiografia, ele contou a história de uma mulher africana que pulou de um penhasco direto para a morte ao invés de se submeter à escravidão nas mãos dos portugueses. Darwin observou que se ela tivesse sido uma senhora romana da antiguidade clássica suas ações teriam sido encaradas diferentemente e batizaríamos nossas filhas em homenagem a ela. (Neil deGrasse Tyson)
A cor dita pelo termo “africana”, ao dizer de África, escamoteia o nome próprio. O que chega a nós, através da reflexão de Darwin, trazida por Neil deGrasse Tyson, um astrofísico negro norte-americano, exprime a tentativa de tomar a África negra como que encapsulada pelo nome África, ao passo que imprime a ausência do processo de identificação do corpo negro que se anula no não nomeado que a designação “mulher africana” materializa discursivamente.
As palavras se tingem e são tingidas por uma maleabilidade que leva o suicídio do corpo negro trazido à tona a um lugar de enunciação que mobiliza sentidos derivantes. Um desses sentidos seria o dilema determinante dos processos históricos, ao menos na conjuntura invasiva do eurocentrismo em África e América, a saber, a resistência à escravidão é a não resistência a não ser livre?
A textualização da resistência do sujeito nomeado pelo nome próprio, está determinada pela forma material da cor de pele apresentada de modo que a história denomine para além da designação “mulher africana”, nomeando-a como se aponta na epígrafe com a modalização que a plasticidade da língua viabiliza? Ou melhor, a cor de pele de uma “senhora romana da antiguidade clássica” ao inserir-se, em um outro tópos, evoca a necessidade do nome próprio, uma vez que pela repetição sedimentaria um novo termo determinado a ser dado a mulheres, não pela diferença entre heroísmo e suicídio, mas pelo fato de que a cor da pele remodela os sentidos, endeusa e demoniza os corpos, a depender do lugar, da indumentária, da cor, da crença e do saber.
A partir de tal abertura, penso a questão da cor da pele nas discursividades que tencionam as formações imaginárias a partir das quais o sentido se instaura ao ser negro e à sua cultura em uma sociedade como a nossa, que perpassa questões mal resolvidas na estrutura da formação do Brasil. Tais tensões evocam a interpretação por meio de pré-construídos específicos que reprimem o sentido da cor negra em uma espessura semântica mantenedora do olhar subjetivo para a cor, para o corpo, para as palavras que se repetem e sustentam a interpretação hegemônica do olhar.
As palavras endereçadas àquilo que é constitutivo do sujeito negro se mostram na superficialidade da ausência de conhecimento e, mais que isso, do desinteresse pelo conhecimento e reduzem o olhar confortável do – pseudo (branco e cristão?) – ocidente à demonização daquilo que atravessa uma cultura outra pela indumentária, por exemplo. Eis o acontecimento que me interessa aqui pormenorizar, para além de uma exegese. Os processos de significação do corpo negro de sujeitos que, pelos processos de significação, são significados no lugar de enunciação que discursiviza sua fé e sua crença como perigosas. Os corpos de tais sujeitos são lidos a partir da materialidade significante de suas roupas.
Quando um motorista de aplicativo recusa uma corrida para levar uma família por conta de seus trajes religiosos, pergunto pelo que atormenta o gesto de interpretação do analista. Este acontecimento evoca a noção de interdiscurso, portanto. É preciso perguntar, sustentado em Pêcheux, por aquela coisa que fala antes, em algum lugar e independentemente. É preciso perguntar pelas relações de força que pressionam o acontecimento histórico e o perfazem em acontecimento discursivo.
O que volta quando, pela língua em distintas materialidades significantes, indistintas falas sustentam a manutenção de uma formação imaginária que significa o negro em um sítio de significação determinado e ao mesmo tempo movimenta memória e atualidade na lida interpretativa do corpo que se veste de negritude e textualiza a fé pela roupa? O que resiste ao corpo preto em uma roupa branca e que nem sempre “limpa” o racismo? As religiões de matriz africana têm que sentidos quando se textualizam no corpo morfológico das palavras, as quais aparentam ser sempre destinadas a significarem a partir das posições dos sujeitos?
O corpo e a palavra que lhe reveste de sentidos
A questão do corpo, tomado em uma instância de discurso, remete ao que se materializa pelo simbólico em uma tomada de posição que o compreende a partir das formações imaginárias que o revestem de sentidos historicamente determinados. Há, portanto, uma escrita do corpo negro, vinda de fora de sua conjuntura ideológica. Nela, o sentido formula uma relação entre este e uma dada ojeriza ao que a ele se reporta quando se fala de artefatos culturais, estes demarcados em condições de produção que projetam nos corpos dos sujeitos negros sentidos que atribuem negatividade ao que constitui sua identidade, o que se dá a partir dos processos de identificação que forjam, entre outras coisas, sua religião.
Nos termos de Orlandi (2017a, p. 34), “Todo corpo é investido de sentidos enquanto corpo de um sujeito que se constitui por processos nos quais as instituições e suas práticas são cruciais, da mesma forma que, ideologicamente, somos interpelados em sujeitos”. Assim sendo, o atravessamento de elementos constitutivos dos processos de significação opera lançando sobre o sentido de corpo a sustentação daquilo que os faz significar no social que os movimenta.
Os sentidos vinculam-se e validam-se em lugares legitimados a partir dos quais o apontamento do que corta o corpo para marcar-se nele textualiza, entre outras coisas, sua própria cadeia constitutiva que chama o corpo a significar pelo modo como ele é nomeado. Assim sendo, o corpo é atravessado e deslocado para significar de acordo com o modo como um outro corpo, o social, o designa. Este funcionamento eficaz da ideologia é demarcador da maneira como, pela língua, pelo uso de palavras específicas, a imagem do corpo se calcifica, se enrijece e nem sempre resiste aos pré-construídos que o orbitam e tornam opacos seus processos de identificação.
A relação entre corpo e discurso remete ao fato de que aquele, em relação com o espaço e a subjetividade, seria “uma materialidade significante produzida historicamente” (Gregolin, 2015, p. 203). Assim sendo, compreendo esta materialidade significante atacada e atingida em um espaço demarcado pelo modo como o outro a textualiza a partir de uma conjuntura que desloca, às vezes forçosamente, sua identidade.
O corpo negro ao resistir a uma prática de intolerância religiosa que deriva em racismo religioso, segue sendo parafraseado no social que repete um sentido a tilintar que instala-se contrapondo o desconhecimento deste corpo frente ao conhecimento do outro corpo, o não negro, que se toma como baliza do que se deve almejar ser, se não pela cor em si, pelas práticas, entre elas as religiosas, que são tomadas no lugar positivo que ata corpo e cor pela materialidade significante da roupa que o reveste. O branco vestido do branco do candomblé é ressignificado e também vítima de intolerância porque, mesmo sendo branco, ao vestir-se deste branco, pratica coisa de preto.
Orlandi (2017a) pensa o corpo enquanto situação. Em tais termos, em análise de discurso, o corpo é tomado em suas dimensões sócio-históricas e simbólico-políticas. Nesse entendimento, a autora fala em sujeitos-corpo, os quais “deslocam-se, irrompem em seus percursos constituindo uma população não homogênea, ligada a diferentes percursos de memória, fazendo-se outros, tornando o espaço de existência um espaço complexo” (Orlandi, 2017a, p. 73).
O corpo do sujeito negro, por exemplo, é um corpo conjugado de subjetividades que comungam de elementos socialmente instituídos e sofrem juntos os efeitos dos pré-construídos que os forjam e que se formulam sobre eles. No espaço das contradições que implicam o ser em um corpo negro arrola-se a complexa rede de relações que traçam o sujeito e o enlaçam na teia dos sentidos que o configuram e ressignificam pelas vestes tensivas do que seria pior que ser negro, ser praticante de uma ‘coisa de negro’ como uma religião de matriz africana.
Como Orlandi (2017b, p. 83) apregoa:
Considerando a materialidade do sujeito, o corpo significa. Em outras palavras, a significação do corpo não pode ser pensada sem a materialidade do sujeito. E vice-versa, ou seja, não podemos pensar a materialidade do sujeito sem pensar sua relação com o corpo. Por isso, nos interrogamos: como juntar corpo, sujeito, sentido, pensando a questão da materialidade discursiva?
A imbricação entre sujeito e corpo se dá, portanto, pela história de sua constituição. O corpo vivencia o real que a história toca na relação que, pela língua, se dá a ler. Se o sujeito é atravessado pelo que dá forma material ao corpo, isso acontece porque os processos de significação impulsionam a materialidade significante que, ao se tecer pela língua, toca, entre outras coisas, a cor do sujeito, a religião do sujeito. Pelas relações que o sujeito estabelece com o corpo social, este construto de circunstâncias configuradas na base dos processos discursivos que é a língua, ele, pelo corpo, se institui em sujeito.
Nesse entendimento, Orlandi (Op. Cit.) reporta a Pêcheux para alinhar a aglutinação do sujeito e do sentido pela materialidade discursiva via materialidade da língua e da história. Assim, toca-se no real constitutivo do corpo do sujeito de direito que, mesmo tendo o direito de ser negro e de professar a fé negra, tem jogado sobre ambos os direitos a imposição da negativa impressão daquilo que o constitui.
O acontecimento discursivo pela imagem
Uma questão que se abre da reflexão sobre o significante está relacionada com a repetição que, nos termos de Henry (2013), é a volta do mesmo. Para o autor, a definição de língua permite justamente isso, ou seja, “o registro da materialidade do que se repete realmente no discurso ou na fala enquanto fala verbal ou discurso verbal (ou gráfico) para além de todas as variações de forma ou substância” (Op. Cit., p. 155). O mesmo emenda tal discussão para um encaminhamento pertinente, o qual apregoa que a língua, ao ser expandida para uma instância de linguagem, ao ser tomada enquanto objeto de conhecimento atrelado com o simbólico desemboca no seguinte fato, o de que “o simbólico é aquilo que, na linguagem, é constitutivo do sujeito como efeito”. (idem, ibidem).
Nessa esteira, temos que, ainda conforme Henry (2013), a relação que há entre imaginário e real necessita de uma entrada pelo simbólico. O corpo, entendido nesses termos, é atravessado pela linguagem que retroalimenta o imaginário sobre ele. O sujeito não está no corpo, está discursivizado para além de si em uma relação com a história. Os processos de identificação, que se dão em relação com o simbólico, se coadunam com o significante, uma vez que “toda identificação é identificação do significante” (Henry, 2013, p. 168). Nesses termos, o sujeito que nos interessa está imbricado no imaginário que reverbera nele e emana de suas vestes, da indumentaria que diz de uma fé negra, mesmo quando praticada por brancos.
Trago mais uma vez Henry (2013, p. 182-183) para provocar a verticalização necessária ao que estou tomando aqui enquanto corpo na relação com o sujeito:
O sujeito é sempre, e ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo inconsciente, e isso tem a ver com o fato de nossos corpos serem atravessados pela linguagem antes de qualquer cogitação. Ver nisso apenas o fundamento de uma alienação quase existencial é esquecer que a linguagem, é também o que torna possível uma apropriação do real como da discordância do sujeito com sua própria realidade...
Olhar analiticamente para o sujeito que ataca uma ideologia a partir de uma dada formação ideológica, pela maneira como dele emanam formações imaginárias determinantes dos processos de significação, é compreender a relação entre corpo e linguagem e, nisto, tomar a questão tensiva do corpo de linguagem que pelo simbólico se significa. O corpo do outro é significado por quem, ao dizer ou ao agir, também se significa e ressignifica o corpo do outro.
Após ter tecido a compreensão do corpo por meandros discursivos, passo a abordar as condições de produção do objeto de discurso cujo teor analítico já introduzi, colocando-o em relação com o dispositivo teórico-analítico por meio do qual invisto neste gesto de análise.
Uma câmera capta uma cena que o discurso jornalístico recorta em um “abril despedaçado” que não diz de vingança, mas diz de vítimas. No caso, vítimas de uma prática designada em um momento inicial como intolerância religiosa, em outro, a partir da entrada no jurídico como sendo preconceito religioso, na cidade de Caxias, estado do Rio de Janeiro, Brasil.
No dia 29 de abril de 2023, a câmera registra o momento em que quatro mulheres, três delas vestidas de roupa de santo, são impedidas de iniciar uma corrida pelo motorista de aplicativo de mobilidade. O destino da corrida era um terreiro de candomblé.
Imagem 1: Reportagem sobre intolerância religiosa

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
Ao tomar a imagem pelo equívoco textualizado em suas composições, sustento o gesto de descrição da mesma nos termos de Lagazzi (2015), a qual compreende os trajetos de memória na materialidade significante da imagem a partir de procedimentos parafrásticos. Quatro mulheres brancas são vítimas de intolerância religiosa por conta de sua indumentária. Uma delas, a mais velha (Vera Rocha), é espírita, não é praticante de candomblé, a nora (Taís Fraga e as filhas Pietra, a caçula, e Sofia, a mais velha), sim. Taís foi iniciada no candomblé aos 9 anos de idade.
Uma mixagem entre imagens e textos lidos vão compondo o acontecimento e configurando um sentido que direciona a reflexão para um lugar específico. As pessoas envolvidas no ato de intolerância religiosa não são negras. No fotograma, o carro aparece, a primeira mulher, apenas de branco e sem roupas de santo, não assusta. Nada se marca sobre seu corpo, a significando em outro lugar distinto do lugar que, pelas formações imaginárias que funcionam nos processos de significação do motorista de aplicativo, não o desidentificam dela, mas das demais. A escolha para que a reportagem seja feita por um repórter negro significa na imagem, mesmo que a esse respeito nada se mencione.
Na própria reportagem, nada se tenciona a respeito de racismo, o recorte se dá em uma tópica bem delimitada, a da intolerância religiosa. O que estou tencionando neste gesto de interpretação é justamente a necessidade de, pela memória discursiva, compreender que algo funciona antes da intolerância religiosa ou do preconceito religioso, não pormenorizo o uso de um ou de outro termo, verticalizo o fato de que ambos sedimentam um funcionamento historicamente determinado, o negro, seu corpo, sua dança, sua indumentaria, sua fé, enfim, e sem que isso incorra em reducionismo, a coisa de negro sempre retorna, mesmo que praticada pelo corpo branco como o das mulheres que a reportagem traz porque, o que se tematiza é da ordem do ser de origem negra.
É preciso aqui especificar o que se toma como formação imaginária e como o funcionamento da memória a partir dos pré-construídos que repetem e acionam sentidos específicos, mesmo quando não são os corpos negros que bradam por respeito na cena prototípica.
Para Pêcheux (2014a, p. 82):
[...] o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos mecanismos de qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas situações).
Na relação estabelecida com o que se recorta e com os sujeitos chamados a dizer no acontecimento televisionado, os lugares ocupados pelos sujeitos instauram também uma imagem, outra silenciada, o motorista em si não aparece. O enquadramento da imagem não textualiza o corpo do sujeito do qual emana a intolerância. O acesso que temos de suas posições vincula-se e sustenta-se no que se diz sobre ele.
Ainda no que concerne à noção de formações imaginárias, retomo algo que já defendi quando pontuei, isto é, que
é possível compreender que todo processo discursivo terá em si as formações imaginárias constitutivas daquilo que se recorta enquanto formação discursiva. Ou seja, os processos discursivos estão condicionados às formações imaginárias que os constituem; o lugar a partir do qual se enuncia, se fotografa e se registra uma imagem se enlaça ao próprio projeto da imagem (Vieira, 2022, p. 30).
Pelo fotograma a seguir, tal recorte demarca, na composição que o formula, um movimento de sentidos que se materializam na textualidade da imagem e que são passíveis de interpretação. O relato inicial vai sendo ‘comprovado’ pelas imagens. As imagens em tela se redimensionam da sala da casa das mulheres e se deslocam para a rua. O carro para, a mulher “apenas de branco”, a princípio não assusta.
A entrada de outras mulheres, estas com roupa de santo, entre elas duas crianças, no enquadramento da imagem também representa a entrada de uma formação discursiva de matriz afro-brasileira que implica fé e esta entra em atrito com uma outra formação discursiva, remodelando as condutas e ressignificando a composição da imagem. A partir da inserção da roupa de santo, entra no jogo da imagem a identificação negra, a religião negra, a memória discursiva no motorista que não tem mais que suas mãos materializadas na imagem, desloca ele de lugar e mantém as mulheres.
O recuo das crianças e a ira da avó deixados para trás, afetam quem vê. O repórter se instaura na imagem e aponta para a câmera atrás dele, a responsável por dar materialidade aos relatos. Volta-se à sala da casa. Nela, o olhar das crianças, vítimas de uma coisa que vem de antes delas e aponta para algo que precede seus corpos, deiticamente rebobina-se uma memória sobre o corpo negro que usou estas roupas antes de seus corpos.
O sentido atualizado nos corpos brancos delas é a materialidade significante que, pelo simbólico, em suas roupas, reporta a uma fé que advém de um segmento historicamente compreendido no lugar negativo. O projeto da imagem está enlaçando-se em cenas prototípicas que se sedimentam em todo o fazer e ser negro. O corpo branco a se vestir desse fazer e ser também estará determinado por um olhar que o lerá a partir desta formação imaginária.
Fotograma 1: Sequência de imagens recortadas da reportagem

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
Fotograma 2: Enfoque no olhar das mulheres vítimas de intolerância religiosa


Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
A composição da cena entre imagens e falas como estas formula uma materialidade significante que intenta levar a discursividade para o lugar da evidência. Algo como “É claro que foi isso, as imagens mostram” se vê parafraseando as imagens. Analiticamente, no entanto, o que precisa ser feito é deslinearizar a sequência para compreender na formulação da imagem aquilo que, pelo fotograma, segundo Lagazzi (2015, p. 182): “dá a dimensão da relação corpo/entorno pelo exercício da paráfrase”. O que faz pensar sobre as relações que se dão entre o corpo dos sujeitos e o que os circunda a partir do enquadramento dado a eles, os corpos/sujeitos e os outros elementos que em conjunto compõem a imagem.
Assim, penso a relação corpo e roupa (de santo), corpo branco e roupa branca (que reporta a coisa de preto). Corpo reportado e corpo do repórter negro escolhido para narrar a estória e guiar o trajeto de leitura na reportagem. Ao motorista, a figura da primeira mulher não assombra, não assusta. Ela está de branco e é espírita, mas sua roupa branca não “denuncia”, não aponta para o lugar de uma religião que baila no gingado negro. Os corpos das outras mulheres, ao contrário, pela configuração das roupas, configuram o não tolerado e que deve ter negado o acesso à mobilidade.
A ira da mão erguida e depois apontada em direção ao carro da avó/sogra é materialidade significante que se dá a ler na imagem. Pormenorizo os olhares e com o que Lagazzi (2015) estabelece na relação entre formulação visual e intradiscurso. O que é recorrente no interior do discurso da imagem é o endereçamento de um foco secundário à criança. Ela não diz com palavras em momento algum na reportagem, mas o olhar dela está nos recortes. A formulação visual instaura intradiscurso e direciona-se para uma compreensão da intolerância religiosa na repetição do que não se deve fazer com uma criança.
Nas imagens, é a criança a primeira a investir a entrada no carro e a primeira a recuar sua entrada a partir da recusa. Olha para os adultos e sobre ela recai algo que não se verbaliza por eles, mas que a imagem registra. A tenra idade já lida com algo sem entender o que isso quer dizer.
Fotograma 3: relato dentro de casa e registro do fato na rua


Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
O entra e sai das mulheres nas cenas tece um movimento que lateja no olhar, algo da ordem do inconformismo. O semblante delas, o susto na jovem, o olhar incrédulo da senhora, a vontade de falar que extrapola o verbal e se aloja e pulveriza nos corpos, mesmo quando em silêncio algo se diz, o que direciona a interpretação para o lugar da tensão. A composição da imagem com o carro parando para a senhora, a porta se abrindo, a criança com um pé dentro do veículo e o outro na rua, a saída da mesma, o dedo apontado da avó no meio da rua como quem grita com o restante do corpo também, a mãe na calçada e as filhas indo para perto dela, o carro indo embora, a avó incisivamente demonstrando incredulidade, angustia, ira, abandono, impotência diante de uma coisa que em um “mundo semanticamente normal” e de tolerância, como pegar um transporte de aplicativo, seria da ordem do corriqueiro.
Uma mãe pede um transporte de aplicativo, o motorista chega, os passageiros embarcam, eles seguem caminho até o destino. A corrida é finalizada e ambos seguem suas vidas. Mas ‘o mundo’ e os corpos do mundo não são ‘semanticamente normais’. Pelo contrário, a ideologia atravessa práticas sociais que seriam corriqueiras como estas e por meio das formações ideológicas nas quais se forja, o sujeito se vê atravessado por formações ideológicas outras e, ao colocá-las em relação com as suas corrobora em formações discursivas como as em tela que materializam, via imagens, movimentos de sentido que retomam memórias discursivas fazendo funcionar sentidos que se formulam no lugar tensivo de uma rua, por exemplo.
Imagem 2: Investida e saída das mulheres

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
Na relação entre as imagens 2 e 3 se configura o murmúrio e o atrito a partir dos objetos que se movimentam. O carro aberto, a investida da criança para seu interior, seu recuo, o corpo da avó curvado para a janela do carona e seu olhar direcionado para o lugar que o motorista ocupa, a posição ereta da avó após a arrancada do carro, seu dedo indicador como a apontar o dedo e o analista disposto na posição do imbecil, como nos diz Pêcheux (2015), olhando para o que circunda o centro da imagem. A ira da senhora deixada para trás com sua família no enquadramento da imagem textualiza a covardia que carrega o preconceito do sujeito intolerante à roupa que veste o corpo discordante e despe a intolerância religiosa pela “fuga” do carro que vai saindo do quadro da imagem.
Imagem 3: Murmúrios e atritos a partir da indumentária candomblecista.

Imagem 4: Ressignificação da roupa de santo na rua reportada

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
Na conjuntura contemporânea, a imagem de mulheres em roupas de santo assusta os segmentos cristianizados mais conservadores. É como se o mal adentrasse em um veículo de cristão porque as vestes apontam para o lugar da fé e da crença negros de não cristãos. O terno e gravata e o vestido longo aparentam não serem trajes religiosos, mas a entrada em um templo neopentecostal desloca para eles também uma identificação religiosa, esta, porém, coadunada com a fé cristã.
Desse modo, Pêcheux (2014b, p. 198) apregoa que, pela identificação, a formação discursiva “representa as formações ideológicas que lhes são correspondentes. [...] a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se realiza pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina”. Ao dizer não à corrida, o sujeito colocado em uma relação trabalhista de “uberização” se coloca instado a identificar-se em uma formação discursiva anti-candomblecista/anti-povo de santo.
Imagem 5: A posição de matriarca que discursiviza a fé.

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
O elemento significativo repetido nas imagens, a roupa de santo sobre corpos femininos brancos, instaura um sentido que dá liga ao processo de identificação religiosa. Os pré-construídos, no interdiscurso, trazem o já dito, que se instaura e continua no que se perfaz em relação à memória. Estes sentidos que ecoam encontram-se com a materialidade significante da imagem para se colocarem em relação com aquilo que nela se textualiza.
Imagem 6: Ajustes que discursivizam o lugar da fé.

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/05/01/familia-com-roupa-do-candomble-acusa-motorista-de-aplicativo-de-preconceito-religioso.ghtml
A mãe “conserta” a filha, ajusta sua indumentária esteticamente para inseri-la em uma configuração que a inicie em um processo de identificação do sujeito candomblecista. Mas este “conserto” é um ajuste, uma sintonia fina da indumentária que funciona e é aceita em uma formação discursiva na qual ambas se inserem, a candombleista. Assim, frente a formações imaginárias que poderiam dizer, no social: “o corpo branco não deveria usar roupa de santo”, há a resistência pela roupa de santo no corpo branco de uma mulher e de suas filhas. Uma memória atualiza-se com o acontecimento de mulheres brancas serem vítimas de intolerância religiosa pela identificação que têm com uma religião que não deveria ser natural a elas.
A entrada analítica, pelo modo como se verbaliza a questão tencionada, verticaliza o passo a passo descrito vinculando-o às imagens já trazidas. A seguir trago alguns trechos recortados das falas dos que dizem no discurso da reportagem, tomados enquanto marcas formais, aos quais dou consequência em sequências discursivas (SDs).
TÁIS: Sempre tive ... essa vontade de que as minhas filhas também vivessem isso porque... Porque em todas as religiões levam os seus filhos desde criança pra ser da mesma religião que eles são...
Ao passo que a câmera foca nos rostos das mulheres o repórter negro Rogério Coutinho diz o que segue:
Repórter Rogério Coutinho: Uma família inteira que acredita no respeito e é orgulhosa de suas crenças. Mas ontem, ao viver a fé, foi duramente ferida.
TÁIS: Hoje eu tô bem triste. Ainda tô triste. E sinto que vou ficar ainda bastante tempo.
Corta para a cena do acontecimento gravado ao passo que o repórter volta a narrar e descrever a história:
Repórter Rogério Coutinho: O motivo da dor tem a ver com preconceito e intolerância. Elas foram surpreendidas pela reação de um motorista de aplicativo que se prontificou a atender a um chamado. Nas imagens o carro chega e é recebido pela dona Vera, que está vestida apenas de branco. Ela é a primeira pessoa a ter contato com o motorista. Em seguida vem as netas de 8 e 13 nos e a nora, a Taís, todas também de branco, mas vestidas com roupa de santo e com ojá, esse pano que vai na cabeça. Segundo a família, quando o motorista as vê desiste da corrida.
No intuito de compreender os deslizamentos, bem como a sedimentação de uma memória que faz funcionar o sentido de intolerância no discurso recortado, apresento a seguir as SDs de 1 a 8.
SD1: vontade de que as minhas filhas também vivessem isso
SD2: todas as religiões levam os seus filhos desde criança pra ser da mesma religião
SD3: Uma família inteira que acredita no respeito e é orgulhosa de suas crenças. Mas ontem, ao viver a fé, foi duramente ferida.
SD4: Hoje eu tô bem triste. Ainda tô triste. E sinto que vou ficar ainda bastante tempo.
SD5: O motivo da dor tem a ver com preconceito e intolerância.
SD6: Nas imagens o carro chega e é recebido pela dona Vera, que está vestida apenas de branco.
SD7: Em seguida vem as netas de 8 e 13 nos e a nora, a Taís, todas também de branco, mas vestidas com roupa de santo e com ojá, esse pano que vai na cabeça.
SD8: Segundo a família, quando o motorista as vê desiste da corrida.
Os sentidos de filhas/filhos, criança, família, religião, crença e fé vão mudando de cor e de sentido conforme sintagmaticamente são colocados nos encaixes significativos de ferida, triste(eza), preconceito e intolerância a partir do momento em que a cor branca entra na cena e se textualiza em narração e em imagem. A ausência de estranhamento da cor branca de Vera, que se veste de roupas que, na perspectiva do motorista de aplicativo, são ‘semanticamente normais’ se reformula quando as outras mulheres adentram a cena todas também de branco porque a configuração de suas roupas afasta suas posições-sujeito daquela ocupada pelo referido motorista.
A conjunção adversativa mas “apresenta a irrupção do equívoco no real”, uma vez que as mulheres “pecam” no teor do branco, pois apesar de estarem de branco estão vestidas com roupa de santo e com ojá. Está visão que se impõe pelo negativo justificaria o injustificável, a desistência da corrida por parte do motorista.
Como já pontuei anteriormente (Vieira, 2022, p. 166):
Na memória, as vozes do social são escutadas em imagem a partir das práticas em que se inscreve a memória no estabelecimento dos sentidos postos em circulação. Essa circulação do simbólico compartilhado, por ser dito e ouvido nas discursividades que circulam sobre dado objeto de discurso, está sobre tensão, porém, essa circulação de sentidos é dominada e encapsulada pela memória para que signifiquem, no dizer, o dito...
Nesses termos, o funcionamento da intolerância religiosa se sustenta, portanto, em uma questão de memória. É ela quem faz com que o processo de significação pavimentado por pré-construídos orbite os sentidos lançados sobre uma religião de matriz africana, como o candomblé. Assim, se aloja no próprio sujeito a ojeriza que, pela ignorância, faz com que o não sabido sobre o conhecido ganhe a envergadura significativa a qual, via processos de desitentificação e contraidentificação da posição sujeito cristão ortodoxo, aponta para o praticante de candomblé, inserido em uma outra formação discursiva, a da negatividade sobre as formações ideológicas que o constituem em sujeito.
Um movimento derradeiro
A partir da investida que fiz sobre a tópica da intolerância religiosa atrelada ao que, pelo simbólico, significa na indumentária da roupa de santo, foi possível compreender que o funcionamento do discurso sobre as religiões de matriz africana está intercambiado ao corpo do sujeito candomblecista. Mesmo corpos de mulheres não negras, ao se identificarem na vestimenta branca do candomblé, são ressignificados, negados, afastados daquilo que seria o óbvio, a prática religiosa cristã.
A tentativa deste trabalho foi compreender, pela imagem, a relação corpo-roupa-sujeito-religião em seus atravessamentos ideológicos que textualizam na língua os processos de significação que historicamente endereçam o olhar de artefatos culturais advindos da cultura afro-brasileira para a negatividade de sua identidade.
Por meio do modo como o político e o social perpassam a compreensão do corpo em Análise de Discurso, foi possível compreender os pré-construídos enquanto constituintes de formações imaginárias endereçadas ao que identifica o corpo enquanto praticante de uma religião que não deve se ter por perto.
O sentido desnaturalizado do sujeito candomblecista é colocado em choque na textualidade da imagem e nos relatos reportados do discurso jornalístico, os quais em uma tentativa de atrelar o objeto de discurso intolerância religiosa a partir de uma pretensa transparência da linguagem, discursivizam uma tensiva relação de forças que coloca em polos opostos ao menos duas formações discursivas, uma oposta ao candomblé e o próprio candomblé.
Entretanto, não é o candomblé quem rejeita. O sujeito candomblecista é o rejeitado. O processo de uberização das relações de trabalho não deixa de fora o capitalismo enquanto item do atravessamento dos processos de significação. A autonomia do motorista de aplicativo lhe dá o direito a rejeitar uma corrida solicitada por corpos vestidos de uma indumentária que aquele rejeita e não permite que adentre em seu bem/automóvel. Seria possível a este sujeito rejeitar levar uma passageira se o meio de transporte fosse, por exemplo, um ônibus e ele um empregado fichado de uma empresa formalizada? O processo de individuação desse sujeito motorista parece ativar nele uma outra compreensão, uma que o deixa em contato direto com o sujeito que ‘solicita a corrida’ e ele, dono de si e pensando ser livre para decidir ‘aceita ou não a corrida’. E mesmo já tendo aceitado, decide unilateralmente impor à passageira solicitante ‘cancelar a corrida’.
O efeito da ideologia atravessa todo o embate e todos os sujeitos em cena agem como se suas liberdades, de fato, fossem inabaláveis e invioláveis, como se eles pudessem tudo fazer, tudo negar. Nesse sentido, como já defendi sobre a imagem, entendo que a mesma está “envolta às formações imaginárias dos sujeitos que projetam a propagação daquilo que pensam enquanto materialidade simbólica” (Vieira, 2022, p. 170). Tais sujeitos lançam mão de um gesto de interpretação que se coaduna com imagens que funcionam em sociedade na relação estabelecida entre suas identificações e as posições a partir das quais as reivindicam e ao que refutam.
Assim sendo, o corpo é ressignificado pela roupa que o veste e esta roupa vincula-se a ele pelos pré-construídos que o revestem de sentidos forjados pela língua que, entendida em Análise de Discurso como base dos processos discursivos, a partir da memória discursiva trazida a baila, desloca sentidos de lugar e instaura outros processos de significação que funcionam enquanto sustentáculo de práticas historicamente determinadas, nas quais a imagem do corpo vestido de roupa de santo é colocada em tela.
Conforme Pêcheux (2015, p. 45):
Concebemos desde então que o fato incontornável da eficácia simbólica ou “significante” da imagem tenha atravessado o debate como um enigma obsediante, e que, por seu lado, os fatos de discurso, enquanto inscrição material em uma memória discursiva, tenham podido aparecer como uma espécie de problemática-reserva.
Desse modo, a imagem do corpo e da roupa de santo retoma a memória para significar, pelo simbólico, enquanto continuidades que significam aberturas significativas que sintagmatizam os efeitos de sentidos. Tais sentidos suscitam a partir das relações de força trazidas para significar no social a intolerância religiosa e se instauram nos deslizamentos que, neste trabalho, se deram no irromper das cadeias significantes da imagem tecida em discurso.
O corpo da religião candomblecista clama pelo seu endereçamento via roupa de santo. O que ativa em outras formações discursivas a rejeição que fere, entre outras coisas, o direito de ir e vir, professar uma fé destoante daquela que a maioria professa. As relações entre os sujeitos e os sítios de significação religiosos instou o questionamento sobre o que a imagem ao significar silencia. Procurei justamente tirar de suspensão tais relações de sentido, a tentativa foi de ver algo além do que se colocou como evidente na relação corpo-sujeito-religião-imagem.
Referências:
GREGOLIN, Maria do Rosário. Discursos e imagens do corpo: heterotopias da (in)visibilidade na web. In: FLORES, Giovana G. Benedetto; NAKEL, Nádia Régia Maffi; GALLO, Solange Maria Leda (orgs.). Análise de Discurso em rede: Cultura e Mídia. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015.
HENRY, Paul. A ferramenta imperfeita: língua, sujeito e discurso. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013.
LAGAZZI, Suzy. Paráfrases da imagem e cenas prototípicas: em torno da memória e do equívoco. In: FLORES, Giovana G. Benedetto; NAKEL, Nádia Régia Maffi; GALLO, Solange Maria Leda (orgs.). Análise de Discurso em rede: Cultura e Mídia. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015.
ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso em Análise: sujeito, sentido, ideologia. Campinas, SP: Pontes Editores, 2017b.
ORLANDI, Eni Puccinelli. Eu, tu, ele: discurso e real da história. Campinas, SP: Pontes Editores, 2017a.
PÊCHEUX, Michel. Análise automática do discurso In: GADET, Françoise; HALK, Tony. Por uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014a.
PÊCHEUX, Michel. Papel da memória. In.: ACHARD, Pierre (org.). Papel da memória. Campinas, SP: Pontes, 2015.
PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2014b.
VIEIRA, José Magno de Sousa. Cidade entre rios, cidade inter pontes: o discurso sobre as formações imaginárias de Teresina. (Tese de Doutorado em Linguística). Cáceres, MT: Unemat, 2022.
Data de Recebimento: 15/03/2025
Data de Aprovação: 05/05/2025