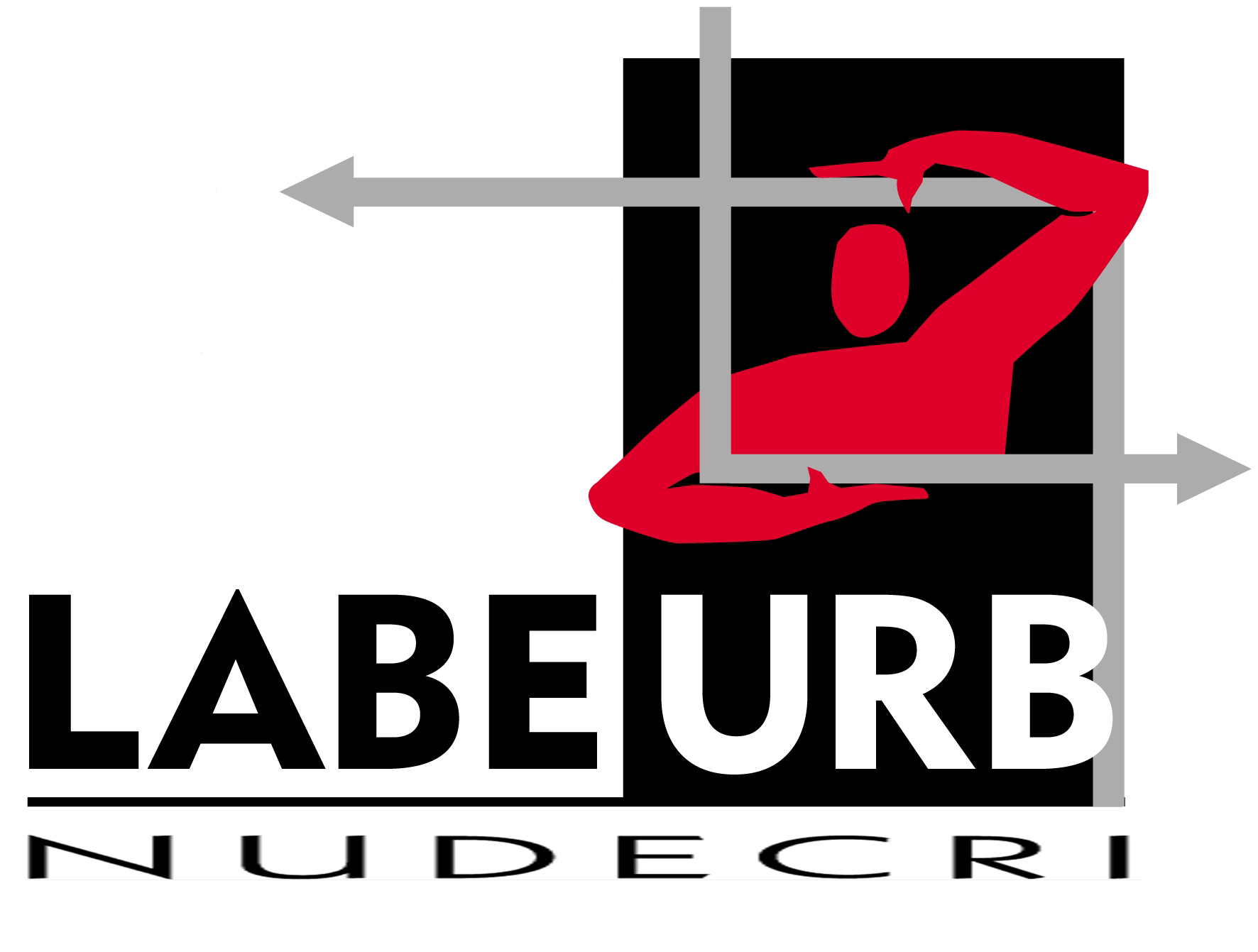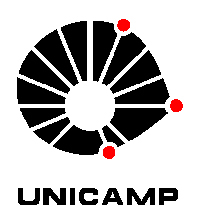Disputas de vida e morte na cidade: As performances do Teat(r)o Oficina


Tyara Veriato Chaves
Lauro José Siqueira Baldini
Lucília Maria Abrahão e Sousa
Mariana Jafet Cestari
“O embalo do vento”
A história do Teatro Oficina pode ser contada de diversas formas, mas sempre estaremos diante de uma história que se cruza com a história do Brasil (ou de Pindorama, como se verá adiante). Fundado oficialmente em 1958 como um grupo amador na Faculdade de Direito da USP, em sua formação contava com José Celso Martinez Correa, Renato Borghi, Amir Haddad, Carlos Queiroz Telles e outros e, nesse caminho pela história da sua fundação, poderíamos falar sobre o processo de profissionalização do grupo: em 1963 a peça Pequenos Burgueses de Gorki é encenada, e, logo após, em 1967, a montagem-marco em plena ditadura militar do Rei da Vela1, autor cujo legado político e antropofágico se mantém aceso durante toda a trajetória do Oficina.
A própria sede do Teatro Oficina, um projeto de autoria da arquiteta Lina Bo Bardi, extrapola o arquitetônico, fazendo com que o espaço cênico seja uma arena, uma espécie de passarela onde o público e os atores se misturam (não é à toa que nas peças, vez ou outra, alguém da plateia é puxado - como o empuxo do mar - para o centro desse espaço, convidado a se misturar ao rito)2.
De dentro e para fora da classe média pequeno-burguesa paulistana, a cooperativa de artistas empreendeu um movimento estético que quebrou o traço estrutural conservador do político na ordem dos costumes e da vida social, e inscreveu a tempestade de um fluxo dinâmico3. Com o modernismo de Oswald de Andrade, a lufada de vento sopra na direção de tomar “a contribuição milionária de todos os erros”4, unificando todas as revoltas em uma só direção. A primeira delas foi deslocar o olhar fixado nos padrões estéticos europeus para instalar o paradigma da antropofagia5, síntese transformadora que se sustenta no chão da brasilidade, cuja raiz recupera e devora as festividades indígenas, os ritos de cantos, as danças, os adereços e as alegorias. Esse foco sidera o que antes fora interditado de circular na trama cultural brasileira, o que Orlandi (1990, p. 21) coloca nos seguintes termos:
[...] haverá uma grande margem de silêncio – produzida pelo dominador e empunhada pelo dominado – nesse embate forte: de um lado, os europeus procuram absorver as diferenças, projetando-nos como cópias em seus imaginários, cópias malfeitas a serem passadas a limpo; enquanto do outro lado, assumindo a condição de simulacros – imagens rebeldes e avessas a qualquer representação –, os brasileiros às vezes aderem, às vezes não, ao discurso das cópias.
Desse embate, o Oficina inscreve-se na rede de sentidos que recusa o discurso das cópias e inventa um outro modo de escrita não apenas no teatro, mas na ordem da cultura nacional. Por oficina, dá-se a evidência de um lugar no qual se produz algo com ferramentas e materiais a partir do trabalho; por Oficina, trata-se de um lugar que revira as tripas das matrizes da cultura nacional, buscando nesse reviramento os elementos que tomam o rito na política; e não se trata de qualquer rito, o universo indígena entra aqui de modo a romper com dois estereótipos estabilizados historicamente, o de “bom selvagem” e o de canibal6.
E nessa transformação antropofágica dos mitos e dos ritos, faz-se do teatro um ritual de “espaço todo” e de “todo mundo” - estético e político fundidos no toque dos corpos, não mais na divisão palco-plateia. “Um grande ritual, tipo futebol, tipo macumba, tipo novela, tipo terreiro7 mesmo para jogar os tabus todos e transformar”8. Nessa dimensão entra também a memória das religiões afro-indígenas brasileiras, do jogo do esporte nacional e da TV que reúnem todo mundo que é brasileiro no enredo de muitos tempos e espaços.
Abordar as experimentações estéticas abriria um caminho vasto para falar sobre o Teatro Oficina, mas nós, como analistas de discurso e não especialistas em dramaturgia, escolhemos outra via: a das relações entre arte, performance e política, uma pedra fundamental do Teatro Oficina e que se marca de modo muito profundo não apenas nas encenações, mas na sua existência no Centro da cidade de São Paulo, no Bairro do Bexiga9, lugar marcado tanto por uma produção artística pulsante, como pela alta concentração de usuários de drogas e pessoas em situação de rua que deambulam pelas avenidas. Uma presença que significa o espaço como perigoso, inabitável, hostil, enlouquecedor, assim como tantos outros centros históricos no Brasil, que materializam a ausência do Estado no quesito políticas públicas e a emergência de “novos lugares”, mais modernos e cools, onde se constroem condomínios com muros muito altos e grandes shoppings centers para passear: nada de novo no front10.
Aqui cabem algumas palavras sobre a relação que estamos fazendo entre a Análise do Discurso e a noção de performance. Trabalhamos aqui na mesma direção de Greco (2021, p. 260), isto é, apontamos para o “caráter híbrido das produções linguageiras, no cruzamento entre as artes e a linguagem”11, e enfatizamos que “as performances, das mais ritualizadas às menos estruturadas e espontâneas, permitem reativar a memória coletiva, restabelecer a ordem social anteriormente rompida, estabelecer relações e reconfigurar os lugares simbólicos no seio de uma comunidade”12. É nesse sentido que tomamos aqui as produções do Teatro Oficina, e, com Greco (2021, p. 261), gostaríamos de “sublinhar a dimensão estética e política das práticas linguageiras”13 mais do que falar a partir do lugar da crítica de arte ou de uma análise sociológica, por exemplo. Ainda com Greco (2017, p. 301), pensamos que “não se trata de pensar a performance nem como uma metáfora para apreender as práticas linguageiras, nem como um objeto de estudo”14, mas sim de operar num lugar de entrecruzamento entre Linguística, Análise do Discurso e Estudos da Performance. De fato, Orlandi (2002) irá dizer que a Análise de Discurso deve sempre operar numa posição de “entremeio”, e essa palavra deve ser entendida como algo que se “refere a espaços habitados simultaneamente, estabelecidos por relações contraditórias entre teorias” (Orlandi, 2002, p. 21). Dado o caráter multidimensional sempre em jogo quando se levam em conta as performances como estamos fazendo aqui, trata-se de pensá-las como “um gênero discursivo que leva em conta o papel desempenhado pelos diferentes tipos de público na produção, avaliação e recepção deste, assim como o conjunto de modalidades corporais, musicais, sensoriais e vocais através das quais os textos são apresentados”15 (Greco, 2017, p. 303).
Neste trabalho, realizamos uma leitura discursiva de acontecimentos ligados ao Teatro Oficina que colocam em jogo uma trama de sentidos sobre a dimensão pública da cidade de São Paulo, seus espaços, seus vazios, sua existência enquanto um espaço discursivo afetado pela divisão público/privado, ou seja, um espaço cindido (Orlandi, 2004), em que sujeitos e sentidos se constituem a partir de determinações históricas de raça, classe, gênero e sexualidade. Tal olhar nos permite, do ponto de vista metodológico, trabalhar com a construção de um corpus radicalmente heterogêneo, composto por vídeos, imagens, performances dramatúrgicas, textos, cenas audiovisuais, que nos coloca diante de materialidades discursivas complexas (Pêcheux, 1981), daquilo que não se reduz à língua, à imagem, à cultura, à estética, mas determina a existência material dos sentidos. Essa noção de materialidades discursivas é trabalhada no contexto da produção teórica brasileira, com consequências diversas16. Por outro lado, é precisamente a noção de Recorte como “naco, pedaço, fragmento não mensurável em sua linearidade” de Eni Orlandi (1984, p. 16), que nos baseamos para buscar marcas significantes que sustentam o processo de constituição de sentido do funcionamento discursivo em questão: o modo como a existência do Teatro Oficina e suas múltiplas atuações produzem um furo nos discursos normalizadores do espaço urbano, sustentados por práticas racistas, higienistas, moralizantes e misóginas.
É da Análise do Discurso que partimos para pensar um objeto tão complexo como a “colonização” e sua existência material enquanto acontecimento discursivo (Pêcheux, 1983) que segue produzindo efeitos na contemporaneidade. Assim, a divisão cidade/favela, público/privado, sujeito/abjeto, arte/folclore, civilização/selvageria, passando, inclusive, pela divisão desigual na produção de conhecimento, são heranças coloniais que fazem parte de uma brasilidade permeada por práticas de dominação e resistência. Neste sentido, a escolha do corpus analisado diz respeito a acontecimentos de grande repercussão nas condições históricas brasileiras, seu encadeamento e sua radical heterogeneidade constituem um gesto analítico teórico e político que dá consequência à leitura-trituração proposta por Pêcheux (1981, p.25), que muito se aproxima da noção de Recorte de Orlandi (1984): “recortar, extrair, deslocar, aproximar”, trabalhar naquilo que entre a história, a língua e o inconsciente, resulta como heterogeneidade irredutível.
A existência do Teatro Oficina na cidade de São Paulo não traz só um respiro frente às políticas de abandono do centro histórico paulistano, através de espetáculos que transitam pelas ruas como blocos de carnaval, mas a construção da sua sede também é marcada por uma batalha político-administrativa que dura décadas pelo destino do terreno anexo ao teatro. Uma batalha que é a da “maior parte dos teatros brasileiros”; “um estopim para que outros teatros do Brasil sejam considerados locais sagrados”17. De um lado, o Teatro Oficina defende a transformação do espaço em um parque público; do outro, Silvio Santos exige seu direito de propriedade privada.
Há algo de muito familiar nessa querela, uma espécie de déjà vu da colonização brasileira nessa precarização do que é histórico no Brasil como um sintoma colonial que não cessa de deixar suas marcas. Nesse gesto, habita uma negação daquelas vozes originárias presentes antes da invasão do estrangeiro e aquelas que vieram à força pela escravização transatlântica. Há também um jogo de forças que diz não só das dimensões do público e do privado, do ponto de vista legal ou financeiro, mas também do ponto de vista político. Assim, contrapomos a discursividade homogeneizante da violência das cidades (Orlandi, 2004), que se sustenta em políticas de esvaziamento, segregação racial e produção do outro como potencialmente ameaçador, ao modo como o Teatro Oficina tem perfurado o discurso dominante, interferindo nesses circuitos de medo e exclusão, produzindo desejo e festa, afetando o discurso sobre a cidade.
Assim, tomados por essa relação entre estética, poética, política e cidade, propomos um olhar para alguns acontecimentos que se entrelaçam: 1. A disputa pelo terreno ao lado do Teatro Oficina, que revela um conflito histórico pelo destino da cidade no jogo de forças entre os sentidos de público e privado; 2. A montagem das Bacantes pelo Grupo Teatro Oficina e as redes de memória que atualizam modos de relação com o espaço marcado pela dicotomia masculino/feminino, mas também pelo erotismo que embaralha esses binarismos estanques; e 3. O “encantamento” de Zé Celso, um dos fundadores do Teatro Oficina, teve seu rito de despedida marcado por uma experiência de dor e festa que se alternam, fazendo emergir o legado de As Bacantes para o acontecimento de luto na cidade.
Litígio de vozes
Silvio Santos: Você acha que alguém vai dar para você o terreno?
Zé Celso: Pra mim não, eu não tô pedindo nada.
Silvio: O que você vai fazer com aquele terreno? Se o terreno fosse teu, o que você ia fazer?
Zé Celso (cantando): Anhangá-anhangá-anhangá-Baú (inspirado em você) da feliz cidade.
[...]
João Dória (Prefeito de São Paulo): Se você vai ter um empreendimento hoteleiro que tem viabilidade porque você vende unidades, então para ele é “funding”, é uma geração de receita, além da exploração hoteleira [..] e mais uma área de “retail”, um pequeno “mall”
Zé Celso: O que é um “mall”?18
Retomaremos agora uma análise iniciada em outro artigo19, na qual pensamos a dimensão erótica do espetáculo Bacantes em meio às condições de produção nas quais ele é encenado: a disputa pelo terreno anexo à sede do Teatro Oficina.
Conforme destacamos em reflexões anteriores, o diálogo de 2017 sobre o destino desse terreno explicita não apenas um confronto sobre espaços urbanos, mas a própria batalha que coloca em jogo os sentidos de ‘cidade’, de pertença e de partilha, bem como seu avesso, a exclusão, a segregação e a privatização. De um lado, Silvio Santos, proprietário formal, reivindica seu direito de construir torres residenciais, ecoando o discurso da propriedade privada e do empreendedorismo: “Não é justo alguém pagar por um terreno e não ficar com ele, mesmo que não seja para fazer nada. Isso aqui é uma democracia ou o quê que é?”. Do outro, Zé Celso, assumindo a postura dissidente ou, como já observamos, a “pedra no sapato do empreendedorismo”, propõe um parque público naquele que chama de “o último grande vazio de São Paulo”, um espaço do possível e do imprevisível, não determinados pelo discurso urbanístico20.
Como já analisamos, o vídeo que documenta o encontro não se limita a registrar um episódio isolado da longa querela entre Zé Celso e Silvio Santos. Trata-se, na verdade, de um recorte representativo ao revelar o funcionamento da coisa política que passa pelas línguas, pela enunciação e seus atritos. Reaparecem ali, de modo exemplar, a língua de madeira do direito21, a língua de vento da publicidade, a língua de ferro do imperialismo, a língua de espuma da ditadura, mas também a língua poética da resistência22. É nesse embate plural e poroso que a contradição se avulta, algo se agita, ventila e faz soprar algo novo no campo dos sentidos. Na cena audiovisual, em cada expressão e gesto, vemos os limites de uma cidade pensada como mercadoria serem tensionados por uma imaginação cênica e coletiva do comum.
Assim, um relance sobre o vídeo traz Zé Celso em cena, Xamã com poncho Tarahumara, respondendo à pergunta pragmática de Silvio Santos não com uma retórica convencional, mas com o imprevisível sarcasmo poético: “o anhangá-anhangá-anhangá-Baú (inspirado em você) da feliz cidade”. Conforma já salientamos, há na linguagem de Zé Celso um delírio lúcido, uma recusa à ordem — o artista que faz da fala um canto, de “tenda”, de “público”, de “parque”, e pergunta ao gringo: “o que é um mall?”. É justamente do lugar de quem estranha a dominância do inglês, tão regularizado pelas expressões do mercado financeiro e do neoliberalismo, que Zé Celso rearticula a fala de resistência diante da mesmice neoliberal.
Por outro lado, temos Silvio Santos e sua linguagem marcada por pronomes possessivos, pela fraseologia democrática, onde tudo se define pelo monopólio. É interessante perceber nessa cena, a amarração entre o seu discurso e o de João Dória, então Prefeito de São Paulo, que engravata a língua para pronunciar ‘funding’, ‘retail’, ‘mall’, reiterando a lógica do empreendedorismo e da geração de receita, que dá ao ‘discurso público’ um semblante de ‘discurso do capital’, um funcionamento tão comum na atualidade, o prefeito-gestor, ou melhor, o prefeito-CEO. Assim, a cidade se torna cada vez mais refém “da língua do empresário e do capital globalizado”, o que ajuda a consolidar São Paulo como “a capital de maior pujança financeira da América Latina”, oráculo do desenvolvimento urbano — ainda que, por trás de tanta pujança, ao dizer, muito se cala. Na silenciosa regularização desses sentidos, apagam-se a desigualdade, a violência policial e o desmonte de políticas públicas: um funcionamento que continua dominante no discurso sobre o urbano na contemporaneidade... mas, há falhas e é nas brechas que um outro discurso opera.
O Tyato como acontecimento na cidade
E o teatro nasce. Ou é reinventado (como “tyato”) no amassar da uva: No carro militar que sai ou é expulso do espaço cênico com o palco italiano destruído, enquanto a orgia libertária ergue brindes de alegria reconquistada e eterna: e o texto menciona uma taça-bigorna23.
É interessante perceber o modo como o espaço urbano é um elemento fundamental nas criações cênicas do Teatro Oficina, configurando-se como um espaço cênico que transborda os limites do teatro, dita sua arquitetura, fazendo da rua uma parte integrante e essencial de sua dramaturgia. Neste sentido, pensar a prática artística e, mais especificamente, a montagem de As Bacantes, realizada pelo Teatro Oficina (1995, 2016), é de certo modo ser provocado a pensar a própria relação entre ordem e desordem que tem marcado as discursividades sobre a cidade em dicotomias: civilização e selvageria, humanidade e animalidade, limpeza e sujeira, tranquilidade e periculosidade, bairro e favela, dentre tantas outras.
As Bacantes marcam tão profundamente a história do Teatro Oficina ao ponto de ter influenciado a sua arquitetura, que foi idealizada para a peça como uma espécie de estádio, uma caixa cênica que embaralha as fronteiras entre o palco e a plateia24. Do ponto de vista cênico, estamos falando também de um espetáculo intenso que atravessa uma imensa passarela como um bloco de carnaval, convocando o corpo, a nudez, a música, a mística e a presença desejante do outro, que se converte de espectador em ator, como um elemento da dramaturgia. Esse traço se repete em outros espetáculos, a exemplo da Macumba Antropófaga (2017)25, em que os atores e o público andavam pelas ruas, atravessavam a maloca da Jaceguay26, as calçadas do centro de São Paulo, adentravam a ladeira do Bexiga como uma procissão, um bloco, uma manifestação, um protesto. Ou seja, quando falamos do Teatro Oficina, estamos diante de performances que colocam em cena o inesperado das ruas, a diversidade de transeuntes, citadinos, moradores; mas também o insuportável: os migrantes, mendigos, usuários de drogas, fugitivos ou exilados da/na própria cidade.
Não basta encenar uma peça, é preciso intervir nas divisões estabelecidas que colocam em “caixas” a arte, a religião, a filosofia e a sexualidade, bem como os ritos de sacralizar a vida e a morte. É preciso fazer do teatro um ato que abala a religião do sentido27 e assim nascem significantes que colocam cena esse transbordamento próprio ao Oficina: a tragédia de Eurípedes vira a Tragykomediorgya, a Oficina vira a Uzyna-Uzona, o teatro se converte em Tyato, o significante de uma afirmação sobre a potência erótica da existência, naquilo o que ela comporta de vida e morte. É desse modo que devemos pensar As Bacantes tragikomediorgyzadas não como um novo gênero teatral, mas como um “[...] um percurso em ato, poético, ritualístico, festivo, carnavalesco que visa afetar o outro e retirá-lo de seu estado identitário comum, com o objetivo de dispô-lo mental, corporal, e religiosamente para uma experiência produtiva de indeterminação, evocação e incorporação, dos antigos ditirambos”28.
As Bacantes nos convoca a refletir em uma série de questões a partir do embate entre Dionísio e Penteu, que não reconhece a sua divindade como filho de Zeus e Sêmele29. Trata-se de pensar, a partir dessa narrativa, o estatuto do estrangeiro, o (não) lugar do feminino, a relação entre lei e transgressão, e sobretudo, o problema de uma desordem na pólis marcada não somente pelo retorno de Dionísio a Tebas, mas antes pela perturbação de Penteu com a loucura das Bacantes, sua dança, sua sexualidade, sua deambulação ao deixarem seus teares e suas casas para se abandonarem a uma economia erótica dispendiosa.
Neste sentido, a performance de As Bacantes pelo Teatro Oficina é um lugar privilegiado para pensar questões que tocam a história do Brasil e não há nada que se repita mais nessa história do que o controle envolvendo o espaço público perpassando discursos diversos: religiosos, jurídicos, urbanísticos, morais, neoliberais, dentre tantos outros calcados em uma política que se sustenta na raça, na classe, no gênero, no controle do sexual e na construção do ‘outro’ como potencialmente perigoso. É neste sentido que, em análises anteriores, traçamos um paralelo entre as políticas neoliberais atuais de privatização e esvaziamento do espaço público e a memória do crime de vadiagem, vigente no Brasil pós-abolicionista do final do século XIX, quando a vagabundagem, a deambulação e a ocupação ofensiva à moral e aos bons costumes30 eram consideradas um delito passível de detenção. Embora o crime de vadiagem não pertença mais ao código penal brasileiro, há uma memória que o reintroduz em diversas práticas: na truculência policial que recai sobretudo junto à população negra e periférica, nas práticas de aporofobia, no ódio e na violência contra prostitutas e, de modo mais amplo, numa construção de sentidos, que atravessa diversas práticas, saberes e instituições, que faz da “rua” um local perigoso, corruptível, ameaçador. Essa memória se materializa na nomeação de certos espaços: a maloca Jaceguay, a cracolândia banida do centro da cidade de São Paulo e tantos outros lugares à margem em que habitam nordestinos, travestis, ambulantes, moradores de rua, vadios e vadias31:
De fato, na Grécia de Eurípedes a questão não é tanto a da relação entre trabalho e vadiagem, como os momentos acima salientam, mas um certo traço une essas diferentes conjunturas históricas: se trata do estar na pólis e do repúdio ao dispêndio improdutivo. Esse excesso, que se destina a uma pura perda, entra em conflito com a lógica de aquisição, produção e consumação que estrutura a história de certas civilizações ocidentais, mas, como nos aponta Bataille (1949, p. 32), trata-se de pensar que a contraparte dessa economia se sustenta na insubordinação da vida diante dos sistemas que a cerram: “[...] o que ela admite de ordem e de reserva só tem sentido a partir do momento em que as forças ordenadas e reservadas se liberam e se perdem para fins que não podem ser sujeitados a nada de que seja possível prestar contas [...]”. O problema é quando aquilo que deveria permanecer confinado aos becos da noite, transborda, melando os interesses do capital. 32
Assim, o Teatro Oficina nos convoca a pensar nas relações entre o corpo da cidade e o corpo dos sujeitos como lugares em que se entrelaçam e se materializam as inúmeras práticas de dominação, mas também como lugares em que as resistências encontram movimento: na festa, na dança, no canto, no erotismo, na ocupação dos espaços e na possibilidade de perturbar toda uma economia significante calcada em dicotomias frágeis, mas que não cessam de se reafirmar sobretudo no nosso tempo: masculino e feminino, bem e mal, sexo e gênero, razão e loucura, trabalho e festa. A própria “descrição” de Dionísio no texto dramatúrgico do Teatro Oficina é um espaço privilegiado para pensar o desmoronamento dessas dicotomias:
DIONYSIOS
Deus do tyato feito homem. Bonito-feio. Performático. Homem-mulher. Jovem moço. Marinheiro. Não é cabaço, mas é alegre como se fosse ingênuo. Não importa a cor. Cara desconhecida, sem clichês ou com clichês desmontados. Todo mundo, mas sem ter perdido nada. Vitorioso sempre. Nietsche na cabeça. No corpo, tudo/todos/todas/choro/riso/velho/moço/mau/bom. O máximo d virtudes e defeitos humanos num só corpo, mas sem nunca perder a vontade, a ação vitoriosa, e em êxtase, estado cênico de tyato permanente. “Olhos em terra, sem olhar a multidão. D repente levanta a cabeça, descerra d golpe as pálpebras, mostra os olhos vivos, negros, cintilação ofuscante...” Antônio Conselheiro-Euclides da Cunha. Feto=caralho. Bebê=xifres de touro, coroa d cobras. Menino, bofezinho=mistura de marinheiro d primeira comunhão (coroazinha de flores) e marinheiro d primeiro porto (colar de flores Hawai). Jovem=tanga d São Sebastião. Chef d quadrilha Selva das Cidades. Velho=Bássara; Canga transparente. Touro=máscara d touro. 33
O Dionísio de Zé Celso é a própria experiência de uma vertigem na linguagem, uma espécie de escrita embriagada que desafia o sentido, que burla o jogo impossível de descrevê-lo em sua totalidade e performa a sua loucura, desafiando as normas de marcação de gênero na língua. Aliás, é com Gadet (1981) que aprendemos o valor da trapaça na linguagem, a capacidade de transgredir a língua e com a língua não apenas através do léxico, mas pelo jogo com a sintaxe, testando seus limites, subvertendo sua lei. Assim, falar sobre Dionísio é dionicizar-se, fazendo da descrição o lugar da brincadeira, onde o absurdo se liga ao non-sense, e o improvável se liga e se desliga a algo de outra ordem: subversão do gênero (homem-mulher, ele, ela, todo mundo, todas, todos, tudo), subversão do antropocentrismo (Bebê = xifres de touro; Touro=máscara d touro), subversão da escrita (o uso do ‘d’ no lugar do ‘de’) e um jogo metafórico em que Dionísio é também Antônio Conselheiro-Euclides da Cunha, bofezinho=mistura de marinheiro d primeira comunhão.
A capacidade criativa do Teatro Oficina em dar vida a um Dionísio brasileiro, devorando As Bacantes de Eurípedes e tantos outros elementos que são próprios da cultura afro-indígena-brasileira, resulta em uma criação que convoca memória e contemporaneidade, escrita e oralidade, Grécia e Brasil. Aliás, é na performance que a citação à contemporaneidade aparece de diversas maneiras34: nas referências aos ritos afro-brasileiros, à tropicália, ao jazz, ao samba e nas relações entre a narrativa da tragédia grega e o golpe de estado que o Brasil viveu em 2016 com seus famosos personagens, a exemplo de Penteu na pele do Juiz Sérgio Moro. Por fim, destacamos numa passagem em que um personagem descrito como boiadeiro se coloca como o porta-voz ‘da guerra sertaneja das Bacantes’, momento em que visualmente o espetáculo teatral se embrinca a uma edição audiovisual com uma espécie de clip em que diversas mulheres, brasileiras, estrangeiras, periféricas, mães, vestidas com burcas, armadas com revólveres e metralhadoras, lideranças do MTST portando cajados e bandeiras; todas ali aparecem como metáforas das Bacantes Gregas-estrangeiras-afro-brasileiras-ameríndias-contemporâneas. Assim, a luta pelo espaço reaparece na força do movimento antropofágico35 que é tão próprio à poética do Teatro Oficina:
Eurípedes é canibalizado pelas mênades do Oficina. É o bárbaro tecnizado de Oswald de Andrade, essa espécie de utopia e acronia, pois pula do passado pro futuro por cima do presente tendo como horizonte o índio tanto no recuo quanto na projeção. É devorando as Bacantes de Eurípedes que Zé Celso aponta o tirso para o movimento do retorno, não o retorno romântico de uma natureza perdida e idílica face a uma cultura cruel e viciada, mas o movimento do retorno ao desejo, de um desejo como arma quente. Esse desejo de comer, não para destruir e aniquilar o outro, a terra e a vida, como fazem os que estão no topo da cadeia alimentar do capital: as empreiteiras, os banqueiros, o agronegócio, mas o desejo de comer para reexistir: “o desejo antinarcísico do outro, o ‘só me interessa o que não é meu’ como lei do homem, porque o que é ‘meu’ é exclusivamente esse interesse”.36
Esse percurso pela dramaturgia do Teatro Oficina coloca em cena a força performática da linguagem que atravessa língua, imagens, sonoridades, corpos, movimentos, falas e textos, reafirmando os laços potentes que unem política e poética tão presentes em uma companhia cênica cravada no coração da cidade de São Paulo e que luta para que esse espaço continue pulsando vida, mesmo diante de todas as políticas abandono, privatização e esvaziamento. E aí voltamos à questão que Silvio Santos coloca para Zé Celso: Você acha que alguém vai dar para você o terreno? Zé Celso responde: Pra mim não, eu não tô pedindo nada. O litígio de vozes e posições coloca-se nos seguintes termos: para o empresário, trata-se de um negócio em torno de dar ou vender uma área considerada comercialmente valorizada, para o diretor, as relações em torno da arte e do espaço público na pólis não passam pela doação entre diferentes pessoas físicas, mas incluem relações de poder que ultrapassam as pessoas individualmente.
O encanto de Zé Celso: morte e vida no espaço público
A luta pelo destino do terreno ao lado do Teatro Oficina atravessa o tempo e se encontra em 2023 com o acontecimento da morte de Zé Celso, em decorrência de um incêndio no apartamento onde morava com o ator Marcelo Drummond, companheiro de vida e obra. Falar sobre a morte de Zé Celso é uma dessas combinações enunciativas no mínimo paradoxais, como falar sobre a “morte” daquele que defendeu a vida na sua expressão máxima até a última cena? Como falar da morte daquele que colocou o desejo acima de qualquer pulsão de morte? Desse modo, escolhemos falar desse acontecimento a partir do ponto de vista de algumas místicas ameríndio-afro-brasileiras, da “lógica do encantamento” onde, consideradas as diferenças entre os léxicos, fala-se em “encanto”, como já disseram Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino: “O contrário da vida não é a morte, é o desencanto”37. Trata-se de um
[...] jeito brasileiro de insistir - a partir da interação com os ancestrais e com os antepassados e com tudo que nos cerca como um país que é veneno e remédio ao mesmo tempo - na beleza espantosa presente em rituais de afirmação, não da morte, mas da vida (Simas, 2021, p.10)
Com essa aproximação, não queremos enquadrar o Oficina à encantaria, mas pensá-lo, em suas múltiplas referências a essa brasilidade e ao Tyato como ritual de transformação, comunicação, produção de dinamismo - como encanto: um jeito de dobrar a morte, uma insistência de vida em meio a um projeto da necropolítica38 que atinge a cidade e a arte.
Matérias jornalísticas que trabalhavam o acontecimento da partida de Zé Celso, fizeram circular enunciados como: “Em despedida a Zé Celso, atrizes e atores fazem rito com músicas e danças no Teatro Oficina”, “Pessoas pulavam cantando músicas de ‘Bacantes’, peça que simboliza o Teatro Oficina. Uma música é emendada na outra, com apoio de uma banda. Aplausos”39, “Rito de transmutação: velório de Zé Celso tem Teatro Oficina lotado, homenagens e longa salva de palma”40. Em um léxico incomum ao discurso jornalístico quando noticia a morte, o acontecimento se aproximava do espaço de memória que significa a história e as práticas de vida do Teatro Oficina: festa, aplausos, música, banda, pulos, danças… uma outra versão do luto41 se encenava no Tyato para o Brasil.
Uma série de vídeos foram publicados na ocasião do velório, ou melhor, o rito báquico em homenagem a Zé Celso, de modo que para um espectador menos avisado não era possível saber se o acontecimento filmado e publicado nas redes sociais era uma peça, uma festa, ou uma manifestação política e cultural. Enfim, as imagens remetiam a tudo menos a um velório, ou melhor, a um velório do imaginário dominante - foi mais uma peça de Zé Celso! Para dobrar a morte, nada melhor do que o canto, a dança, as performances do corpo, que no acontecimento do rito articulam saberes e memórias coletivas encarnadas. Artistas se apresentavam, pessoas dançavam, uma banda vibrante tocava pérolas da música brasileira, como era comum nos espetáculos, até que em alguns instantes, a passarela do Oficina mais parceria um bloco de carnaval com toda vibração, cantoria e corpos em movimento de festa42. Num dado momento, assim como era habitual nos espetáculos, o velório ganhou a rua43, fazendo vida e obra se fundir uma vez mais e, nesse jogo, o Teatro Oficina e Zé Celso nos mostrava mais uma vez que é possível encenar uma outra versão do luto, é possível fazer da morte uma festa, o que na verdade retoma modos que foram silenciados de tratar a morte no Brasil44.
Esse movimento, posto em fluxo e em discurso pela/na vida e obra de José Celso e na prática artística do grupo Oficina, materializa-se arquitetonicamente em um teatro com o palco desfocado e difuso que se estende e se desloca de um local fixo, comportando múltiplas possibilidades de trabalho e invenção. Em um dos pontos de destaque do prédio, dois arcos abriam vias de trânsito com passagem, escada, entrada de luz e ventilação. No início de fevereiro de 2024, pouco depois do encantamento de Zé Celso, o Grupo Silvio Santos ganhou na Justiça a autorização para o fechamento dos Arcos do Beco que uniam o Oficina ao terreno em disputa.
A fotografia acima marca a modificação no interior do espaço do teatro, com os arcos trancados pelos blocos com cimento, desfazendo a possibilidade do fluxo, negando o acesso e estabelecendo um bloqueio no modo como o processo de desapropriação da área avançava em negociação. A criação do Parque Bixiga, com acordo firmado em dezembro de 2023 entre a Prefeitura de São Paulo e o Ministério Público, encontra agora um empecilho diferente. Mais do que uma etapa adicional na batalha que já dura quarenta anos de enfrentamento e negociação (ou cinco séculos de história se tomarmos a invasão de Pindorama46 como um marco fundamental de violências e disputas sobre a terra), tal fechamento dá notícias do modo como a dominação é (visualmente inclusive) violenta, ao que se erguem as práticas e movimentos de resistência. Dos textos clássicos às batalhas poéticas de slam, das adaptações de espetáculos às lutas por reconhecimento de movimentos sociais e artísticos, das práticas institucionalizadas à vida comezinha, a resistência tem o embalo do vento. E disso Zé Celso sabia muito.
Olhar para essa série de acontecimentos que atravessa o campo estético, as políticas de ocupação dos espaços públicos, as dimensões de vida e morte que dizem de diferentes experiências de luto, a briga pelo destino de um terreno, enfim acontecimentos aparentemente desconexos, mas que colocam em relação algo da ordem de um real sócio-histórico, feridas, traumas coloniais, mas também processos de resistência potentes e profundamente enraizados na história brasileira47. O Teatro Oficina nos mostra em suas diversas práticas que a vida não se reduz à existência biológica de um corpo, mas ao campo do desejo, do coletivo, da presença pulsante no mundo. Ele nos mostra que a encenação de uma tragédia grega não é apenas uma interpretação cênica, mas um acontecimento político que afeta o espaço da cidade; que um terreno não é um pedaço de terra valorado pelo mercado imobiliário, um terreno, na verdade, não é ainda nada, ele é o que pode ser, espaço público, (por que não?) parque...
A História não tem cessado de nos lembrar que, como em Eurípedes, o conflito não é entre Dionísio e Tebas, mas entre Dionísio e a Casa Real, o poder aristocrático48. Dionísio e suas mênades só perturbam e incomodam aqueles que se recusam a reconhecer a pertinência e a necessidade dos ritos báquicos. Para estes, Dionísio só pode mesmo aparecer como o Estrangeiro que vem a interferir no tranquilo funcionamento da pólis-Sampa. Dionísio deixa loucos os non ducor, duco, caducos de um poder que já não se sustenta senão como pura aparência. Por outro lado, Dionísio e as bacas fascinam aqueles que “deixam-se ir”, que se atiram numa aventura erótica de se perder sem garantias. Faísca que atinge em cheio as fantasias de Penteu, que pede para assistir ao rito das feiticeiras báquicas e para isso atende à exigência de Dionísio, vestindo-se de Bacante.
Aprendemos com Lacan (1958) que a verdade possui estrutura de ficção, assim, nada mais real do que olhar para o diálogo de Zé Celso com Silvio Santos como um enquadramento cinematográfico bastante representativo desse Brasil que não cessa de se afirmar na segregação, na exclusão e no esvaziamento daquilo o que é público. Nesse embalo, também nada parece mais real do que ler as Bacantes como uma bela metáfora do Teatro Oficina, que perturba a ordem neoliberal e o sucateamento do Centro de São Paulo com sua permanência incômoda e sedutora, povoando de vida e festa as ruas, mas que, assim como as mênades, perturba o silêncio, a moral, os ‘bons costumes’ com a loucura embriagante de sua dramaturgia dionisíaca. E, continuando com os paralelos entre vida e arte, podemos olhar para o Velório de Zé Celso como mais um ato em que o Tyato se afirma, diante de discursividades que recalcam a dimensão pública da morte, temos, ao contrário dos ritos fúnebres, a alegria, a irreverência, o erotismo ocupando a cena e, sua memória soberana, viva, soprando aos quatro ventos um recado que aprendemos com Bataille (1957), soberano é aquele que é como se a morte não fosse.
Referências:
ALLOUCH, J. Erótica do Luto: no Tempo da Morte Seca. Tradução de Procopio Abreu. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004.
ANDRADE, O. Manifesto Antropófago. In: ANDRADE, O. Manifesto Antropófago e outros textos. São Paulo: Penguin Classics; Companhia das Letras, 2017.
ANDRADE, O. Manifesto da Poesia Pau Brasil. In: ANDRADE, O. Manifesto Antropófago e outros textos. São Paulo: Penguin Classics; Companhia das Letras, 2017.
AZEVEDO, B. Palimpsesto selvagem. São Paulo: Cosac Naify, 2016.
BALDINI, L. J. S; CHAVES, T. V. As Bacantes de Eurípedes Martinez Correa. In: GARCIA, D. A; SOUSA, L. M. A; PRANDI, M. B. R; BASTOS, G. G. Quando o feminino grita no poético e no político. São Carlos: Pedro & João, 2018.
BATAILLE, G. A parte maldita. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
BATAILLE, G. O erotismo. São Paulo: Arx, 2004.
CHALHOUB, S. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque. Campinas: Editora da Unicamp, 2005.
CHAVES, T. V. Da Marcha das Vadias às vadias da marcha: discursos sobre as mulheres e o espaço. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, [Campinas], 2015.
DUNKER, C. I. L. A lógica do condomínio ou: o síndico e seus descontentes. Revista Leitura Flutuante, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 1-8, 2009.
GADET, F. A língua inatingível. Tradução: Bethania Mariani e Maria Elizabeth Chaves de Mello. Campinas: Pontes, 2004.
GADET, F. Trapacear a língua. Tradução de Greciely Cristina da Costa. In: CONEIN, B; COURTINE, J-J; GADET, F; MARANDIN, J-M; PÊCHEUX, M. Materialidades discursivas. Campinas: Editora da UNICAMP, 2016.
GONZÁLEZ, L. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: GONZALEZ, L. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. Organização de Flávia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
GRECO, L. La performance au carrefour des arts et des sciences sociales : quelles questions pour la sociolinguistique ?. Langage et société, n. 160-161(2), p. 301-317, 2017. Disponível em: https://shs.cairn.info/revue-langage-et-societe-2017-2-page-301. Acesso em: 01 maio 2025.
GRECO, L. Performance. In: Langage et societé. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2021. p. 259-262. (Hors série 1). Disponível em: https://shs.cairn.info/revue-langage-et-societe-2021-HS1-page-259. Acesso em: 01 maio 2025.
HENDERSON, G. A afirmação da vida até na morte: o teatro de Zé Celso e a psicanálise lacaniana. Lacuna: uma revista de psicanálise, São Paulo, n. 4, p. 4, 2017.
LACAN, J. A juventude de Gide ou a letra e o desejo. In: LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
MBEMBE, A. Necropolítica. Tradução de Renata Santini. São Paulo: n-1 edições, 2018.
ORLANDI, E. P. A Análise de Discurso e seus Entre-meios: notas a sua história no Brasil. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, n. 42, p. 21-40, 2002.
ORLANDI, E. P. As formas do silêncio – no movimento dos sentidos. 3. ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995.
ORLANDI, E. P. Cidade dos sentidos. Campinas: Pontes, 2004.
ORLANDI, E. P. Segmentar ou Recortar. Série Estudos, Uberaba, n. 10, [p. s.p.], 1984.
ORLANDI, E. P. Terra à vista - discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Cortez, 1990.
PÊCHEUX, M. Abertura do colóquio. Tradução de Débora Massmann. In: CONEIN, B; COURTINE, J-J; GADET, F; MARANDIN, J-M; PÊCHEUX, M. Materialidades discursivas. Campinas: Editora da UNICAMP, 2016.
PÊCHEUX, M. Delimitações, Inversões, Deslocamentos. Cadernos de Estudos Linguísticos. Campinas: UNICAMP/IEL, v. 19, p. 7-24, 1990.
PÊCHEUX, M. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução de Eni Puccinelli Orlandi. Campinas: Pontes, 2008.
REIS, J. J. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
SAAVEDRA, C. Literatura e arte indígena no Brasil. Veredas - Revista da Associação Internacional de Lusitanistas, n. 33, p. 102–120, jan./jun. 2020.
SÉRIOT, P. Língua de madeira e discurso de vento: (da transparência à opacidade no discurso político soviético). Línguas e Instrumentos Linguísticos, Campinas, SP, v. 25, n. 50, p. 222–259, 2022. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/lil/article/view/8670788. Acesso em: 01 maio 2025.
SIMAS, L. A; RUFINO, L. Flecha no tempo. Rio de Janeiro: MV Editora, 2019.
SIMAS, L. A; RUFINO, L. Umbanda: uma história do Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021.
WEGLINSKI, L; CASTRO, J. Máquina do Desejo: Os 60 Anos do Teatro Oficina. Brasil: Descoloniza Filmes, 2021. Documentário (120 min).
AS BACANTES
EURÍPEDES. AS BACANTES. Tradução e introdução de Eudoro de Sousa. São Paulo: Hedra, 2010.
EURÍPEDES. AS BACANTES. Tradução e introdução de Trajano Vieira. São Paulo: Perspectiva, 2010.
EURÍPEDES. BACCHAE. With an introduction, translation and commentary by Richard Seaford. Oxford: Oxford University Press, 1996.
EURÍPEDES. BAKKHAI. Translated by Reginald Gibbons, with an introduction and notes by Charles Segal. Oxford: Oxford University Press, 2001.
AS BACANTES – BAKXAI – TYATO DO CORAÇÃO – ÓPERA D CARNAVAL – ELEKTROKANDOMBLAICA – TRAGYKOMÉDIORGYA (1996). Co-autores: Dytirambistas dos Tyasos Dionisíacos – Eurípedes – Katherine Hirsch – Denise Assunção – Zé Celso – Marcelo Drummond – e todos os Urânides. Disponível em: https://issuu.com/teatroficina/docs/texto_antigo_bacantes_3
TEATRO OFICINA UZYNA UZONA (2012). BACANTES 2011 pra EUROPA em 2012. Disponível em: https://issuu.com/teatroficina/docs/bacantes__2012_
Data de Recebimento: 02/05/2025
Data de Aprovação: 10/05/2025
1 Espetáculo de Oswald de Andrade (1933), publicado em 1937 e estreado em 1967 pelo Teatro Oficina.
2 O Teatro Oficina foi eleito pelo jornal The Guardian como o melhor teatro do mundo na categoria projeto arquitetônico (2015).
3 Trecho do documentário A máquina do desejo (2021): “respiração, vento, sopro, criação do mutirão, da associação Teatro Oficina Uzyna Uzona na tempestade do ardor irresistível. A ideia de aproveitar uma tempestade, de aproveitar o embalo de um vento [...] E a grande mensagem da minha geração era ‘te vira, meu filho, que teu pai morreu. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não fizer acontecer, não acontece’”.
4 Manifesto da Poesia Pau Brasil (1924), cf. Andrade, 2017.
5 Fazemos menção ao Manifesto Antropófago de autoria de Oswald de Andrade, publicado em 1928 na Revista Antropofagia, como um texto paradigmático do Movimento Modernista Brasileiro, que transita entre o político, o poético, o panfletário e o paródico. A metáfora alimentar presente no significante Antropofagia coloca em jogo a afirmação de uma brasilidade a partir do movimento de “devoração”, diante de uma história colonial sangrenta, calcada na afirmação do outro como selvagem, bárbaro e violento. A Antropofagia de Oswald transborda do movimento modernista para uma série de apropriações estéticas contemporâneas, como é o caso do Teatro Oficina, que coloca a construção da identidade a partir da relação necessária de incorporação das alteridades, em outras palavras: “só me interessa o que não é meu” (Cf. Azevedo, 2016).
6 “São esses dois mitos que fundam a ‘história pregressa’ desses habitantes, o do bom selvagem, vivendo num paraíso esquecido e o seu avesso, o do canibal sedento de carne humana. Paraíso e inferno, não havia saída” (Saavedra, 2020, p. 1-2).
7 “Terreiro” é uma das denominações populares para designar um dos espaços de celebração dos cultos das religiões de matrizes africanas no Brasil, a exemplo do Candomblé e da Umbanda. O termo também pode remeter a uma dimensão mais ampla, não se fixando nos contextos religiosos e nos espaços físicos, conforme propõe a perspectiva da epistemologia das macumbas, que pensa a noção a partir do rito, questionando a dicotomia entre aspectos sagrados e profanos: “os terreiros inventam-se a partir do tempo/espaço praticado, ritualizado pelos saberes e as suas respectivas performances. [...]. O que a noção de terreiro abrange é a possibilidade de se inventar terreiros na ausência de um espaço físico permanente” (Simas e Rufino, 2019, p.41).
8 C.f. Máquina do Desejo (2021): “Veio 68 aquele teatro que tinha sido construído com madeira e cimento, aquele palco, não era o espaço que interessava. Não tinha mais palco-plateia, era roda viva, então a gente tocava nas pessoas, as pessoas eram atores e o espaço era todo, era todo mundo [...] era um grande ritual, tipo futebol, tipo macumba, tipo novela, tipo terreiro mesmo para jogar os tabus todos e transformar os bodes todos e profanar e transformar aquilo em grandes sessões, de grande libertação, de grande gozo, de grande delírio coletivo”.
9 O bairro é conhecido como um dos mais tradicionais da cidade por sua história, contada em várias versões: o Quilombo Saracura, que remete aos negros escravizados e à sua permanência no território no pós-abolição; a fundação da escola de samba Vai Vai em 1930; a rota indígena Peabiru; a imigração italiana no final do século XIX; a broadway paulistana nos anos 1950; a migração nordestina nos anos 1970; o samba de Adoniran Barbosa; o rock dos anos 1980; a criminalização da pobreza; o estigma do crack ou ainda da “cracolândia” (nome atribuído a um local — itinerante na cidade, pela ação administrativa do Estado — e a um conjunto de usuários da droga).
10 Cf. a “lógica do condomínio” (Dunker, 2009).
11 Tradução nossa. No original, “caractère hybride des productions langagières, au croisement des arts et du langage”.
12 Tradução nossa. No original, “les performances, des plus ritualisées aux moins structurées et spontanées, permettent de réactiver la mémoire collective, de rétablir l’ordre social précédemment rompu, d’établir des relations et de reconfigurer les places symboliques au sein d’une communauté”.
13 Tradução nossa. No original, “souligner la dimension esthétique et politique des pratiques langagières”.
14 Tradução nossa. No original, “il ne s’agit de penser la performance ni comme une métaphore pour appréhender les pratiques langagières ni comme un objet d’étude”.
15 Tradução nossa. No original, “qu’un genre discursif prenant en compte le rôle joué par les différents types d’audiences dans la production, l’évaluation et la réception de celle-ci ainsi que l’ensemble de modalités corporelles, musicales, sensorielles et vocales au travers desquelles les textes sont livrés”.
16 Para citar algumas: 1) o imenso trabalho teórico-analítico de Eni Orlandi e dos pesquisadores(as) associados(as) a ela, que, no interior do Laboratório de Estudos Urbanos (LABEURB) da Universidade estadual de Campinas (UNICAMP), produziram uma reflexão densa e original sobre a dimensão discursiva da cidade, do corpo, da gramatização brasileira, do silêncio, entre outros objetos de análise que alçaram a Análise de Discurso ao lugar de um campo importante de interpretação das contradições da realidade brasileira. 2) O trabalho dos grupos de Pesquisa Mulheres em Discurso (UNICAMP) e PsiPoliS (UNICAMP), que provocam os dispositivos teóricos da Análise do Discurso a partir de pesquisas que giram em torno da complexidade das relações entre gênero, sexualidade, classe, luto, colonização, a partir do diálogo com a História, a Psicanálise, a Sociologia, o campo Estético, e os Estudos Decoloniais e de Gênero produzidos no Brasil.
17 Cf. Máquina do Desejo (2021). O teatro enquanto lugar sagrado remete à centralidade do rito na performance teatral, de modo a conectar o espaço físico a um lugar de saberes e de práticas calcadas em um espaço/tempo que não coincide com o da privatização e o do consumo dos shopping centers. Nessa perspectiva, deve-se sublinhar que manter um teatro como iniciativa autônoma no Brasil é uma luta dos movimentos em defesa da arte e da cultura.
18 Transcrição de trecho do vídeo do encontro entre Zé Celso, Silvio Santos e João Dória (2017). Disponível em: Silvio Santos, Dória e Zé Celso
19 Cf. Baldini e Chaves, 2018.
20 Diante do controle da manutenção do arranjo urbano, pelo administrativo, o Teatro Oficina desafia a ordem do discurso urbano, que não permite que restem espaços vazios na cidade, não preenchidos pelo imaginário urbano. Conforme Orlandi (2004, p. 35), “sem espaço vazio, não há falha, não há possível, não há equívoco”.
21 Sériot, 1982.
22 Cf. Gadet e Pêcheux, 1981 e Orlandi, 1992.
23 Texto Dramático de 1996, com crítica de Fernando Peixoto. Disponível em: Texto Bacantes 1996
24 Nada mais euripediano… Para Vieira (2010), Eurípedes faz do público um ator.
25 Espetáculo musical e teatro de revista que atualiza o Manifesto Antropófago (1928), de Oswald de Andrade. Disponível em: Macumba Antropófaga
26 A maloca da Jaceguay é uma ocupação de moradores e moradoras de rua próxima ao Teatro Oficina. Na Macumba Antropófaga a maloca é uma parte do espetáculo: os atores, as atrizes e o público atravessam, os ocupantes estão almoçando e cantam junto com todos – e a polícia observa de luzes ligadas e sirenes. Não se pode atrapalhar o trânsito das artérias infartadas de São Paulo.
27 Pêcheux, 1982, p. 20.
28 Henderson, 2017, p. 6.
29 No mundo grego, Dionísio é filho de duas mães: nasce uma vez de Sêmele, outra vez da coxa de Zeus. Também se diz que foi criado como menina, para fugir da ira de Hera.
30 Para uma compreensão histórica sobre os sentidos de “Vadiagem”, Cf. Chalhoub, 1986.
31 No entanto, é preciso se atentar para uma diferença discursiva significante em que intervém a sexualidade, a raça e o gênero, entre vagabundo e vagabunda, vadio ou vadia. A esse respeito, cf. Chaves, (2015).
32 Baldini; Chaves, 2018, p. 368
33 Disponível em: Texto Bacantes 1996
34 Fazemos menção ao espetáculo encenado em 2016 no Teatro Oficina.
35 A relação que fazemos é da apropriação de Eurípides pelo Teatro Oficina, já não se trata mais do texto grego, mas de um ato de devoração do texto, cujo produto resulta em outra coisa. Esse gesto foi realizado de diversas maneiras por Oswald de Andrade e com vários personagens da cultura brasileira, a exemplo do Bárbaro Tecnizado no Manifesto Antropófago (1928), figura que transita entre o indígena idealizado pela literatura romântica, demonizado pelos discursos biologistas e religiosos, mas já travestido numa roupagem contemporânea pelo significante Tecnizado e pelas relações metafóricas que marcam a sua aparição.
36 Baldini e Chaves, 2018, p. 373.
37 Simas e Rufino, 2019, p. 3.
38 O pensamento original de Mbembe (2003) traça um diálogo com o conceito de biopolítica elaborado por Foucault, propondo a noção de necropolítica para pensar as relações entre resistência, sacrifício e terror contemporâneos. Relações, que, segundo o autor, não podem ser examinadas sem o registro da escravidão, considerada uma das primeiras manifestações da experimentação biopolítica.
39 Disponível em: G1_despedida Zé Celso. Consultado em 10 de junho de 2024.
40 Disponível em: Midia ninja_Zé Celso. Consultado em 10 de junho de 2024.
41 Sobre a questão das “versões” do luto, cf. Allouch (1995). O psicanalista irá considerar que na contemporaneidade vivemos o tempo da “morte seca”, em que o luto é vivido de modo cada vez mais privado e individual.
42 Disponível em:Youtube_Velório Zé Celso. Consultado em 10 de junho de 2024.
43 Disponível em:Youtube_Zé Celso. Consultado em 10 de junho de 2024.
44 Cf. Reis, 1991, pg. 137, em que o pesquisador recupera um autor anônimo que enfatizava, no início do século IX, que um dos principais “divertimentos” dos brasileiros na Bahia eram os “suntuosos funerais”, além das festas religiosas, merecendo destaque as organizadas pelas irmandades negras da Boa Morte - em que não faltavam orquestras, banquetes, fogos de artifício e vinhos e licores.
45 Disponível em Metrópoles_emparedamento Oficina. Consultado em 17 de junho de 2024.
46 “[...] Afinal, Brasil é nome do país já batizado pelos europeus, não o nome original que o território ocupado possuía entre os ameríndios: Pindorama” (Azevedo, 2016, p. 169).
47 A partir de Lélia Gonzalez (1984), especialmente de suas formulações sobre a figura da mãe preta, pensamos em uma certa resistência passiva como rasteira pela linguagem e pelo que a autora denomina cultura brasileira, uma cultura eminentemente negra, apesar da denegação dessa característica, e que é transmitida por uma língua africanizada, o pretuguês. Com o Oficina, antropofagicamente, podemos pensar em aspectos das culturas e línguas indígenas também denegados e que insistem em se inscrever nos seus rituais. A essa acepção, articula-se outra dos movimentos sociais organizados desde Pindorama contra os poderes políticos instituídos.
48 É por isso que, em diversas traduções, Penteu é descrito como o terror da pólis.