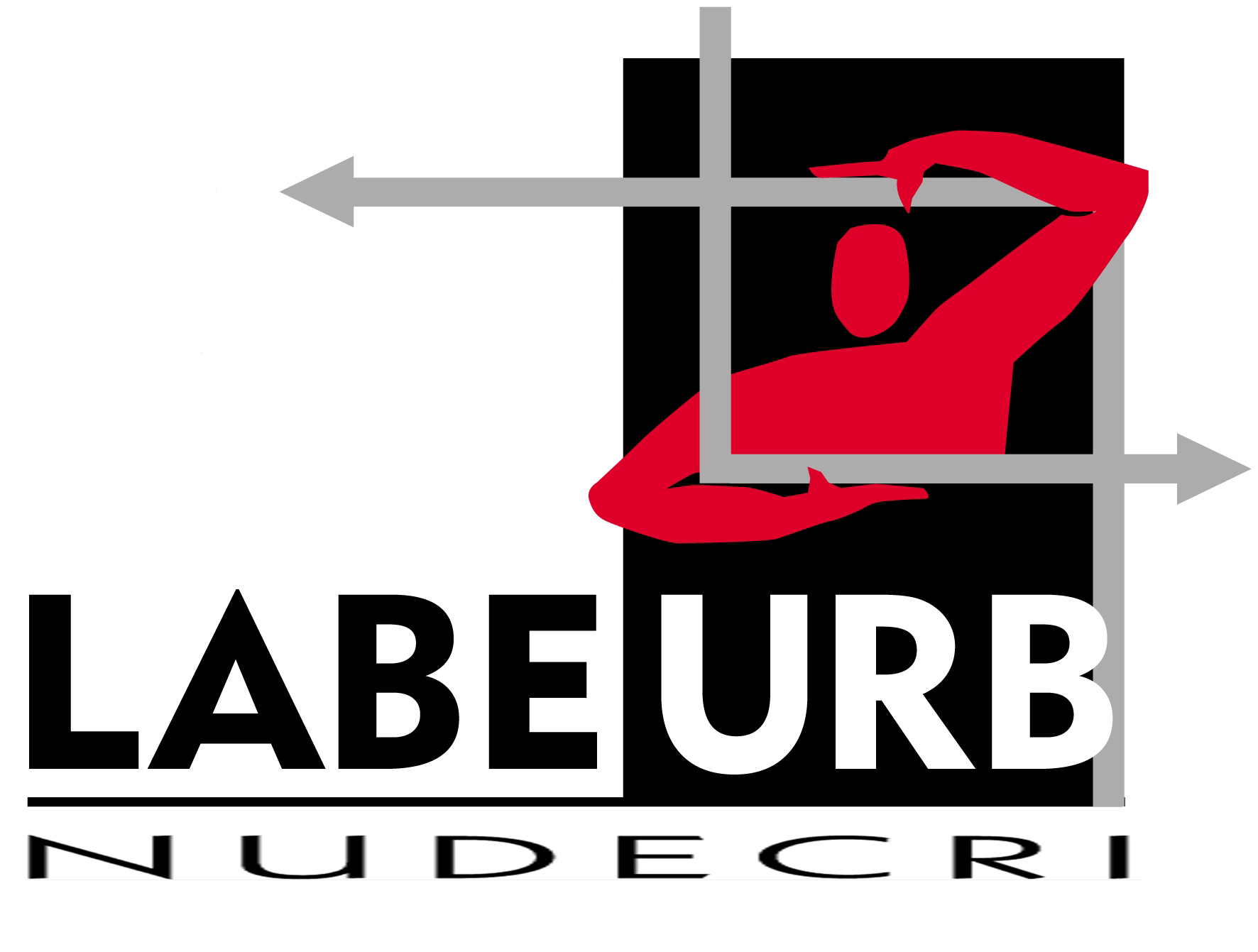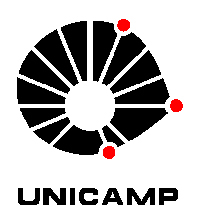Era negra, negra, negra a sua presença. Solange Faladé e a diferença na transmissão da psicanálise


Pedro de Souza
Para convidar à conferência da psicanalista Catherine Millot para falar sobre uma obra de Jacques Lacan, O Seminário livro 20. Mais ainda. O Corpo freudiano, escola de psicanálise, seção Rio de Janeiro, divulgou uma foto em que a conferencista aparece ao lado de Lacan. A fotografia foi copiada de um site que divulgara a mesma conferência em que Millot, a convite de uma universidade italiana, comenta o mesmo seminário de Lacan. Como lá, também aqui no acontecimento promovido pelo Corpo freudiano, o intuito foi de mostrar, na foto escolhida para divulgação, os protagonistas do evento da exposição da psicanalista que levava o nome: Minha leitura do seminário 20. Mais ainda — ou seja, a imagem ilustra o tema do evento, sendo o autor, Jacques Lacan, e Catherine Millot, leitora de um seminário de Lacan.
Acontece que, no contexto da chamada à conferência no Rio de Janeiro, uma reação crítica a esta foto tornou amplamente conhecida uma outra versão da mesma foto. Houve uma primeira versão da mesma fotografia que expõe Lacan e Millot um ao lado do outro. Só que a presença de uma terceira figura de mulher, colocada do lado direito de Jacques Lacan, foi suprimida da mesma cena fotografada. O fato foi manifesto em rede social pelo psicanalista Paulo Bueno. Um tanto incomodado, sob o título O apagamento de Solange Faladé (mais, ainda), ele põe assim em palavras seu incômodo:
Na primeira foto estão Solange Faladé, Lacan e Catherine Millot. A segunda foto é o recorte da primeira, trata-se da imagem escolhida para a divulgação do evento de uma respeitada escola de Psicanálise do RJ. Nela aparecem Lacan e Catherine Millot, conferencista do evento, sem Solange Faladé.1
O psicanalista, estudioso e propagador do trabalho de Solange Faladé, sob o impacto da visão da foto, enuncia sua indignação. Mesmo tendo em vista que os divulgadores — tanto no evento da Itália quanto no Brasil — visavam expor na imagem quem e sobre o que falaria a conferencista convidada, escreve ele no seu Instagram “(...) não podemos compactuar com a escolha pela supressão da imagem de Faladé.”
Temos aqui o exemplo de um ato de enunciação que sustentado no tempo presente de seu dizer coloca em suspenso o que poderia ser interpretado a partir de uma imagem fotográfica apreendida mediante um significante, nunca através do fato objetivo imaginariamente alegado e associado ao corte como seu referente imediato. Uso o conceito significante para aludir ao fato de que uma expressão, seja verbal ou não verbal, pode ser conduzida a múltiplas e heterogêneas possibilidades de significar.
Na relação entre o modo de enunciar e seu significado objetivo, a questão é saber como a interpretação pode se fazer mediante a forma inteira de uma foto ligada à supressão de uma de suas figuras. Em síntese, a palavra pela qual se faz uma enunciação sempre percorre um caminho histórico no mundo dos discursos. O pronunciado por escrito ou oral faz surgir para quem fala algo diferente. No caso em análise, o sentido feito na fala pode não ser exatamente o que o que foi expresso por aquele que realizou o corte na superfície imagética da fotografia. Contudo, o que se mantém no dizer, qualquer que seja a posição de quem enuncia, é o sentido do enunciado proferido: o ato de enunciar presentifica um sentido.
Daí é possível, alternadamente, considerar que a afirmação do sujeito que realiza seu ato de interpretação, para assim proceder, situa os elementos da foto cortada sob duas hipóteses: primeiro, a de indicar na imagem os protagonistas do evento a que se refere; segundo o de apontar no corte, que deixa seu vestígio, um gesto tendo como efeito de sentido um ato de racismo.
O modo como exponho o caso, nestas linhas iniciais, me conduz a tomar o fato não para decidir sobre o verdadeiro ou o falso; tampouco para elucidar o que teria acontecido no tempo em que a mesma foto passou a circular com a supressão de uma das figuras originalmente presente nela. Trata-se de debruçar não sobre o que aconteceu — afinal, houve um corte — mas sobre como aconteceu. Certamente é possível investigar a história da transição de um estado a outro desta imagem fotográfica. No entanto, fiquemos apenas com este instante crucial em que uma manifestação de revolta nos faz deparar com uma supressão que deixa seu vestígio material na superfície de um retrato — parte da mão esquerda de Solange Faladé recostada ao braço direito de Lacan ainda ficou na cena fotografada —, esta que remete aos discursos que dela procuram produzir sentido.
Não me interessa, nesta reflexão, tratar da polêmica inscrita no episódio em análise. O que me interessa, sim, é colocar em relevo o modo como a linguagem aparece, levando ao problema que o fenômeno encerra. Refiro-me à linguagem que, na esteira das considerações de Michel Foucault, se tornou objeto crucial de análise no que diz respeito ao modo de escrever uma história. Aqui, digo com Foucault, “(...) certamente nos interessamos pela linguagem. No entanto, não por termos conseguido finalmente tomar posse dela. Mas antes, porque mais do que nunca ela nos escapa. (Foucault, 2015, p. 74)”. A linguagem, diz o filósofo francês, é o plano em que nos encontramos submetidos, indiferentes à perspectiva intemporal que nos submete e nos deixa levar pela onda que se atualiza sem parar nas instâncias intermitentes de acontecimentos discursivos.
Trago então, na discussão aberta pelo fato de a escolha ter caído sobre a versão cortada da foto, a escuta que se entretém no curso entre a imagem em circulação e as palavras, que não só problematizam o conteúdo fotograficamente exposto com corte, mas as constituem no ensejo de terem surgido em atos pontuais de enunciação. Sobre a suspeita de um gesto de racismo presente na figura da mulher negra suprimida da fotografia, pairam acontecimentos discursivos que funcionam em relação colateral a uma suposta ou imaginária origem. Aludo aos traços que, tanto numa forma ou em outra, tornam, de todo modo, permanente a presença de um nome na história da psicanálise.
Aí se encontram certas maneiras possíveis de escrever a história, que tanto pode remeter à psicanálise como movimento discursivo de transmissão, quanto como acontecimento singular daquele ou daquela que transmite. É próprio do que só vem de atos instantâneos de fala: o desaparecimento do nome de que detém o gesto de enunciar — falando ou escrevendo. Então, é inútil ater-se ao fato das palavras da língua que diz acerca do modo de Solange Faladé estar fotograficamente presente — inteira ou em fragmentos. Importante deter-se aos discursos ditos que fazem as palavras da língua enquanto acontecimento enunciativo funcionar para escrever uma história. Aludo agora à história da psicanálise como transmissão sob a tutela de nomes cujo efeito de transmissão decorre do anonimato no qual se faz persistir seus atos discursivos, especificamente. Minha reflexão, em vez de se primar pelo que efetivamente ficou da assinatura de Solange Falade, entrega primazia aos discursos sobre os discursos que dela fazem presença na história da psicanálise.
Importante salientar, neste ponto, o emprego que faço da noção de história tal como a emprega Michel Foucault para fazer uma arqueologia das formas discursivas de saber. Em uma entrevista concedida à Radio France Culture, logo após a publicação de seu livro Arqueologia do saber, o filósofo deixa claro com que perspectiva define história em seu trabalho: a descrição das formas de discurso e dos funcionamentos do discurso. Tais funcionamentos associam-se a diferentes maneiras de pensar, que, por sua vez, remetem a modos diversos de articular práticas discursivas (Foucault, 2024, p. 466). O que importa de fato é mesmo o que fazem os falantes quando falam. Aqui focalizando a história que contam usando palavras. Isto pode ser ligado ao que Jacques afirma sobre o vínculo entre os efeitos do discurso e a escrita: "O liame (...) é um liame entre aqueles que falam" (Lacan, 1982, p. 43). Não é tanto a materialidade significante da escrita que se põe em relevo, mas sim do vínculo que se dá entre aqueles que falam.
No que tange ao objeto desta minha reflexão refiro-me ao cruzamento a que se liga a foto como significante: legado de uma figura singular de transmissão do ensino psicanalítico e memória do que, no mais ainda do ato de transmitir, fica a presença diferencial de uma posição enunciativa: por exemplo, a voz africana que ressoa na diaspórica terra da emergência do ensino de Lacan.
A propósito da psicanálise lacaniana e sua história, indo ao Google à procura de discursos sobre Solange Falade, encontrei uma postagem divulgando o debate intitulado Solange Faladé et la diversité du monde, com Ninette Succab-Glissant, em fevereiro de 2018, apresentado por Mayette Viltard, da Escola lacaniana de Paris2. Nesta se lê o seguinte:
Folheando História da Psicanálise na França, da Mme. Roudinesco, deparei-me com esta afirmação que me deixou com uma curiosa perplexidade. Ela evoca os "discípulos favoritos" de Lacan: "Um Judeu, um Árabe, uma Africana. Essa escolha ilustra bem o universalismo lacaniano". (volume 2, Seuil, págs. 425-26). O judeu é Serge Leclaire, a quem Lacan "continua a amar apaixonadamente", o árabe, Mustapha Safouan, a quem Lacan "considera um excelente clínico", e a africana, Solange FALADÉ, "que é sua confidente". Essas três pessoas ilustrariam o universalismo de Lacan?3
O que sublinho neste texto de chamada ao debate é o que nele se pode descrever como componentes da formulação de um discurso sobre outros, sinalizando a dimensão da diversidade presente no trabalho lacaniano. Nela se destaca a presença de Solange Faladé, sobre quem o mesmo texto postado neste site, ao se perguntar como Solange Faladé tornou-se psicanalista, assevera;
Devemos encontrar maneiras de problematizar a importância de Solange Faladé, que esteve no centro de uma sequência histórica de colonização francesa na África negra e foi uma figura eminente na história da psicanálise francesa com Jacques Lacan e de certos aspectos da psicanálise atual em Dacar e Benin. Ao lado de Lacan, ela sempre manteve sua posição de psicanalista, sem nunca aludir, até onde eu saiba, ao seu passado “pessoal”.4
Não se trata de tirar esta fala de seu contexto, mas de estendê-la e incluir nela o funcionamento enunciativo que leva a maneiras específicas de escrever a história da psicanálise mediante discursos em que o nome e o anonimato são constitutivos da história produzida. Faladé é nome que desaparece no seu próprio ato de escrever e falar — não como efeito de anulação, mas como ato suigeneris de intensificação de uma presença coextensiva ao campo do que se quer fazer dizer. Ao assim proceder, sua atividade discursiva se torna presente pelo que pode transmitir mediante o interdiscurso, enunciando que o que se fala já está antes dito. Basta percorrer o argumento que sustenta tanto o discurso que abre a acusação de um suposto apagamento, quanto os que a eles se juntam para corroborá-lo ou dele se defender. Ambos, ainda que sem o pretender, prestam um mesmo tributo não só a Faladé, mas também à causa implícita de toda diversidade, notadamente a da presença negra na história da psicanálise.
Na contramão do que agora se questiona acerca do cancelamento de Solange Faladé, seu nome se faz presente: não só o dela, mas de muitos outros que, para dizer nos termos de Michel Foucault (2016), remetendo às maneiras de escrever a história, conquistaram o anonimato, renunciando à presunção — voluntária ou involuntária — de se tornar um dia anônimo. Isto aplico ao fato de que Faladé pouco empregou o lugar de fala da ascendência, ancestralidade ou identidade africana. Sem negar sua origem, ela assumiu o trabalho de transmitir a psicanálise, indo ao encontro do seu acontecimento em Paris, junto à parceria solidária com Jacques Lacan. Como outros negros e negras, ainda atuantes hoje no domínio do exercício da psicanálise, Faladé não se pôs a propagar uma verdade e a ligar seu nome a ela. Na posição minoritária de sua identidade africana, ela não experimentou a questão de precisar se destacar do anonimato a que, entre todos, poderia ser preterida por ser negra. Usando as palavras de Michel Foucault (2016, p.76), digo que Solange Faladé, a acreditar no consenso dos discursos — objeto desta minha reflexão — hoje tem seu nome próprio apagado. Entretanto, não por uma militância que se fez na luta contra certa hegemonia branca do discurso psicanalítico em sua época. Nesta atribuição denunciante, a presença negra de Faladé, ainda que dita apagada, se produz pelo funcionamento linguístico de enunciado estruturando discurso de acusação - tais como estes que analiso aqui nas circunstâncias do impacto de sua figura suprimida numa foto.
No que se diz da sua supressão na história, escuta-se sua voz alojada nesse grande rumor anônimo dos discursos que a ela se referem. Reclamando o trabalho da memória que luta por torná-la desaparecida, todos — concordantes ou discordantes — acabam por aludir à singularidade de uma transmissão que, embora fiel a seu legado, celebra a diferença geolinguística sob o pressuposto de que se faria psicanálise apenas na França, Inglaterra ou Viena. O termo anonimato corresponde analiticamente ao efeito das séries de enunciação compondo a obra de Solange Faladé. Nela, o ato de fala faz sujeito desde onde não há sujeito algum na origem, pelo menos na posição constituinte.
Do chapéu de Clementis ao dedo de Faladé
A fim de não correr o risco de sobre interpretar o que se polemiza acerca da recente publicação desta foto, é preciso que eu explicite as minhas ferramentas de análise. Proponho começar por contrapor o caso do corte de Solange Faladé na imagem fotográfica em que se encena a celebração de um tempo forte de transmissão da psicanálise lacaniana, a uma outra pela qual Milan Kundera introduz seu livro intitulado Livre du rire et de l’oubli. É uma anedota que me serve para fazer um paralelo com o caso da fotografia de Faladé aqui em questão. Esta menção, por seu teor histórico e analítico, eu a relato nas palavras de Jean-Jacques Courtine em seu artigo "O chapéu de Clémentis. Observações sobre a memória e o esquecimento na enunciação do discurso político"(Courtine, 1999, p. 15-22)5.
Nada mais oportuno que, sob o procedimento da alusão interdiscursiva, eu tome as considerações de Courtine para, a partir delas, ao longo do desenvolvimento deste meu texto, deixar claro que o objeto de minha reflexão é tão somente uma foto na qualidade de expressão significante, onde todo ato de discurso se aloja para dizer o que se quer que seja dito. Courtine nos faz saber do que se trata na foto em que a figura de um dos integrantes do partido comunista, Clementis, é cortada numa fotografia. Na nova versão da foto, sua presença fica metonimicamente figurada no chapéu que emprestara ao companheiro na mesma cena fotografada. O cenário é o da sacada de um palácio barroco na cidade de Praga. Klement Gottwald, dirigente do partido, discursa para a multidão na praça da cidade.
Tem-se aí a peça de uma foto jornalística suprimida em um de seus elementos. Ao modo como sucedeu com Solange Faladé, retirada do lado de Jacques Lacan e de Catherirne Millot, o corte pontual, tal como aconteceu com o partido comunista do leste europeu, fará mudar os rumos da escrita da história de uma instituição psicanalítica. Jean-Jacques Courtine registra assim, literalmente entre aspas, o acontecimento, conforme leu na passagem inicial do texto de Milan Kundera:
“Gottwald estava cercado por seus camaradas e, a seu lado, bem próximo, estava Clémentis. Nevava, estava frio e Gottwald estava com a cabeça descoberta, Clémentis, muito atencioso, tirou o seu chapéu de pele e o colocou na cabeça de Gottwald. O departamento de propaganda reproduziu centenas de milhares de exemplares da fotografia da sacada, de onde Gottwald, com um chapéu de pele e rodeado por seus camaradas, fala ao povo. (...) Todas as crianças conheciam essa fotografia de tê-la visto em cartazes, nos manuais ou nos museus.
Quatro anos mais tarde, Clémentis foi acusado de traição e enforcado. O departamento de propaganda fê-lo imediatamente desaparecer da história e certamente de todas as fotografias. Desde então, Gottwald está sozinho na sacada. Ali, onde estava Clémentis, há somente o muro vazio do palácio. De Clémentis, restou apenas o chapéu de pele na cabeça de Gottwald.” (Kundera, apud Courtine, 1999, p. 15)
O primeiro dado a aproximar os dois casos vem da diferença entre o que discursivamente atravessa o gesto de interpretação de uma e outra foto, considerando os cortes nelas procedidos. Acerca do chapéu de Clémentis aparecendo ajeitado numa cabeça que não era sua — vestígio do rastro do apagamento que se enuncia na figuração cortada —, há uma série de discursos contando a história de uma dissidência partidária. A força de tais discursos parece apagar o ato a ponto de nele só restar o funcionamento incrustado na própria materialidade significante da foto. Este é o proceder analítico que realiza Courtine ao aplicar à aparição da foto o funcionamento da memória como discurso. Lembrando aqui o trabalho do interdiscurso que este autor vai fazer valer, ou seja, o dizer que aqui se dá significa no que se disse antes na sucessão das escritas da história deste partido.
Desta maneira, é lícito atribuir ao corte da figura militante de Clementis ao cancelamento da história de. Sua inclusão ativa no partido. Em outros termos, é o que está dito toda vez que interdiscursivamente, a memória aciona a relação de sentido entre a foto integral — abertamente disponível até nos manuais de historiografia política — e a foto posteriormente alterada significando ato de fazer desaparecer Clementis, traidor do partido. A foto vem como traço do mal de arquivo. De que mal vem o arquivo da história de um partido? Menos da presença de Clementis cortada na foto do que o gesto de fazer esquecer.
Em se tratando da história da psicanálise, penso que é possível dizer o mesmo sobre o efeito do corte de Solange Faladé na foto em destaque. Oportuno trazer aqui o lembrete de Davi Pessoa6 acerca do conceito de mal de arquivo proposto por Jacques Derrida. Derrida (1994)7 nos lembra Pessoa, interroga: “por que reelaborar hoje um conceito de arquivo, numa única e mesma configuração, a um só tempo técnica e política, ética e jurídica? Qual seria, ressalta Davi Pessoa, o horizonte desta questão?” O próprio Derrida traz indicações para responder, apontando para os desastres que marcaram a história no final do milênio. Verificam-se aí os arquivos do mal, dissimulados ou destruídos, interditados, desviados, recalcados. O fato sublinhado por Pessoa é que, segundo Derrida, não se renuncia jamais à memória. Para se apropriar de um poder sobre o documento que materializa o arquivo, sobre sua detenção, retenção ou interpretação, é no próprio inconsciente que a memória tem lugar. Mas a quem cabe, em última instância, a autoridade sobre a instituição do arquivo?
Recorro de passagem à conceituação de mal de arquivo, me apropriando da leitura de Davi Pessoa, com o objetivo de aplicar a questão de a quem cabe a autoridade pela escrita da história, da história da psicanálise, já que tal empresa demanda a constituição e preservação do arquivo. Na concepção de Derrida todo arquivo é ao mesmo tempo instituidor e conservador, revolucionário e tradicional. Neste sentido, o mal de arquivo supõe um movimento patético que pode ser observado no ato mesmo de transmitir a memória por escrito. Consta neste processo uma busca incessante do arquivo lá onde ele se esconde. Daí, diz Kingler (2024): “nada é menos garantido hoje em dia do que a palavra arquivo. Arquivo não se reduz à memória. Ele pode ter lugar no desfalecimento da memória”8.
Isto exige então uma abordagem analítica evidenciando de que maneira o arquivo pode ser ao mesmo tempo instituidor e conservador de memória. Digamos que isto é que está feito na abordagem analítica de Courtine, mas que, por sua vez, resta a fazer no enigmático caso do apagamento de Solange Faladé reduzido a um fragmento de uma de suas mãos como índice de uma presença suprimida. Este fragmento do corpo de Faladé, à direita da foto, funciona para significar o corte urdido pelo suposto intuito de retirá-la da história. Não obstante, o mesmo discurso que denuncia o efeito de exclusão no corte, faz também representar discursivamente esta parte do corpo como índice enunciativo da presença do corpo inteiro da subjetividade apagada.
Nesta direção em que vislumbro o efeito da reação crítica quanto à escolha de uma foto que exclui Solange Faladé, há que, portanto, se ater ao que se passa na figuração fragmentada da foto em termos de funcionamento materializado de linguagem. Falando de Clementis e de sua anulação numa história política, Courtine enfatiza o que, ao olhar-leitor, atua enquanto memória dada no domínio do discurso político, tal como se apresenta no campo de disputas partidárias. Aí se encontra o fragmento de uma supressão que se mostra não apenas no que ficou desta figura militante, mas do que teima discursivamente em se insinuar como sintoma do que da memória se recalca. Por certo é o que se presentifica num e outro ato de dizer, ou seja, mais do que a evidência do sentido da imagem fragmentada, impõe-se a elisão de um certo modo de narrar uma região da história da psicanálise. Aludo aqui ao estatuto da elisão como ato para o qual aponta o dizer dela e sobre ela. Não é sobre o objeto elidido, mas sobre o que se encontra no ato de fazer ver a supressão. O próprio ato de enunciar presentifica o isto que a imagem mostra9. Em outras palavras, se observa aí figurado na foto um exemplar do mal do arquivo, a que se reportou Jacques Derrida (2001, p. 24) lendo Freud, à medida em que aponta não só para o que foi preservado, mas também para o elidido da história.
O ponto marcado de um corte só pode remeter a um modo de fazer desparecer se tomado como marca na superfície material não-linguística do que restou como documento fotográfico. Mas o caso é de rastrear a ordem do discurso no interior da qual o apagamento se produz. Quero me referir ao modo como Courtine, para analisar o processo de perda referencial na foto em que figura apenas o chapéu de quem dela foi cortado, se reporta ao que caracteriza a ordem do discurso político que permite compreender o dito desparecimento do dono chapéu.
Na mesma linha interpretativa, se diante do olhar-leitor só se vê o dedo de Solange Faladé, isso significa que a ausência marcada de Faladé induz a um gesto de discriminação racial: "trata-se de uma escolha que se inscreve numa política de apagamento racializada e generificada (sic)", adverte Paulo Bueno pondo em cena o corte com que se depara na foto. Este enunciado pressupõe outros dizeres contornando suas margens numa outra direção discursiva: "e se no lugar da psicanalista do Benin fosse Jaques Alain Miller, sua imagem seria omitida...?", interroga o psicanalista antes de sinalizar, no fraseado que segue a pergunta, o apagamento racializado que ele interpreta ao olhar para o corte
É preciso fixar a escuta no próprio ato de dizer que rodeia o que se diz no espaço discursivo em que tanto o ato de cortar quanto a escolha do fato cortado significam. Este ato acontece na esteira do que antes já existia em outros enunciados que, como define Courtine, funcionam de modo complementar, oposto, disponível, ou até mesmo de modo a tornar impossível o que se quer ali ser dito. O que estaria na outra margem desta cadeia de enunciações? Tudo pode se explicar pelo fato de que um enunciado é passível de "surgir apenas sobre o fundo de outros enunciados: um enunciado remete constitutivamente a outros", afirma Jean-Jacques Courtine. Assim é que pontualmente, os enunciados acima delimitados, na sequência escrita do psicanalista Paulo Bueno, representam um ato de linguagem operado sobre outro, isto é, respectivamente a postagem da fotografia e o que dela se pode afirmar. É possível escutar, neste cruzamento enunciativo, os discursos que representam a maneira com que se registra uma certa cena no quadro de uma discursividade psicanalítica. Nela devemos incluir também enunciados da própria instituição que postou a foto cortada, fazendo ressonância, não às exatas formulações de Paulo Bueno, mas a uma constelação discursiva, lançando luz sobre a presença do negro na psicanálise. Numa nova postagem, a Escola o corpo freudiano, continuando a divulgar o mesmo evento com Catherine Millot, replica cordialmente:
Presados, @paulobuenopsi e toda a comunidade psicanalítica, nós da Escola Corpo Freudiano nos unimos a vocês na preocupação com esse apagamento perene que os negros sofrem, fruto do racismo que perdura ao longo da história, dentro e fora da psicanálise. Todos sabemos que o embate e o trabalho de revisão rigoroso das questões relativas à invisibilidade e apagamento dos negros no passar dos anos é preciso e urgente.
Falando especificamente do impacto interpretativo causado pelo desaparecimento de Solange Faladé na fotografia em que um dia foi vista com Lacan e Millot, é preciso escutar a língua falada e convertida em discurso a partir da imagem. Esta, enquanto ato de linguagem, somente ressoa na ordem própria do discurso efetivamente produzido. Daí decorre que se nos ativermos à imagem fotográfica que aqui faz problema, é sob seu estatuto de arquivo documentando a instituição de uma memória, que surgem as palavras chamando para o diálogo — "não acredito que o caminho seja o de um puro ataque à instituição, mas sim o da abertura para o diálogo e para a reflexão".
Mas não é do falante que se trata, mas dos discursos que produzem para a imagem fotográfica um só lugar inaugural do arquivo. É como se, em suas respectivas condições institucionais de produção, cada discurso postulasse o arquivo na sua dimensão que Freud chamaria "acreontico", a saber, o estatuto legislador do que se institui judicialmente como arquivo da história posta em questão. De forma que de um registro a outro — foto integralmente divulgada e foto divulgada com supressão — há, para os comentadores desta foto, na origem, o arquivo de um gesto racializado de exclusão. Eis o que do arquivo se conduz ao que há de mal na história da psicanálise. O corte fotográfico é significante que, em sua materialidade imagética, ocasiona uma maneira de remeter a uma história da psicanálise, dando passagem de um processo de transmissão a um processo velado de exclusão da diversidade atuante no ato mesmo de transmitir. Esta remeteria a um arquivo que traz em si o apagamento, ou uma lacuna que revela a impossibilidade de escrever em outro nível a mesma história do acontecimento da psicanálise em sua linha discursiva de propagação.
Compreende-se assim em que medida o discurso que intervém nos modos de interpretar a foto em que Faladé está parcialmente apagada é da ordem de uma politização necessária para lembrar o que faz furo na memória. Recorre, neste ponto, a uma discursividade que diz respeito à maneira como se escreve a história da psicanálise. Nos termos de Foucault (2016), há que se recortar, na narrativa, níveis de acontecimentos. Daí advém uma diversidade complexa de problemas, levando a diferentes maneiras de escrever a história. Nisto consiste o método complexo da descontinuidade que busco nuançar na análise que desenvolvo.
Ao contrário, porém, da foto com o chapéu de Clementis, cuja versão original foi completamente banida de qualquer espaço de circulação, a foto em que Solange Faladé está integralmente figurada ainda circula. Este parece ser o lugar do conflito de interpretação. O que se passa no modo de expor ao mesmo tempo uma e outra versão? Será que o que determina sentido pode funcionar na mesma relação de discurso, seja de implicação, de exclusão ou de contradição?
A seguir Michel Foucault (2016, p. 76), o caminho não é o de propor uma análise dos enunciados que polemicamente giram em torno desse corte, trabalhando na exterioridade dele. Imprescindível pressupor uma contradição, uma dúvida, uma motivação para que uma presença negra, incontestável na sua função enunciativa, tenha sido cortada de uma fotografia. Nesta direção analítica, é difícil apostar em explicações que poderiam se localizar nas condições sociais verificáveis no contexto situacional - indeterminadas no tempo possível de seu surgimento do ato de corte; não se sabe nem quando, nem de onde veio a supressão. Daí que se pode evitar o expediente fácil da relação entre causa e consequência. Por esta razão, é importante, neste sentido, não partir da apressada conclusão de que o corte é consequência da perspectiva racial que seria sua causa no instante em que apareceu. Não se trata tampouco nem de negar, nem de afirmar tal suposição, sim, de averiguar o modo como os discursos produzem sentidos tanto numa quanto noutra direção.
O caso demanda o esforço de escuta dirigida à descrição dos componentes dos enunciados abordados em suas relações interdiscursivas. Penso no que se diz em certo lugar em conexão com o já dito em outro. Os enunciados expostos ao longo das reações à foto estão coligados a esse gesto que resulta na supressão descrita nesta mesma foto. Trata-se de, independente de algum sentido literal cunhado em discurso, relacionar então o acontecimento desse corte enquanto ato enunciativo relacionado a grupos inteiros de enunciados registrados na maneira com que se escreve a história da psicanálise. A dúvida gera então um concluso que não é de afirmação, mas de contradição. Tanto na advertência denunciante, quanto na resposta solidária e defensiva do que se disse sobre a foto e seu corte, há enunciados que fazem surgir relações recíprocas e constitutivas de implicação, de oposição e de exclusão. Enfim, são enunciados que podem, desta maneira, ligar-se a um puro gesto de enunciação, existindo como efeito da remissão de um significante a outro, tendo lugar em atos sucessivos de dizeres ou de discurso.
Em sua entrevista sobre as maneiras de escrever a história, Michel Foucault faz a seguinte declaração.
Disseram-me, por exemplo, que eu havia admitido ou inventado um corte absoluto entre o fim do século XVIII e o início do XIX. De fato, quando se observam os discursos científicos do final do século XVIII, constata-se uma mudança muito rápida e, na verdade, bastante enigmática, ao olhar mais atento. Eu quis descrever justamente essa mudança, ou seja, estabelecer o conjunto de transformações necessárias e suficientes para passar da forma inicial do discurso científico do século XVIII à sua forma final, o do século XIX. (Foucault, op. cit., p. 68)
Sem maiores pretensões, uso aqui essa declaração para aplicá-la não diretamente a cortes entre temporalidades, mas ligar o tempo em que a fotografia é divulgada integralmente, com todos os seus elementos, e este tempo em que essa foto é divulgada com corte. Trata-se, nos termos foucaultianos, de uma mudança, operada em atos analíticos intermitentes. O espanto, entre abrupto e enigmático, desta mudança reside mais na pergunta do que na resposta que leva à suposta causa da modificação. A partir de que momento, Solange Faladé é cortada desta mesma foto? Aí se tem o sintoma de uma mudança. Uma mudança não de figuração puramente imagética, mas uma mudança de gesto, uma mudança de modo de enunciar a foto inteira e a foto cortada. São dois modos diferentes de enunciar e, na mesma medida, insuficiente para pensar qual a forma inicial do discurso que propiciou a divulgação da fotografia inteira e a forma do discurso que propicia hoje a divulgação da foto elidida em um de seus elementos, tal como ela aparece. No quadro em que não aparece a figura de Solange Faladé, surgem novos elementos que se inscrevem em regiões diversas da escrita da história da psicanálise. Tudo isso permite definir a regra de passagem nos domínios aqui considerados. Ou seja, o domínio da história linear da psicanálise sugerida na forma de apresentar esta foto e o plano descontinuo induzido em outra forma de apresentar esta mesma foto. Trata-se de elucidar a própria forma da passagem não só de um tempo ao outro, mas também de um modo outro de denunciar mediante o emprego de uma imagem fotográfica.
Quando Paulo Bueno diz: “Lacan nomeou Faladé, Miller e Melman como aqueles que deveriam dar continuidade ao seu ensino e à sua Escola”, e, na mesma linhagem discursiva, quando a Escola o corpo freudiano responde: “... de fato, a imagem com a Solange Faladé, essa figura importantíssima da psicanálise, fica muito mais rica...”, ambos levam a descrever em seus enunciados uma petição de princípio voltada ao ensino e sustentação discursiva da transmissão legada por Lacan. Em meio à discussão sobre o que significa a supressão de uma pessoa numa foto, que vale como documento histórico e institucional, arrisco a hipótese justamente de que o discurso, tomado como ordem que rege o dizer, produz, à sua maneira, a história da psicanálise que se pode contar através dessa foto. O que se observa é a escrita da história movida por diferentes atos de enunciação, discursivamente marcados pela descontinuidade. Porque tanto uma como outra fala trata da história da transmissão do discurso psicanalítico, pondo em questão o não falado nesta modalidade de escrita da história. Sob este aspecto, a fala reativa do psicanalista Paulo Bueno questionando a escolha da foto cortada e a réplica do Corpo freudiano expõem-se publicamente a uma escuta referida ao tempo dessa cadeia enunciativa posta em cena.
Por outro lado, o mesmo segmento enunciativo se recorta em um fraseado cujo estatuto discursivo é o de alertar para uma história outra da psicanálise. Ao se referir a Solange Faladé, ausente na foto, Paulo Bueno a coloca na história como a que “foi paulatinamente escanteada na história da psicanálise, apesar de sua profícua produção”. Prossegue ainda, comparando-a com outros “dois primeiros, cuja obra formou e forma psicanalistas ao redor do mundo”. Ressalto, neste recorte enunciativo, o reportar-se para outra maneira de dizer historicamente a psicanálise, ou seja, assinalando a presença suprimida daquela que transmite o discurso da psicanálise tal qual legou Lacan. Trata-se de enunciar, pelo avesso de sua aparição a presença inusitada e singular de quem se faz presente numa outra posição que não é exatamente a da psicanálise tornada de modo hegemônico, mas a da psicanálise a ser escrita numa outra posição de enunciação: a do africanismo, a do discurso negro.
Não pretendo, contudo, propor uma outra história, mais ou menos legitima do que a que aparece aqui. Meu pressuposto é de que as falas em foco descrevem, através de relações e remissões argumentativas, uma maneira de escrever a história da psicanálise. Apresenta-se aqui a oportunidade de observar como um nome próprio pode se converter em presença anônima. Refiro-me à pressuposta referência à presentificação emudecida de uma figura, fazendo deste fato a possibilidade de escrever a história da psicanálise lacaniana. Por um lado, constata-se uma presença singular no modo de transmissão desta psicanálise. Por outro lado, o fato de esta transmissão vir por intermédio da presença de uma forma de negritude, da presença de uma mulher negra. Então, a maneira diferencial de transmitir a psicanálise tem essas duas vias. Por um lado, a escrita que enfatiza, de singulariza o discurso psicanalista. E, de outro lado, dá lugar, no meio psicanalítico — ainda que a contradito —, a presença negra.
Fiquemos por aqui
Meu interesse é falar de uma história — mais especificamente de uma região da história da psicanálise — sobretudo na versão lacaniana. Não se trata de uma narrativa que se desenvolve de maneira linear, com causas e consequências lógicas. Como diria Michel Foucault (op. cit.), não é assim que se escreve a história. A história pode ser escrita de outra maneira. O problema a que me detive diz respeito ao fato do nome de Solange Faladé, na modalidade enunciativa em que aparece como polêmica, ter breve duração em torno do corte de sua presença numa foto ao lado de Jacques Lacan e Catherine Millot. Esse episódio, de caráter exclusivamente discursivo, portanto, ocorre ao nível das formas de contar a história da psicanálise. Isto tem a ver justamente com outra relação - às margens exteriores da discursividade — outras relações de enunciados que chamam a atenção para a presença rara do negro, enquanto sujeito de enunciação, no meio psicanalítico.
É de se observar que não se trata tanto do nome Solange Faladé, mas da maneira com que este nome produz sentido na história da psicanálise. Solange Faladé é o nome de um discurso que ora tende a enfatizar a importância do seu trabalho, ora a se acrescentar na transmissão do discurso psicanalítico lacaniano. Por outro lado, é um nome que se liga à presença singular de uma negra na história da psicanálise, digo sobretudo em contexto francês. A pensar com Jacques Rancière (2014, p.2-3), o elemento fundamental que nutre uma narrativa da história consiste na sempre e mesma estrutura de enunciação escrita, ou seja, para contar uma história é preciso ligar uma série de acontecimentos a tal ou tal sujeito. Daí advém o nome referido, na narração, em primeira ou terceira pessoa. Em vez de um certo sujeito, podemos escolher outros a serem nomeados na esteira de uma ordem discursiva que conspira, aprioristicamente, para o que se quer escrever como história.
Glosando Rancière, digo que, no caso da história da psicanálise, a narrativa se depara com o vazio diante do qual os rigores são inúteis escapar à ausência de garantia de um único lugar, seguro e evidente de discurso: “é preciso nomear sujeitos, é preciso atribuir-lhes estados, afeições, acontecimentos” (Rancière, 2014, p. 3). Aí se encontra o embate entre os que defendem o diferencial do lugar de fala na escrita da história em cujo interior se institui a psicanálise. É desta perspectiva que abordo o caso de Solange Faladé. A impressão de polêmica na conversa entre Escola de psicanálise, o corpo freudiano e o psicanalista Paulo Bueno só guarda em si a prevenção de que os vestígios da presença ligada a um nome na história não se sustentam por um ajuste de interpretação. Posições cristalizadas de discurso explicitam a indeterminação do que seria imaginariamente verificável. Não obstante, indicam a diferença constitutiva da história que se pretende narrar, diferença não de conteúdo, sim, de ato de enunciação no qual se sustenta a remissão a certo sujeito apensado ao seu nome na história.
Este seria então o ponto que se pode observar no impacto que tem lugar de emergência na manifestação desse psicanalista. Não é dizer que há mais verdade aqui do que ali, é antes dizer que o modo de constituição da verdade ligada ao nome de Solange Faladé, ele tanto pode estar ligado, como disse antes, a importante presença de Faladé na transmissão da psicanálise, quanto a um vestígio do que foi singularmente a presença de uma mulher negra na transmissão e sustentação discursiva da psicanálise lacaniana.
Esta aventura analítica, que apanha como objeto a fala de quem põe em questão a escolha de uma foto, não visa, reitero, a apontar o que deve ser tido como a verdade situada na raiz dos eventos enunciativos aqui reportados. O que minha análise buscou desvelar é uma maneira de contar a história de um movimento em tudo o que ele tem de descontínuo. Em síntese, há um elemento a ser analiticamente posto em destaque a partir do lugar do corte apontado nesta foto. Este elemento implica uma mudança, uma transição: a mudança que se opera no modo de enunciar mediante apropriação: ou da foto inteira, ou da foto com corte. O que importa é que, tomada num determinado quadro, a questão do corte remete ao significante superposto à transmissão da psicanálise. O que, em discurso, se descreve como substrato da história da psicanálise designa o ter lugar da transmissão: a presença negra com o que nela se acrescenta de constituição singular.
Para além do que momentaneamente se põe sob suspeita — racismo como motivação da supressão —, haveria outra maneira de trazer para a história da psicanálise, notadamente, na vertente lacaniana, a diversidade de seus atores no centro de suas linhas diferenciais de atuação? Pode-se se incluir aqui a diversidade que encena a fala de atores de outras culturas: a indígena, a judaica, a indiana etc. Mas foi preciso que a figura de uma eminente psicanalista francesa de origem africana fosse suprimida na foto com Lacan e Millot para que, sob difíceis condições de escuta e argumentação, o tema da presença negra na psicanálise ganhasse espaço por um desses breves momentos intermidiáticos fadados a serem esquecidos logo em seguida. Quem ainda nunca tinha ouvido, soube que existiu na história da psicanálise uma mulher negra, na mesma linhagem ancestral de Isildinha Baptista Nogueira e Neusa Santos, entre outras. Faladé pôs sua voz na propagação do que criou Freud e avançou Lacan. O protesto do psicanalista Paulo Bueno nos faz ver como é no silêncio com que esta voz se junta ao murmúrio anônimo da diferença, esta que se impõe sendo não desigual. Por isso, neste ponto, quero concluir pela presença do negro na psicanálise transformada em testemunho singular de transmissão — o que só Faladé, numa voz vinda de outro lugar sendo negra, poderia entregar.
Referências:
DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Tradução de Claudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
FOUCAULT, Michel. Entretiens radiophoniques 1961-1983. Paris: Flammarion/Vrin/INA, Édition de Henri-Paul Truchaud, 2024.
LACAN, Jacques. O seminário, livro 20, mais ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982.
RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história: ensaio de poética do saber. Tradução Mariana Echalar. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2014.
VILTARD, Mayette. Solange Faladé et la diversité du monde. Disponível em: https://ecole-lacanienne.net/event/solange-falade-diversite-monde/. 2018.
INDURSKY, Freda; FERREIRA, Maria Cristina Leandro (organizadoras). Os múltiplos territórios da Análise do Discurso. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 1999.
Data de Recebimento: 15/03/2025
Data de Aprovação: 25/04/2025
1 Cf. https://www.instagram.com/p/DF2e6YBRX5D/. Acesso em 21/02/2025
2 https://ecole-lacanienne.net/event/solange-falade-diversite-monde/
3 En feuilletant L’histoire de la psychanalyse en france, de Mme Roudinesco, je tombe sur cet énoncé qui me laisse une curieuse perplexité. Elle évoque « les disciples préférés » de Lacan : « Un Juif, un Arabe, une Africaine. Ce choix illustre bien l’universalisme lacanien ». (tome 2, Seuil, p. 425-26). Le juif, c’est Serge Leclaire, que Lacan « continue à aimer passionnément », l’arabe, Mustapha Safouan, que Lacan « considère comme un superbe clinicien », et l’africaine, Solange FALADÉ, « qui est sa confidente ». Ces trois personnes illustreraient l’universalisme de Lacan ? (IN https://ecole-lacanienne.net/event/solange-falade-diversite-monde/)
4 https://ecole-lacanienne.net/event/solange-falade-diversite-monde/
5 Os múltiplos territórios da Análise do Discurso / Freda Indursky e Maria Cristina Leandro Ferreira, organizadoras. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto. 1999.
6 Anotações da preleção de Davi Pessoa, docente de literatura italiana na UERJ, no quadro do seminário ler o arquivo nos arquivos, coordenado por Davi Pessoa Carneiro Barbosa, Phellipe Marcel da Silva Estevese Pedro de Souza, na Universidade Federal Fluminense e Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no período de março a junho de 2024
7 Conferência “O conceito de arquivo, uma impressão freudiana”, no seminário, Memória à Questão dos Arquivos, que foi organizado por René Major e Elisabeth Rudinesco no Colégio Internacional, 1994.
8 Cf. Klinger, D. “Paixão do arquivo”. In: Matraga – vol. 21, n. 63 (2024). Rio de Janeiro: UERJ, Instituto de Letras. Disponível em: http://www.pgletras.uerj.br/matraga/matraga21/PAIXAO%20DO%20ARQUIVO.html
9 Cf. Lacan, "Do olhar como objeto a " minúsculo In Seminário livro 11, p. 77