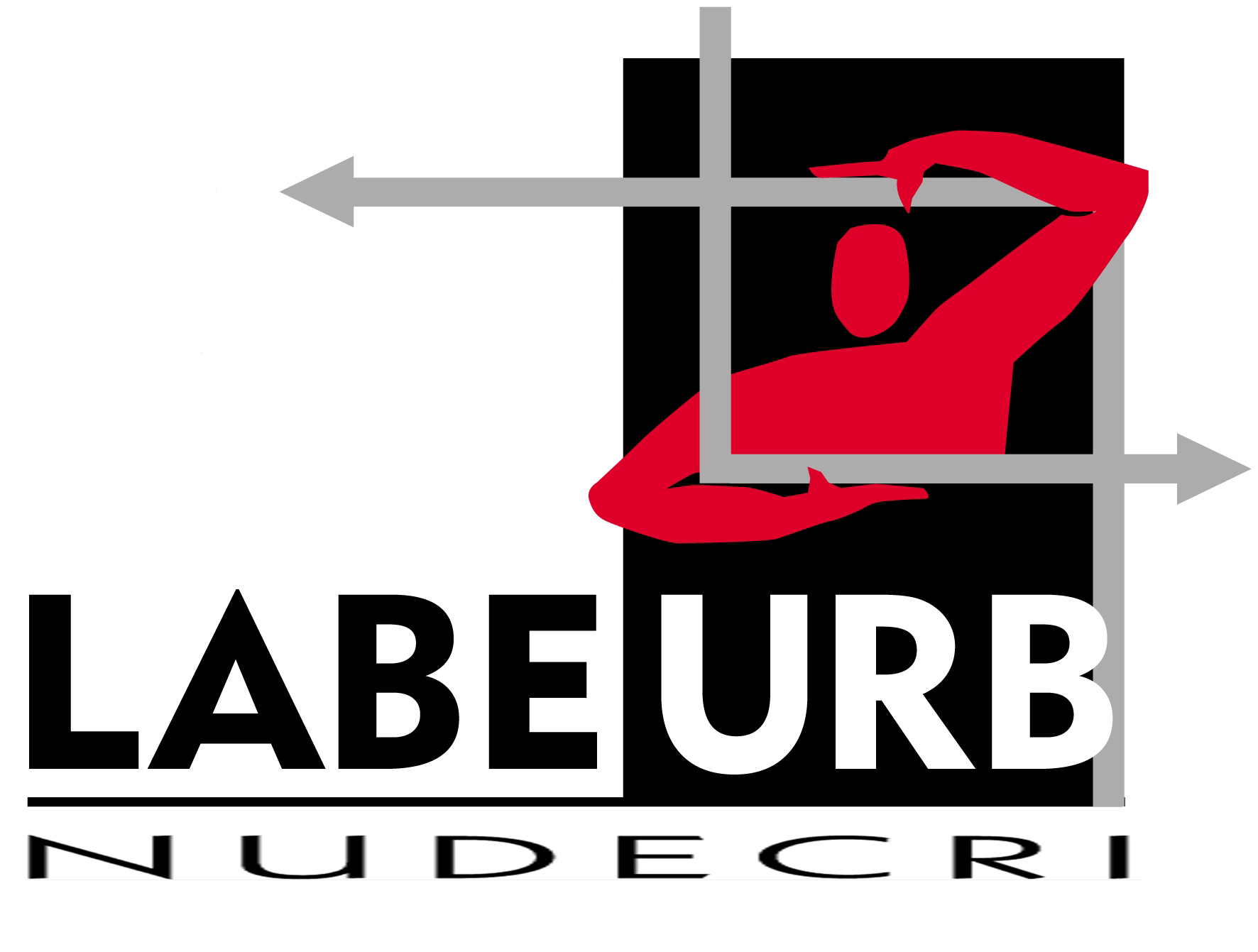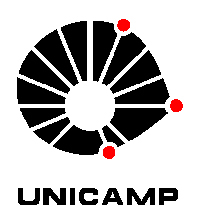Heterogeneidades enunciativas e intertextualidade: uma análise das crônicas jornalísticas da covid-19


Adriano Charles da Silva Cruz
Glynner Freire Brandão Costa
Introdução
A rua é a crônica que abre o livro A alma encantadora das ruas, de 1908, do jornalista João do Rio, tido como o “antecessor de todos os cronistas” (Sá, 2005, p. 13). No texto, o escritor anota que a via pública é o “aplauso dos medíocres”, a “eterna imagem da ingenuidade”, “um fator de vida das cidades”. Iniciamos a escrita evocando A rua, dada a importância caminhos urbanos para o ofício cronístico. Fazendo às vezes de flâneur, assumindo o papel de passante, o prosador do cotidiano retrata, textualmente, o que observa em suas andanças, utilizando-se da crônica como ferramental discursivo para melhor reportar as acontecências das cidades.
A crônica jornalística é um texto curto e direto, cujo produto é uma narrativa ancorada nos acontecimentos do dia a dia, catalisadores de comentários triviais, filosóficos, divertidos e existenciais feitos pelo cronista. Se o “aspecto noticioso” vem na introdução do relato, o chroniqueur, ao longo do desenvolvimento, ganha em “liberdade criadora”, utilizando-se de recursos como “a citação, a alusão histórica ou literária, a máxima, o provérbio, a metáfora, a alegoria, o paradoxo, o humour e o trocadilho” (Beltrão, 1980, p. 70), no esforço de construção da mensagem do texto.
Além de focalizar situações flagrantes do cotidiano, a crônica jornalística tem, em larga medida, caráter impressionista, dado que o narrador privilegia, em relatos dessa natureza, sua interpretação do mundo, assumindo uma “posição observadora ou reflexiva” (Ferrari & Sodré, 1982, p. 86). Bahia (2010, p. 106), de forma complementar, enfatiza que a crônica é um “gênero de prosa apreciado por explorar o coloquial e envolver, na linguagem leve e rica do cronista, a observação dos costumes, a peculiaridade das pessoas, a graça pícara das coisas e o humor original”.
Ao contrário da notícia e da reportagem, que primam pela impessoalidade, o foco narrativo da crônica é a primeira pessoa do discurso (singular ou plural), de vez que o “eu” do cronista é apresentado ao leitor de forma explícita. É a liberdade do gênero que leva Lowenstein (1965, p. 42) a afirmar, na “Crônica do dia das mães”, que, se o noticiário representa o “pão de cada dia” do jornalista, a crônica é a sua “sobremesa”, posto que “dá-lhe a oportunidade de ser subjetivo, emotivo, terno e, sobretudo, criador”, permitindo-lhe “trabalhar com o coração”.
Durante a quarentena da pandemia da covid-19, a crônica jornalística repercutiu o zeitgeist do período – um contexto de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) –, abordando as acontecências individuais e coletivas da urbe, local e globalmente. No Brasil, são exemplares as crônicas “Ninguém podia ter saudades”, de Dimitri Túlio; “A quinta revolução industrial”, de Antonio Prata; “Contei mais de 100 mil mortos com Augusto dos Anjos”, de Xico Sá; e “O que há entre elas”, de Pedro Bial. Na França, serve-nos de exemplo a obra “O mar é logo ali – crônicas pandêmicas”, que reúne textos escritos em Paris e assinados pela jornalista brasileira Ana Clara Garmendia. De Portugal, é digno de nota o livro “Janela Indiscreta: Crônicas da Emergência”, da professora e ensaísta Isabel Cristina Mateus, que agrupa cerca de 50 textos publicados entre março e maio de 2020.
Ao tempo em que escrevemos este texto, a covid-19 está controlada no mundo. Em nível global, a OMS declarou o fim da ESPII em maio de 2023. Investigar esses textos cientificamente agora, já superada a emergência global em saúde, implica lançar luz sobre os discursos que constam da materialidade textual, ao mesmo tempo que permite mapear o que foi pauta entre os cronistas, as angulações e as estratégias textuais escolhidas pelo sujeito-cronista. Dito de outro modo, analisar os relatos cronísticos do período implica melhor compreender a representação da realidade e a complexidade de sentidos naquela que é considerada a pior crise desde a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).
O “corpus tópico” (Aarts; Bauer, 2002, p. 54) do artigo consta de duas crônicas jornalísticas sobre a pandemia da covid-19, ambas do projeto Diário de um confinamento, do Jornal Folha de S. Paulo (FSP). O veículo foi escolhido em virtude de sua abrangência nacional, de sua natureza – visto que pratica o jornalismo profissional – e da notoriedade da Folha para a comunicação, sendo o periódico impresso do país mais premiado1 da história, segundo o último ranking do site Jornalistas & Cia, divulgado em janeiro de 2025.
Para análise, foram selecionados os textos “Nada como a quarentena compulsória para lubrificar a criatividade”2, de 22 de março de 2020, e “Agora todos os domingos são como segundas, e as segundas como domingos”3, de 29 de março, ambos da jornalista Susana Bragatto. As crônicas foram publicadas na edição impressa da FSP, em dois domingos seguidos, na editoria de Mundo, nas páginas 23 e 16, respectivamente, nas extremidades (“tripas”, no jargão jornalístico) da mancha tipográfica.
Aplicamos como critério objetivo de escolha a regularidade do projeto, com conteúdo veiculado diariamente, entre 16 de março e 21 de junho de 2020, na versão on-line do jornal. A partir de 22 de março, os textos do Diário de um confinamento também passaram a ser publicados na versão impressa dos domingos, aumentando a visibilidade do projeto, haja vista a tiragem diária de 50 mil unidades do jornal.
Outrossim, escolhemos a crônica como gênero de análise, tendo em vista que os relatos dessa natureza servem de “antena para o povo” (Sá, 2005, p. 9), auxiliando o sujeito a pensar o seu tempo e a vida em comunidade. Registre-se, também, que optamos por investigar duas crônicas escritas por uma comunicadora mulher, dada a evidência empírica de o gênero ser, em boa dose, praticado por homens (Antônio Prata, Tostão, Ricardo Pereira etc) no maior jornal do país.
As crônicas analisadas estão circunscritas ao seu contexto (foco da função referencial da linguagem), qual seja, a pandemia da covid-19, precisamente a segunda quinzena de março de 2020, período inicial da crise sanitária e de incerteza em relação à vacinação no mundo. Destacamos a relação entre texto e contexto, pois o discurso é condicionado pelo contexto, ao mesmo tempo que tem ingerência sobre a conjuntura econômico-social. Damos atenção especial ao contexto sócio-histórico e às condições de produção e circulação do discurso. Dessa maneira, analisamos não só o ambiente linguístico (verbal), mas também o não linguístico (contextos social e situacional), tendo como norte os níveis contextuais abrangente – ocasião em que focalizamos o mundo social – e estrito, voltando a nossa atenção para o quadro espaçotemporal, o locus da troca comunicativa e os atores sociais mencionados nos relatos.
Os textos são escrutinados por meio das teorias dialógicas e enunciativas, ponto de partida para se mapear os sentidos dos fenômenos e compreender os significados da prosa do cotidiano. A angulação de discurso que orienta nossas análises é a proposta por Maingueneau (2004, p. 52), que elenca oito características: o discurso tem múltiplas formas e estruturas (frases, provérbios, interdições); é orientado pelo locutor e pela linearidade do tempo; é interativo; deve ser tomado como uma forma de ação e não apenas de representação do mundo; é obrigatoriamente contextualizado; remete a um sujeito (eu); é regido por normas; e adquire sentido na relação estabelecida com outros discursos (interdiscursividade).
Eis os elementos analíticos que delimitam o nosso marco de observação: contexto, interdiscursividade, intertextualidade, heterogeneidade enunciativa, texto e sujeito. Conste-se, ainda, que optamos pelo procedimento metodológico teórico-descritivo e indutivo, de vez que, de início, operou-se a escolha das crônicas para – ato contínuo – proceder-se ao exame teórico.
Partimos da premissa de que “o sentido de um texto não está, pois, jamais pronto, uma vez que ele se produz nas situações dialógicas ilimitadas que constituem suas leituras possíveis: pensa-se evidentemente na ‘leitura plural’” (Revuz, 2004, p. 25). Esse é o enquadramento que subjaz às interpretações de nosso artigo. No que tange ao conceito de enunciação, selecionamosa definição de Authier-Revuz, tomando-a como um campo heterogêneo que vincula o sujeito à língua e ao sentido.
À margem do intercâmbio de palavras e da comunicação diática (face a face), o diálogo compreende “toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” (Bakhtin, 2006, p. 117). O dialogismo é um elemento central das formulações teóricas de Mikhail Bakhtin, uma vez que as falas dos sujeitos são atravessadas pelo discurso do outro (Flores & Teixeira, 2012). Como o indivíduo se constitui de forma intersubjetiva, o “eu para si” deve ser tomado a partir do “eu para o outro”, não havendo um “adão mítico” (Bakhtin, 2002), um sujeito alheio aos discursos de outrem e dono absoluto de seu dizer. Em outras palavras, todo objeto discursivo é dialógico, pois, conforme o autor, a presença de duas vozes é condição mínima à existência humana. É por isso que no dito coexiste o já-dito, ou seja, os dizeres anteriores de outros enunciadores. Alusões, menções, citações e os discursos direto, indireto e indireto livre são exemplares da dialogia postulada pelo pensador russo.
O princípio dialógico é um dos três pilares da teoria da heterogeneidade enunciativa (hétérogénéité énonciative)4, proposta por Authier-Revuz (1984). Como forma da presença do outro/Outro no discurso do um, a autora elenca as heterogeneidades constitutiva e mostrada (marcada e não marcada), formas de materialização da heterogeneidade enunciativa no dizer. Por que constitutiva e mostrada? O sujeito e seu discurso constituem-se a partir do outro/Outro, mediante expedientes discursivos, ao mesmo tempo que pontos de heterogeneidade do discurso são apresentados, isto é, mostrados no dizer. Se a heterogeneidade constitutiva se situa à margem da lógica linear do discurso – que é “dominado pelo interdiscurso” (Charaudeau & Maingueneau, 2020, p. 262) –, devendo ser tomada como princípio fundador da linguagem, a tipologia mostrada, de modo complementar, implica formas linguísticas constantes da superfície textual, explícita ou implicitamente, perfazendo as correlações do sujeito com a alteridade, o outro.
Como exemplares da heterogeneidade mostrada e marcada (explícita), Authier-Revuz (2004) enumera a glosa metaenunciativa, os discursos direto e indireto, as aspas, o itálico, a modalização autonímica, as línguas estrangeiras, o acróstico, o trocadilho e o palíndromo. Já no que tange à heterogeneidade mostrada e não marcada (implícita), a ironia, o discurso indireto livre, a alusão, os falares regionais, a imitação, a metáfora, as reminiscências, o jogo de palavras, o pastiche e os estereótipos podem ser destacados a título de clarificação. Marcados ou não marcados, o que se têm são pontos de heterogeneidade dos enunciados. Dessa maneira, Authier-Revuz (1990, p. 26) propõe uma descrição da “heterogeneidade mostrada como formas linguísticas de representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva de seu discurso”.
Authier-Revuz (1990, p. 26) também ancora a sua teoria na interdiscursividade – que se vincula à supracitada heterogeneidade constitutiva –, tomando o “discurso como produto de interdiscursos”. Sabe-se que o prefixo “inter-” indica reciprocidade, “posição intermediária” (Rosenthal, 2013, p. 51). No termo “interdiscursividade”, o que se tem, por óbvio, é a relação entre discursos. É em razão dos atravessamentos discursivos que, no quadro da enunciação, o sujeito é “mais falado do que fala” (Revuz, 1990, p. 28), uma vez que suas formulações textuais, mentais e orais repercutem os dizeres alheios e anteriores, pari passu influenciarem elaborações discursivas futuras.
É mister destacar que interdiscursividade (mais abstrata) e intertextualidade (mais concreta) são acepções distintas, embora relacionadas. Como conceito, a intertextualidade é citada, pela primeira vez, no artigo Le mot, le dialogue et le roman (A palavra, o diálogo e o romance, em tradução livre), de 1967, da pesquisadora franco-búlgara Julia Kristeva, que chama de “texto” aquilo que Bakhtin denomina “enunciado”. Para Kristeva (2005, p. 68), “todo texto se constrói como mosaico de citações. Todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade”. Toda intertextualidade implica interdiscursividade, mas a recíproca não é verdadeira, visto que “devem-se chamar de intertextualidade apenas as relações dialógicas materializadas em textos” (Fiorin, 2006, p. 51). A intertextualidade, um dos fatores de textualidade, consiste no uso de um texto (verbal ou não verbal) na elaboração de outro, com foco na construção de sentido. É, assim, ponto de contato entre textos.
Bentes, Cavalcante & Koch (2008) classificam a intertextualidade em quatro macrogrupos: temática, quando o mesmo tema é o fio condutor dos textos, sejam eles científicos (na mesma área de pensamento), jornalísticos (mesma pauta) ou literários (gêneros e escolas); estilística, ocasião em que um texto repercute o estilo de um autor, gênero, jargão profissional, dialeto ou segmento da sociedade; explícita, quando um texto faz menção, de forma expressa, à fonte (autor ou obra) de outro texto; sendo o “caso das citações, referências, menções, resumos, resenhas e traduções” (Koch et al., 2008, p. 28), além dos argumentos de autoridade; e, por fim, implícita, quando um intertexto é inserido noutro “sem qualquer menção explícita da fonte” (Koch et al., 2008, p. 30). Paráfrases, paródias, trechos do cancioneiro popular enraizados na memória discursivo-social, bordões, “provérbios, frases feitas, ditos populares” (Koch et al., 2008, p. 30) são exemplos da variante implícita.
Courtine (1981, p. 54) defende que o interdiscurso “é uma articulação contraditória de formações discursivas que se referem a formações ideológicas antagônicas”. Implicitamente, essa formulação teórica repercute o dialogismo bakhtiniano. Basta lembrar que, na obra de Bakhtin, as relações dialógicas são percebidas como ponto de tensão entre as vozes sociais (Flores & Teixeira, 2012). A ideologia atravessa todos os dizeres, à força da interdiscursividade, da intertextualidade e da memória discursiva. Na origem, é sob o efeito da ideologia que as palavras mudam de sentido, a depender dos valores de determinado grupo social e do contexto.
Dessa maneira, os conceitos de formação discursiva e formação ideológica apresentam- se coligados às noções de discurso e de dialogismo. Enquanto a formação ideológica, caudatária de uma ou várias formações discursivas, determina “o que pode e deve ser dito (...), a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada” (Haroche, Henry & Pêcheux, 1971, p. 102), a formação discursiva designa todo grupo de enunciados – circunscrito social e historicamente – que pode vincular-se a uma identidade enunciativa (Charaudeau & Maingueneau, 2020), a exemplo dos discursos comunista, científico, patronal, jornalístico, publicitário, administrativo, político e religioso. Veja-se que, assim, o sujeito se apresenta assujeitado, uma vez influenciado por ideologias e discursos, ora símiles, ora divergentes das suas idiossincrasias.
ANÁLISE DAS CRÔNICAS
As crônicas e o contexto
As crônicas “Nada como a quarentena compulsória para lubrificar a criatividade” e “Agora todos os domingos são como segundas, e as segundas como domingos”, veiculadas na Folha de S. Paulo, no terceiro decêndio de março de 2020, são dois dos 100 textos do projeto Diário de um confinamento, em que a repórter Susana Bragatto alterna relatos pessoais com informações gerais sobre a covid-19. Elas foram escritas em Barcelona, já sob a vigência do estado de emergência na Espanha, cujo decreto é de 14 de março, entrando em vigor dois dias depois. São relatos escritos “a quente”, acompanhando o imediatismo dos fatos. Ao nível global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarara o surto do SARS-CoV-2 uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) no penúltimo dia de janeiro de 2020.
Enquanto a primeira crônica examinada no artigo foi publicada no sétimo dia do projeto, a segunda foi veiculada no 14º, a contar do lançamento do “Diário” no sítio eletrônico da FSP. Ambos são textos curtos, com cerca de 30 linhas, em conformidade com o gênero da crônica jornalística. Em 22 de março, quando “Nada como a quarentena compulsória para lubrificar a criatividade” foi publicizada no Brasil, a Espanha já vivia o sétimo dia do estado de alarma. É por isso que, no relato, a autora fala em “confinamento compulsório” e em “cativeiro”, em razão da quarentena imposta pelo poder público aos espanhóis, como forma de controlar o avanço do vírus pelo país.
Em virtude do estado de emergência, anunciado pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, espanhóis e estrangeiros resistentes na Espanha estavam autorizados a sair de casa apenas para comprar comida e remédios, ir ao médico e ao trabalho. Restaurantes, bares e lojas foram fechados, à exceção das farmácias e supermercados. A entrada de não nacionais foi restrita; as aulas, suspensas. Direta ou indiretamente, as medidas atingiram toda a população do país, segundo comunicado da Organização das Nações Unidas (ONU) à época.
Na segunda crônica, veiculada uma semana depois, Bragatto focaliza, no que se refere ao quadro contextual, dois aspectos inter-relacionados: a economia e o enclausuramento domiciliar. É o que se pode depreender de passagens como “preocupada com o futuro próximo de minhas contas”, haja vista o impacto da pandemia nas atividades laborais da cronista; a “cerveja aumentou 78%”; o “papel higiênico caiu 10%”; e “1/3 da população mundial em confinamento em casa”, grupo ao qual a cronista se inclui.
No que tange ao comércio e à feira doméstica, constam passagens como “carrinhos abarrotados”; “fila que dobrava o quarteirão”, efeito do distanciamento interpessoal de 1,5m; e “muralhas de plásticos”, referência aos biombos usados para separar clientes de atendentes. Outro exemplo é “tentar encontrar alguns itens que pela tarde já foram varridos da face da Tierra”, resultado do desequilíbrio entre produção, distribuição e venda de bens de consumo não duráveis. Sobre os níveis de empregos, Bragatto menciona a emissão de “1,5 milhão de Ertes, os já famosos/famigerados Expedientes de Regulação Temporária de Emprego”, classificando-os como um “nome bonito para demissão temporária em casa, renovável a cada mês, com o emprego garantido de volta por até seis meses”. Os excertos revelam o impacto da pandemia na economia espanhola e, em específico, na cadeia produtiva e no modus vivendi da população urbana.
Em 20 de março, a Espanha tinha 800 pacientes em estado grave, ou 18% da Europa, segundo dados divulgados pela imprensa à época. Seis dias depois, já registrava 655 mortes em 24 horas, tornando-se o quarto país mais afetado pela pandemia no mundo, atrás de China, Itália e Estados Unidos. Inicialmente, o estado de alarma duraria 15 dias. Acabou se estendendo por 100 dias ao todo, ante as dificuldades do Governo da Espanha de controlar a disseminação do SARS-CoV-2. O fim do estado de emergência foi abordado por Susana Bragatto em crônica de 21 de junho, a última do projeto, o que coincidiu com o relaxamento das medidas de restrição no país. O título do texto é “Terminar para recomeçar”.
Heterogeneidades, intertextualidades e resistência discursivo-musical
Em nossas análises, mapeamos nove pontos de heterogeneidade enunciativa nas crônicas investigadas: estrangeirismo, aspas, glosa metaenunciativa, metáfora, alusão, discurso direto, discurso indireto, fala regional e reminiscência. Em relação à intertextualidade, localizamos, na superfície textual, exemplares das modalidades temática, explícita e implícita. Além de indicar a pluralidade discursiva, qual seja, o intercruzamento entre discursos e dizeres, a heterogeneidade enunciativa engendra, face às adversidades impostas pela crise global em saúde, um discurso de resistência, como consta, de forma manifesta, nas canções Bella Ciao, Resistiré e I never begged you to be here with me, citadas nas crônicas. É o que analisamos de agora em diante.
Comecemos pelos estrangeirismos, manifestações da intertextualidade explícita (Bentes, Cavalcante & Koch, 2008) e da heterogeneidade mostrada e marcada (Authier-Revuz, 1984, 2004). Quatro idiomas são mencionados nos textos, sem contar com o português, língua materna da cronista e materialidade que predomina no texto. Em italiano, consta a frase “Bella Ciao, Ciao, Ciao”. Em espanhol, são exemplos “tierra” e “corazón”; em francês, “haute couture”; e, em inglês, “approach”. Destaque-se que, textualmente, apenas uma dessas passagens aparece entre aspas – a frase em italiano –, em conformidade com o estabelecido pelo Manual de Redação da Folha de S. Paulo. Assim, as palavras em português e em outros três idiomas misturam-se no fio discursivo, sem diferenciações tipográficas. A nosso juízo, o emprego de cinco idiomas pode não prejudicar o entendimento dos textos, mas exige do leitor o acionamento de níveis objetivos, inferenciais e avaliativos de leitura.
A glosa metaenunciativa também está presente no corpus, como se pode perceber em “vamos horizontalizando, temporariamente, algumas relações [sociais] tipicamente, [como] eu diria, estamentais”. A cronista usa a expressão “eu diria” para comentar as relações sociais implícitas citadas anteriormente – em específico a hierarquia social pré-pandemia –, utilizando-se, para isso, do substantivo plural “estamentais”. Por vias interdiscursivas, os estamentos (nobres, clero e servos) foram formas de estratificação social do feudalismo, sistema político-econômico da Baixa Idade Média caracterizado pela fraca mobilidade social e baseado na posse da terra (o feudo). No dizer da cronista, a crise sanitária global, ante o confinamento, deu a “sensação” de que “estamos-todos-juntos-nessa”, aproximando os estratos sociais, com “todos de pijama na sala de casa fazendo lives” e gente comum ganhando “status de celebridade e vice-versa”. Repare que, pelo uso do modalizador “temporariamente”, a chroniqueur analisa que a horizontalidade seria efêmera, subordinada ao tempo da pandemia.
Endossamos a “sensação” apontada pela cronista, acrescentando que o conforto no lar remonta ao século XVIII, com a progressiva ascensão da burguesia ao poder. As salas de jantar e de estar, como conhecemos hoje, remetem ao último quartel do século XVIII, com o advento da lâmpada de Argand e a Revolução Francesa, essa última levada a cabo pela burguesia. A sala, em seu formato moderno, implica o gérmen do grupo social burguês, defensor da pauta capitalística. Também por esse motivo, a horizontalidade apontada pela cronista foi, na pandemia, ilusória e temporária.
Dito de outra forma, a cronista retoma os estamentos para criticar as assimetrias sociais e, de forma implícita, o modo de produção capitalista, sucessor imediato do modo de produção feudal. Pelo discurso, correlaciona as antigas configurações aristocráticas às sociedades urbano-industriais de hoje. Em que pese a pirâmide social ter mudado entre as idades Média e Contemporânea, a estratificação social persiste, embora sob uma nova configuração: antes, na forma de estamentos; agora, estruturada em classes. Não obstante a pandemia ter, “no imaginário coletivo”, aproximado o topo e a base da pirâmide, as “celebridades” da “gente comum” — “suspendendo conflitos”, como citado por Bragatto —, essa era uma percepção ilusória, dado que a luta de classes ainda vigora. Subsiste nessa interpretação a disputa pelo controle dos meios de produção: a terra, o capital e o trabalho. As assimetrias sociais decorrem daí. Vale lembrar, ainda, que a burguesia se origina dos servos do feudalismo que se dedicavam ao comércio e reivindicavam protagonismo político e reconhecimento social. O nosso entendimento é de que, também por isso, a cronista vincula o presente capitalista ao passado feudal.
Dados do relatório “O estado da pobreza na Espanha”, do núcleo espanhol da Rede Europeia de Luta Contra a Pobreza e a Exclusão Social (EAPN-ES), indicam que a covid-19, em 2021, lançou 319 mil pessoas da base da pirâmide social à situação de pobreza severa no país. Isso nos permite dizer que a mobilidade social ascendente ainda é um desafio, mesmo séculos após o fim do feudalismo, que predominou na Europa Ocidental, onde está localizada a Espanha.
Já no tocante às metáforas, a prosadora do cotidiano associa o isolamento domiciliar a “cativeiro” e a feira doméstica a “compras de bunker”. Nos dois casos, subsiste a noção espacial de enclausuramento no lar, com saídas autorizadas pelo poder público apenas para situações emergenciais e atividades essenciais. O cativeiro é o lugar onde o sujeito se encontra cativo, isto é, preso. A palavra provém do latim captivare, que significa dominar, escravizar. Já o termo cativo, isto é, aquele que habita o cativeiro, é um prisioneiro de guerra. O uso do termo “cativeiro” pela cronista conota, assim, o isolamento social em um contexto de guerra contra o vírus, inimigo invisível que restringiu a circulação das pessoas.
A outra passagem, “compras de bunker”, enfatiza o discurso beligerante-existencial destacado no trecho anterior, porquanto o bunker é uma fortificação de concreto construída para resistir a ataques com armamento pesado. No esforço de contenção do vírus, era preciso comprar os mantimentos e voltar ao “cativeiro” (confinamento residencial) para se proteger do vírus, o enemigo a ser vencido, como diziam os espanhóis na época.
“Cativeiro” e “bunker” são metáforas para “lar” e nos ajudam a pensar as estratégias de combate à covid-19 e o impacto da pandemia nas cotidianidades da urbe, na vida doméstica e na sobrevivência dos indivíduos. Embora as palavras pertençam a campos discursivos distintos – a espacialização da guerra (desordem) versus o conforto do lar (ordem) –, a associação entre os três vocábulos é possível porque, nas metáforas, os termos comparados, ainda que integrem círculos semânticos diversos, são justapostos pelo que têm em comum. Pela metaforização, duas palavras cotejadas conformam um terceiro sentido: a noção de “lar fortificado”, no caso analisado. Via deslizamento de sentidos, Bragatto recorre a movimentos (phora) semânticos para representar simbolicamente a realidade. O equilíbrio precário que caracteriza os campos discursivos (Charaudeau & Maingueneau, 2020), o mesmo sendo válido para as metáforas, emula, nas crônicas bragattinas, os conflitos da pandemia: guerra x normalidade, insegurança x conforto do lar, enclausuramento x liberdade, contágio x imunização.
Em relação aos tipos de discurso, há o registro de duas modalidades. O trecho “isso está indo de mal a pior”, em que a cronista reproduz a fala de um vendedor de frutas, é exemplar do discurso direto. Destacamos, porém, que, ainda que o dizer seja reportado entre aspas, a frase não reproduz a conversa dos dois em sua totalidade semântico-enunciativa, ante as falhas do lingual e a multiplicidade de sentidos própria dos enunciados. Logo, o que consta na crônica é uma representação de parte do diálogo. Vale dizer que a entonação da fala do comerciante, a título de ilustração, consta tão-só do instante da vocalização, não sendo detalhada pela jornalista no texto. Essa é uma informação que não chega ao leitor. Em resumo: há um descompasso entre a emissão da fala do vendedor, processo exterior ao texto, e aquilo que é reportado no contexto interior da crônica.
O discurso econômico que se infere de “isso está indo de mal a pior” também deve ser enfatizado. Em 2021, um levantamento do Instituto de Estatística da Espanha traduziu, em números, a sensação do mercador barcelonês de que a pandemia, já nas suas primeiras semanas, impactava na economia espanhola, com efeitos sentidos ao longo de todo o ano. O Produto Interno Bruto (PIB) do país recuou 11% em 2020, a pior queda desde a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Na Zona do Euro, a retração foi de 6,8%, segundo o Eurostat (Gabinete de Estatística da União Europeia).
Outro exemplo de discurso direto é a passagem “‘Aonde você vai?’. ‘Ver tevê, uai!’ (sorrio com meus lábios vermelhos pintados, os balangandãs das orelhas fazendo tlim tlim)”, em que a cronista reproduz um diálogo com o seu colega de apartamento. Note que “uai” é uma forma não marcada de heterogeneidade mostrada (Authier-Revuz, 1984, 2004). Interjeição brasileira muito comum entre os mineiros, a expressão indica surpresa, no trecho citado, e caracteriza a prática linguageira dos estados de Minas Gerais e Goiás, embora tenha sido verbalizada por uma cronista pernambucana. É, pois, marca da interdiscursividade (Charaudeau & Maingueneau, 2020), da presença do outro no um (Bakhtin, 2002).
Já os excertos “Encontrou de tudo, ‘inclusive papel higiênico’, disse” e “amigos de diferentes países me comentam sentir mais simpatia por gente ao seu redor” são manifestações do discurso indireto. Nesses casos, a repórter retoma enunciados de outrem, destacando, em texto, aquilo que julgou relevante para ela e para o leitor. Ainda sobre os tipos de discurso, cabe-nos registrar que não localizamos, no corpus, construções discursivas indiretas livres.
De agora em diante, passemos a examinar, de forma mais demorada, os casos de intertextualidade, cujo produto é o discurso da resistência, no nosso modo de ver. Três canções sinalizam nesse sentido: a italiana “Bella Ciao”; a espanhola “Resistiré”, do Duo Dinâmico; e “I never begged you to be here with me”, escrita pela cronista durante o isolamento social. Enquanto a primeira pode ser classificada como espécime da intertextualidade implícita, haja vista integrar o cancioneiro popular italiano, as outras duas são exemplares da modalidade explícita, dado que as fontes autorais são citadas nominalmente nos textos. Nos três casos, o que se tem é um “mosaico de textos”, como postulado pela teórica francesa Julia Kristeva (2005). Ao citar as canções, a cronista dialoga com outros textos e, ao mesmo tempo, com três línguas: espanhol, italiano e inglês.
Das crônicas, infere-se que a formação ideológico-discursiva (Courtine, 1981) da cronista está circunscrita à esquerda política. Vejamos. Cantada em 40 idiomas, a canção popular “Bella Ciao”, mais traduzida para o português como “Querida, adeus”, é um símbolo da resistência italiana contra o fascismo de Benito Mussolini e as tropas nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na avaliação de Carlo Pestelli, autor do livro Bella Ciao: La canzone Della Libertà, a canção é “contra um invasor e a favor de algo que todos gostam, a liberdade”, conforme declarado em entrevista ao El País, em abril de 2020. Recentemente, a música foi entoada na Argentina, nas manifestações contra o governo Maurício Macri (2015-2019); na França, nos protestos após o ataque terrorista ao jornal francês Charlie Hebdo, em 2015; e em Hong Kong, nos atos pró-democracia, em 2014.
Na crônica “Agora todos os domingos são como segundas, e as segundas como domingos”, Bragatto elabora o seu dizer a partir do dizer do outro (Authier-Revuz, 2004), evocando, na Espanha, a memória discursivo-musical italiana como ato de resistência contra o vírus. Indiretamente, conecta o seu dizer aos Partisans italianos da Segunda Guerra, grupo da resistência caracterizado pela heterogeneidade política (comunistas, socialistas, monarquistas, democratas- cristãos e republicanos) e que também recorreu a essa forma de arte como estratégia simbólica de resistência. Embora cite a letra apenas no começo da crônica, ao anotar que se flagrou “cantando o hino antifascista”, Bragato retoma “Bella Ciao”, de forma lateral, no último parágrafo do texto, ao escrever que os “ânimos necessitam ritos”. Dito de outro modo, o espanhol cantava – prática comum à jornalista, que, além de cronista, é cantora – para ativar o animus e enfrentar o vírus e o encastelamento domiciliar. Isso nos leva a outra música citada no texto: “Resistiré”.
Em português, “resistiré” significa “resistirei”. É o verbo resistir conjugado na primeira pessoa do futuro do presente, em espanhol e em português, respectivamente. Ao citar a canção na crônica, a escrivã do cotidiano vincula o seu “eu” ao “eu social” circunscrito à música. À cause dos “ritos”, a jornalista registra que, “provavelmente por isso, o [povo] espanhol vem resgatando, nos últimos dias [março de 2020], uma canção xhuli-pop dos anos 80, Resistiré”. Criada em 1988, a música do Duo Dinâmico tornou-se um hino no enfrentamento ao vírus na Espanha. A regravação de 2020 obteve sucesso já nas primeiras semanas do confinamento – alcançando o primeiro lugar em downloads no iTunes, um reprodutor de áudio –, sendo cantada em janelas e varandas dos apartamentos. É disso que, de forma indireta, a jornalista trata na crônica. Fazendo coro ao discurso da resistência, anota em espanhol, nas linhas finais do texto: “Resistiré, para seguir viviendo / Soportaré los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos / Resistiré, resistiré...”
Da análise das músicas “Resistiré” e “Bella Ciao”, cabe-nos notar que a cronista constrói a sua identidade enunciativa a partir dos discursos político e musical. Ao recorrer a duas línguas estrangeiras (italiano e espanhol), internacionaliza o seu discurso, lançando mão, para isso, da interdiscursividade (Charaudeau & Maingueneau, 2020), como ferramental, e do jornal Folha de S. Paulo, como materialidade. Explicando a questão em outros termos: a cronista investe-se da sua condição de classe (latu sensu) – jornalista – para conformar um discurso à gauche: de resistência contra a extrema-direita, no passado, e de antagonismo ao vírus, no tempo em que escreveu a crônica. Lança mão da sua condição de repórter – e das relações de poder a ela correlatas – para convocar diálogos e problematizar a pandemia. É a formação ideológica da cronista que justifica, como efeito, a dimensão valorativa destacada acima.
Por fim, no que tange à canção “I never begged you to be here with me”, mencionada na outra crônica, o elemento intertextual explícito é a tradução do título da letra: “eu nunca implorei para que você estivesse aqui comigo”, conforme versão apresentada pela cronista. Nossa interpretação é que o discurso de antagonismo ao vírus também aparece aqui, considerando-se os desafios afetivo-emocionais que o isolamento ensejou. O que se infere da leitura é o empoderamento feminino. Embora os sujeitos construam a sua identidade mediante relações intersubjetivas, o que não é negado pela cronista, ela faz constar o sujeito “eu” na canção, negando-se a “implorar” pela presença do outro “aqui”. No relato, Bragatto informa que a canção é a segunda música da série “Músicas para uma quarentena”, do projeto solo dela, King Lola.
É preciso atentar para o fato de que as duas crônicas estão duplamente vinculadas: pela intertextualidade temática – haja vista contemplarem o mesmo tema, ou seja, a pandemia – e pelo recurso da alusão – expressão da heterogeneidade mostrada não marcada –, elo com os acontecimentos recentes (alusão tópica) e experiências pessoais (alusão pessoal), de vez que a cronista incorpora aos seus textos questões existenciais coletivas e individuais.
Por último, impõe-se um breve comentário sobre o único argumento de autoridade que consta nos textos. Bragatto abona a recomendação científica de um médico amigo dela. A orientação: “passe o que passe, não deixe de tomar banho, alimentar-se e dormir”. Sobre a passagem, duas conclusivas. A primeira é que o argumento de autoridade é uma forma explícita de intertextualidade. No relato cronístico, Bragatto absorve, em seu texto, um discurso alheio. Em segundo lugar, e mais importante: da leitura textual, pressupomos o existencialismo, corrente da filosofia que subordina a essência – a qualidade que nos torna aquilo que somos – à existência. Tomar banho, comer e dormir são condições essenciais ao bem-estar, à boa saúde e à sobrevivência. É por isso que o profissional de saúde prescreveu essas tarefas “passe o que passe”. Ao destacar o argumento de autoridade na materialidade textual, pontuando que o médico a “instruiu” nesse sentido, a comunicadora invoca o existencialismo em busca de sua própria essência, a saber, “vestir umas roupinha (sic) massa”, elemento associado à sua identidade, à sua essência. Finalmente, ainda sobre o diálogo com o médico, anote-se que há uma reminiscência: “lembro quando passei por uma época um tanto difícil”. É exemplar da heterogeneidade mostrada não marcada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o intuito de investigar a heterogeneidade enunciativa e a intertextualidade nas crônicas jornalísticas sobre a pandemia da covid-19, focalizamos os textos “Nada como a quarentena compulsória para lubrificar a criatividade”, de 22 de março de 2020, e “Agora todos os domingos são como segundas, e as segundas como domingos”, de 29 de março. São composições breves e em prosa – em consonância com as características da narrativa cronística –, assinadas pela jornalista Susana Bragatto e publicadas na edição impressa do jornal Folha de
S. Paulo. O que se pôde constatar é que os enunciados das crônicas são heterogêneos, intertextuais e interdiscursivos, alinhados ao princípio bakhtiniano de que todo objeto discursivo é dialógico, visto que no dito coexiste o já-dito.
Da análise dos textos-canção Bella Ciao, Resistiré e I never begged you to be here with me, inferimos que a formação ideológico-discursiva de Bragatto está circunscrita à esquerda política. A cronista recorre às relações de poder engendradas por sua condição de jornalista para vocalizar um discurso à gauche: utiliza-se do discurso de combate à extrema direta, no passado, no esforço de contenção do vírus, em 2020. Sua formação discursiva também é evidenciada na materialidade textual quando a comunicadora faz referência às relações “estamentais” do feudalismo, criticando, de forma lateral, as assimetrias sociais capitalísticas da atualidade.
No que se refere à análise contextual, demonstramos que o cenário pandêmico serviu de leitmotiv para as crônicas, ancorando os relatos. Atenta ao contexto mundial, a emergência global em saúde, a jornalista Susana Bragatto recorre à prosa do cotidiano para repercutir, textualmente, as rotinas evenemenciais em Barcelona – já sob o impacto do estado de alarma –, ao mesmo tempo que menciona o impacto da pandemia na sua vida pessoal. Acreditamos que o contexto foi abordado nos textos por conta das características do gênero cronístico, que repercute os acontecimentos sociais do “cronotopo” (espaço-tempo) presente.
O exame do ambiente linguístico e dos contextos social e situacional apontou a presença de dois temas caros à cronista: os desafios do confinamento domiciliar e a situação econômica no país. São exemplares, nesse sentido, passagens como “confinamento compulsório”, “cativeiro”, “preocupada com o futuro próximo de minhas contas” e “1,5 milhão de Ertes, os já famosos/famigerados Expedientes de Regulação Temporária de Emprego”.
No que tange aos atores sociais, aparecem, nos relatos bragatianos, jornalistas, médicos, comerciantes, músicos e trabalhadores, rol exemplificativo. A nossa interpretação é que os discursos científico, econômico, jornalístico e artístico ganham destaque nas crônicas, haja vista a importância da ciência para o desenvolvimento das vacinas e no tocante às medidas de enfrentamento ao SARS-CoV-2, dado, também, o fato de que a saúde e o trabalho são direitos sociais. Já a comunicação e a cultura são condições à socialização, além de direitos humanos. Segundo avaliamos, Bragatto recorre a esses atores sociais para tratar de questões fundamentais da ordem do dia pandêmica.
Em nossa investigação, mapeamos nove pontos de heterogeneidade enunciativa: estrangeirismo, aspas, glosa metaenunciativa, metáfora, alusão, discurso direto, discurso indireto, fala regional e reminiscência. Também presentes em outros gêneros jornalísticos – a exemplo da notícia e da reportagem –, são recursos a serviço da interdiscursividade, indicando a presença do discurso relatado e da memória discursiva nas crônicas analisadas. Em outras palavras, são manifestações da alteridade, atuando como forças constitutivas do discurso elaborado pela cronista. Outra hipótese nesse sentido é que a heterogeneidade enunciativa foi empregada para facilitar a descodificação da informação junto aos coenunciadores, já que, ao cruzar enunciados e registros textuais complementares, a interseção dos dizeres amplia o leque de referências junto ao leitor, facilitando o endereçamento da informação.
Construções em itálico, modalização autonímica, discurso indireto livre, acróstico, trocadilho, palíndromo, ironia, imitação, jogos de palavras, pastiche e estereótipos não foram analisados em nosso artigo, seja porque não constam da superfície textual, seja por decisões de ordem metodológica, tendo em conta não ser possível, nos limites deste trabalho, esgotar a combinação entre heterogeneidade enunciativa e intertextualidade.
Precisamente sobre o discurso indireto livre, o nosso entendimento é de que a crônica – embora transite entre a literatura e o jornalismo – evita utilizar esse recurso. Uma das razões para isso é que construções dessa natureza, em virtude das fronteiras tênues entre narrador e personagem, podem dificultar o entendimento do relato cronístico, veiculado prioritariamente em jornal, cujo público tem diferentes graus de instrução, o mesmo sendo válido para o tempo diário disponível para leitura. Compreender construções discursivas indiretas livres pode exigir releituras do trecho em questão.
Em relação à intertextualidade, mapeamos na superfície textual exemplares das modalidades temática, explícita e implícita. Assumimos que essas são as formas mais comuns ao modo de escrever jornalístico, o que, por extensão, contempla a crônica. Ao mobilizar associações e comparações, reverberando a memória discursiva, a intertextualidade auxilia na interpretação textual.
Argumentos de autoridade, como a recomendação do médico feita à cronista, são manifestações da intertextualidade explícita. A orientação é amostra do discurso científico, que aparece consorciado ao discurso existencialista. À vista disso, partindo do pressuposto de que a “existência” precede a “essência”, pontuamos que a cronista precisava, primeiramente, “tomar banho, alimentar-se e dormir”, para, ato contínuo, encontrar a sua essência.
Por fim, anote-se que, em nosso artigo, focalizamos duas crônicas das semanas iniciais do confinamento na Espanha. Por razões metodológicas, não enfocamos esse período no Brasil, nem o relaxamento das medidas restritivas na Espanha, em junho de 2020. São recortes analíticos à disposição dos investigadores que queiram se debruçar sobre a relação entre as crônicas jornalísticas e a pandemia. Incursões nesses enquadramentos poderão acrescentar ou mesmo refutar a proposição de sentidos que deriva de nossas análises. Duas ideias-força atuam nessa direção. Os textos são intertextuais, de modo que o exame de outras crônicas – alterando-se o seu contexto – pode conduzir a interpretações alienígenas às apresentadas aqui. Outrossim, modificando-se o corpus de análise, o dialogismo bakhtiniano pode rearranjar a estrutura compósita de sentidos, também reorientando a interpretação do analista.
Referências:
AARTS, Bas; BAUERS, Martin W. A construção do corpus: um princípio para a coleta de dados qualitativos. In: Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático / Martin W. Bauer, George Gaskell (editores). Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
AUTHIER·REVUZ, Jacqueline. Entre a transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do sentido. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
AUTHIER·REVUZ, Jacqueline. Heterogeneidade(s) Enunciativa(s). In: Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas-SP: UNICAMP, IEL, n° 19, p. 25-42, jul./dez. 1990.
AUTHIER·REVUZ, Jacqueline. Hétérogénéité(s) énonciative(s). In: Langages, 19ᵉ année, n°73, Les Plans d'Énonciation, sous la direction de Laurent Danon-Boileau. Pp. 98-111, 1984.
BAHIA, Juarez. Dicionário de Jornalismo. Rio de Janeiro: Mauad X, 2010.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: HUCITEC, 2006.
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo: HUCITEC, 2002.
BELTRÃO, Luiz. Jornalismo Opinativo. Porto Alegre: Sulina, 1980.
BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães; KOCH, Ingedore G. Villaça. Intertextualidade: diálogos possíveis. São Paulo: Cortez, 2008.
COURTINE, Jean-Jacques. Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en analyse du discours, à propos du discours communiste adressé aux chrétiens. In: Langages, 15ᵉ année, n°62, p. 9-128, 1981.
CRARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2020.
CRÔNICA. In: DICIO, Michaelis. Disponível em: < https://michaelis.uol.com.br/busca?id=OWQE>. Acesso em: 1 de novembro de 2023.
FERRARI, Maria Helena; SODRÉ, Muniz. Técnica de redação: o texto nos meios de informação. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982.
FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006.
FLORES, Valdir do Nascimento; TEIXEIRA, Marlene. Introdução à linguística da enunciação. São Paulo: Contexto, 2012.
HAROCHE, Claudine; HENRY, Paul; PÊCHEUX, Michel. La sémantique et la coupure saussurienne: langue, langage, discours. In: Langages, 6ᵉ année, n°24. Épistémologie de la linguistique [Hommage à E. Benveniste], p. 93-106, 1971.
JORNAL FOLHA DE S. PAULO. Manual de redação: Folha de S. Paulo. São Paulo: Publifolha, 2005.
KRISTEVA, Julia. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. In: Critique: studies in contemporary fiction, v.23(239), abril de 1967.
KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. São Paulo: Perspectiva, 2005.
LOWENSTEIN, Ralph. Crônica do dia das mães. In: BARRET, Edward. Jornalistas em ação. Rio de Janeiro: Agir, 1965.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2004.
ROSENTHAL, Marcelo. Gramática para concursos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
SÁ, Jorge. A crônica. São Paulo: Ática, 2005.
Data de Recebimento: 19/02/2024
Data de Aprovação:17/02/2025
1 Somava 14.295 pontos em janeiro de 2025, segundo ranking do Jornalistas & Cia.
2 É o título da crônica na versão impressa da FSP. Na versão on-line, o texto foi publicado como “O lado utópico da crise”. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/diario-do-confinamento-em-barcelona-o-lado-utopico-da-crise.shtml>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2025.
3 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/diario-de-confinamento-os-domingos-sao-como-segundas-e-as-segundas-como-domingos.shtml>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2025.
4 O segundo pilar da teoria da heterogeneidade enunciativa é a psicanálise freudo- lacaniana, locus de partida das análises de Authier-Revuz sobre o Outro. Enquanto o “outro” postulado por Bakhtin refere-se à condição do discurso – não conformando nem um interlocutor material per se, nem o objeto do discurso –, o “Outro” de Lacan vincula-se ao inconsciente. Resta evidente, desse modo, a relação com a psicanálise freudo-lacaniana. Tendo em conta sua filiação com o inconsciente, o sujeito apresenta-se “descentrado, dividido, clivado, barrado” (Revuz, 1990, p. 28). Ante a “ilusão necessária da autonomia de sua consciência e de seu discurso” (Charaudeau & Maingueneau, 2020, p. 262), o sujeito pode não se dar conta da interseccionalidade do seu enunciado com os dizeres de outrem, embora a codependência exista e possa ser examinada, à luz do saber científico, no discurso (materialidade da ideologia) e na língua (materialidade do discurso). Embora não seja o centro do discurso, cujos pontos nodais são o já-dito e a alteridade, a tal ilusão citada por Charaudeau & Maingueneau (2020) é necessária para que o sujeito, sob efeito da linguagem, formule e materialize o seu dizer.