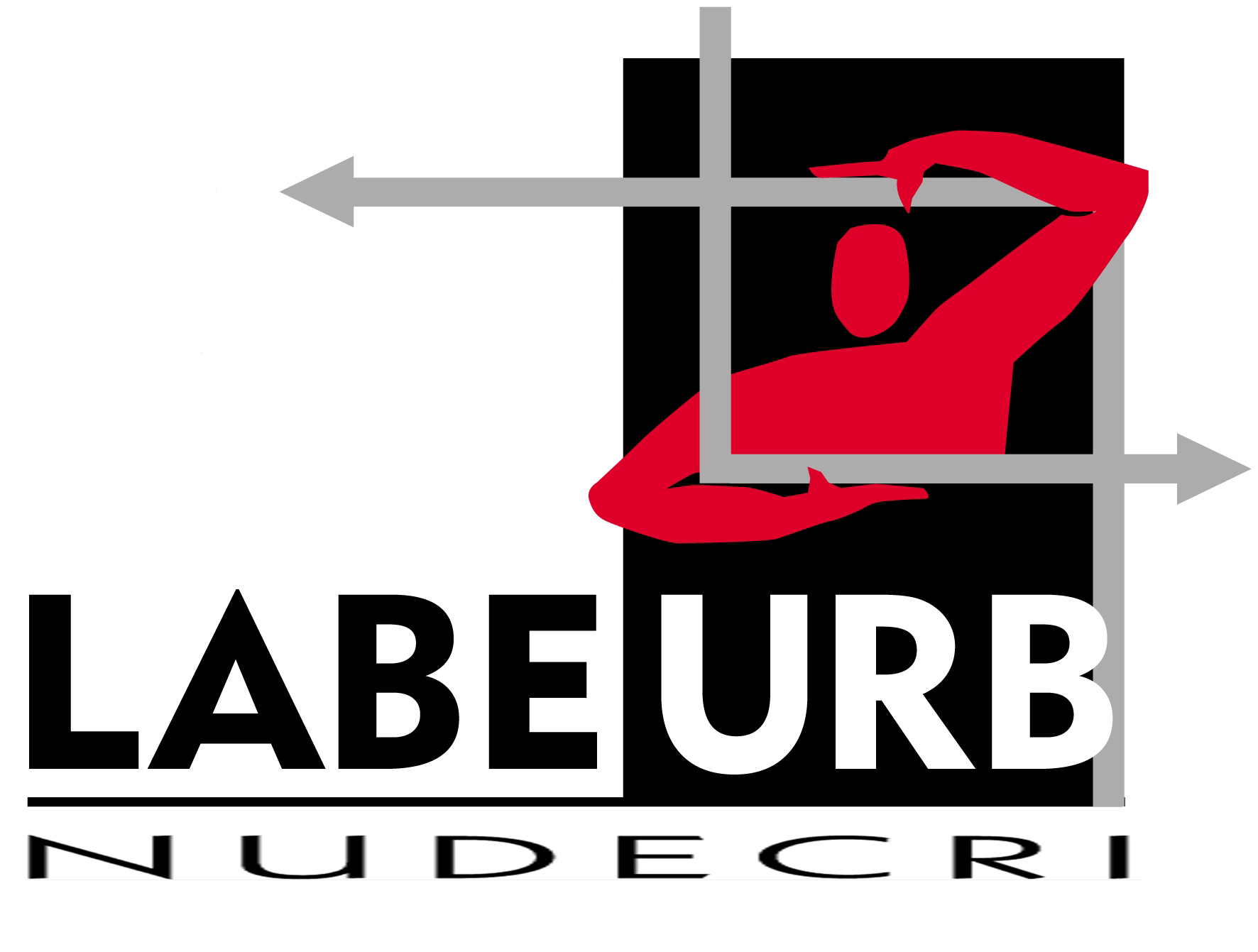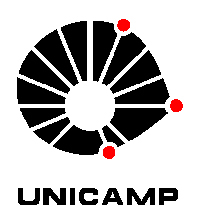Transgênero e língua: Uma revisão de literatura e sugestões para o futuro


Don Kulick
Publicada há mais de duas décadas, esta revisão bibliográfica elaborada pelo antropólogo sueco Don Kulick, atualmente professor de Antropologia na Universidade de Upsalla, permite observar tendências nos estudos acadêmicos sobre o uso da língua por sujeitos transgêneros, ao longo da segunda metade do século XX. Sabe-se que o termo language em inglês pode corresponder tanto à “língua” quanto à “linguagem”; optou-se quase sempre pela tradução como “língua”, devido ao foco dado por Kulick aos aspectos da gramática, da voz e da fala em geral. No mais, os poucos comentários da tradutora estão dispostos entre colchetes. Para maior clareza, optou-se pontualmente por não traduzir algum termo/expressão ou traduzir mantendo a comparação com o termo original entre parênteses. Agradecemos ao autor pela aprovação da publicação e, também, às contribuições das pareceristas.
*
Fundamentalmente, a globalização e o transnacionalismo — os temas do número especial do GLQ [GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, v. 5, n. 4, 1999], do qual este artigo participa — implicam o atravessamento ou a dissolução de fronteiras e, portanto, uma preocupação maior, por parte de alguns, em reafirmá-las. O aspecto transgressivo e ansiogênico do transnacionalismo é uma característica compartilhada por uma série de outros fenômenos sociais, dois deles sendo a transgeneridade e a língua. Uma das muitas coisas que a transgeneridade “faz” na vida social e cultural é afirmar a permeabilidade de limites baseados em gênero. Ao fazê-lo, destaca a natureza inventada, contingente e contextualizada do “masculino” e do “feminino”. Quanto à língua, a teoria desconstrutivista, a translinguística bakhtiniana e a pragmática deleuzo-guattariana têm insistente e vigorosamente demonstrado que sempre excede aos esforços dos linguistas o congelamento de seu fluxo, a contenção da sua variação e seu delineamento em sistemas abstratos, homogêneos. A transgressão de limites é a natureza inescapável da língua. A língua é inerentemente indisciplinar, é desterritorializante e sem amarras. Mas ela também é continuamente sujeita a tentativas — por linguistas, gramáticos, “especialistas em língua”, como William Safire ou George Will e por todos aqueles que têm opiniões sobre língua “boa” e língua “ruim” (ou melhor dizendo, todo mundo) — de negação ou resistência a essa indisciplina; para mantê-la sob controle, dentro dos limites (cf. Tannen, 1995; Lippi-Green, 1994; Silverstein, 1996).
Devido, em parte, ao fato de questões sobre transgênero e língua terem uma afinidade temática com muitos dos tópicos discutidos por outros contribuintes no número do GLQ em que este artigo fora publicado e, também, porque não houve até hoje um tratamento consistente da relação entre transgênero e língua, este ensaio revisará a literatura publicada sobre transgênero e língua e oferecerá sugestões de direcionamentos que futuras pesquisas podem vir proveitosamente a seguir1.
Antes de começar, contudo, uma confissão. Quando eu comecei a ler a literatura sobre a língua de transgêneros, eu me surpreendi. “Meu Deus”, eu pensei primeiro, cabisbaixo, “Janice Raymond estava certa”. Janice Raymond, como se sabe, é a autora do livro bastante influente (e inflamatório) The Transsexual Empire (1980) (“O império transexual”). O livro de Raymond tem o grande mérito de ser um dos primeiros a insistir que a transexualidade fosse analisável como um fenômeno social, e não apenas como uma patologia individual2. Infelizmente, o valor desse insight perde o brilho em seu livro por seus ataques ressentidos às transexuais, de quem ela claramente não gosta. A perspectiva de Raymond sobre a transexual é fácil de resumir: transexuais são soldadas de retaguarda para o patriarcado. Elas “reforçam o tecido pelo qual a sociedade sexista mantém sua unidade” ao “trocarem de um estereótipo por outro” (Raymond, 1980, p. xviii-xix).
Essa compreensão sem nuances da transexualidade tem sido contestada por transexuais há décadas, o mais elegantemente pela réplica de Sandy Stones “O império contra-ataca: um manifesto pós-transexual” (Stones, 2023 [1991]). A obra é claramente inadequada para compreender um fenômeno social tão complexo, e a continuidade de sua circulação em alguns escritos feministas é mais a expressão de um fanatismo do que de uma análise cuidadosa (cf. Wilchins, 1997, p. 59-62; Jeffreys, 1993).
Imagine minha surpresa, então, quando eu comecei a ler a literatura sobre transgeneridade e língua e descobri que as acusações de Raymond pareciam completamente confirmadas. Independentemente de quem estivesse escrevendo — não importava se os autores eram fonólogos, linguistas, fonoaudiólogos ou transexuais — todos, parecia-me a princípio, estavam possuídos pela súcubo da linguista Robin Lakoff, em uma encarnação jovem, especificamente uma sua do início dos anos 1970, quando ela escreveu seu falho clássico “Linguagem e lugar da mulher” (Lakoff, 2010 [1975]). E aqueles que conseguiram exorcizar Robin simplesmente foram de mal a pior, transfigurando-se em Deborah Tannen, no avatar assustador do livro Você simplesmente não me entende3 (Tannen, 1990 [1990]).
De fato, a maior parte do que se escreve sobre transgeneridade e língua se baseia em ambos os livros como atestados de como a língua dos homens e das mulheres “é”. As décadas de críticas a um dos primeiros trabalhos de Lakoff e a recepção fria ao livro de Tannen pelas linguistas feministas passaram despercebidas aqui. Nessa literatura, os textos “Linguagem e lugar da mulher” (2010 [1975]) e Você simplesmente não me entende (1990) são bíblias. São as fontes de autoridade para as alegações feitas sobre o modo como mulheres e homens falam e, consequentemente, sobre o que transexuais devem fazer para soar mais como mulher ou como homem. Com base nas afirmações que Lakoff e Tannen fazem sobre a “língua das mulheres”, por exemplo, mulheres transexuais são encorajadas (e encorajam umas às outras) a usar mais tag questions (i.e. perguntas acrescentadas ao fim de sentenças, como ‘isso é bobo, não é?’) e o que Lakoff chama de “adjetivos vazios”, como lovely e precious (Lakoff, 1975, p. 53). São também aconselhadas a desenvolver uma “maior disposição para ouvir” e a não interromper; a mover mais sua boca (“quando mulheres falam, elas movem suas bocas mais que os homens”) e a sorrirem mais: a fonoaudióloga sueca Ewa Söderpalm nos informa que “mulheres sorriem mais e têm muito mais acenos de encorajamento. Homens sorriem mais quando estão tentando sacanear você” (Vera, 1997, p. 133; Stevens, 1990, p. 76; Söderpalm, 1996, p. 56; cf. também: Günzburger, 1996, p. 277). Aos homens transexuais é dito que a “adoção de certo estilo agressivo” e que o ato de dizer para as pessoas o que querem, em vez de lhes pedir, poderia ajudá-los a passar como homens4 (Knight, 1992, v. 2, p. 314; Sulivan, 1990, p. 49).
À primeira vista, essas formas de contraste simplista entre a língua “dos homens” e “das mulheres” dão a impressão de que essa literatura se dirige aos homens transexuais tanto quanto às mulheres transexuais. Porém, tal qual livros como Você simplesmente não me entende aparentemente se direcionam mais às mulheres que aos homens e são, até onde se sabe, muito mais lidos por mulheres do que por homens (Tannen, 1995, p. 194; Troemel-Ploetz, 1991), ao olhar mais de perto a literatura sobre transgeneridade e língua, revela-se uma desproporção significativa. A esmagadora maioria de escritos sobre transgeneridade e língua está interessada na língua de mulheres transexuais. Em livros e artigos por e sobre homens transexuais, questões de língua são praticamente inexistentes.
Fala e linguagem são uma forte e contínua preocupação para mulheres transexuais — a foneticista Deborah Günzburger chegaria a dizer que, para algumas transexuais, a preocupação com a língua “beira a loucura”. Nenhuma discussão acadêmica sobre mulheres transexuais e suas necessidades está completa sem falar um a sobre língua. Uma das primeiras discussões levantadas por Deborah Feinbloom é um exemplar do gênero. “Para as transexuais, a voz é de importância particular”, Feinbloom explica, “já que, sem treiná-la, ela tende a se manter grave e é potencialmente disruptiva para com a nova imagem sendo apresentada. Falar sussurrando, com falsete ou aprender a mudar a altura da voz (pitch) é frequentemente de crucial importância.” Artigos de médicos e psicólogos que trabalham com mulheres transexuais concordam. Mildred Brown e Chloe Ann Rounsley, em seu recente livro True Selves, explicam que “para a maioria das transexuais, tempo e esforço consideráveis são necessários para treinar a voz — até a forma como tossem e limpam a garganta — para tornar-se tão adequado ao gênero quanto possível em registro, altura da voz (pitch), inflexão e entonação”. Ewa Söderpalm escreveu uma monografia inteira sobre “transexualidade em uma perspectiva fonoaudiológica”, onde “transexualidade” significa “transexualidade feminina” e onde ela explica para fonoaudiólogos o que eles devem saber para ajudar mulheres transexuais a soar como mulheres cisgêneras. Também a antropóloga Anne Bolin, em seu estudo etnográfico sobre transexuais estadunidenses, acentua a importância de modificações na fala, apontando que muitas transexuais participam de workshops de voz ou fonoterapia, onde aprendem “dicas de articulação, altura da voz (pitch), ritmo, seleção lexical etc.” (Günzburger, 1996, p. 269; Feinbloom, 1976, p. 233; Brown e Rounsley, 1996, p. 135; Söderpalm, 1996; Bollin, 1988, p. 134).
Preocupações com a fala também aparecem em autobiografias de mulheres transexuais. Muitas mencionam a preocupação com sua fala traí-las em situações em que elas gostariam de ser vistas como mulheres (ver, p. ex.: Conn, 1974, p. 167; Wilchins, 1997, p. 54 e 151). Outras são mais enfáticas. Claudine Griggs examina como ela “praticou por anos alterar [sua] voz para imitar mulheres” (Griggs, 1998, p. 10). Renée Richards relata que quando ela começou a aparecer publicamente como mulher,
eu tentei fazer com que minha voz ficasse feminina... Eu tinha aceitado o aspecto grosseiro [da minha voz]; o que eu pratiquei... foi introduzir variações de tom nela. Eu já tinha percebido que homens, incluindo eu mesma, costumavam soar graves, com pouca variação, enquanto as vozes de mulheres flutuavam mais facilmente entre agudos e graves. Eu tentei ganhar essa dimensão a mais sem ir muito além da conta e sem soar como uma travesti escandalosa (campy). Há também uma diferença na maneira como as mulheres pronunciam o s, com uma sibilação ligeiramente maior que a de um homem; trabalhei nisso também (cf. Richards, 1983, p. 219).
Totalmente oposta a essa maneira de se atentar à língua, a literatura sobre, por e para homens transexuais contém poucas referências à fala ou à linguagem. O manual clássico de Lou Sullivan Information for the Female to Male Cross Dresser And Transsexual (“Informação para cross-dressers e homens transexuais”) contém a maior seção que eu encontrei sobre a “voz deles”, e são somente cinco curtos parágrafos. Mas o conselho de Sullivan não é dirigido aos transexuais, e sim aos “homens transexuais pré-hormonização ou travestis e cross-dressers designados homens ao nascer”. A recente magnum opus de setecentas páginas de Holly Devors sobre homens transexuais não contém nenhuma entrada sobre fala, voz ou linguagem — omissões que seriam impensáveis em um livro análogo sobre mulheres transexuais. Como Sullivan, Devor trata a língua de homens transexuais como uma dimensão completamente não problemática da transição de uma mulher para a masculinidade. Uma indiferença semelhante ocorre nas autobiografias publicadas sobre homens transexuais. Raymond Thompson, por exemplo, menciona a fala apenas no que tange à passabilidade, como um atributo entre muitos outros que o fizeram parecer mais masculino. Explicando que, uma vez que ele começou a terapia hormonal, as pessoas que o encontravam acreditavam que ele era um homem, Thompson diz: “Com minha voz grave, bigode e macacões, eles não tinham razão para pensar diferente”. Mario Martino menciona a fala de uma forma igualmente nada dramática: “A masculinização começou e se intensificou com os hormônios”; diz ele, simplesmente: “Minha voz estava engrossando, minha barba por fazer tinha que ser aparada diariamente” (Sulivan, 1990, p. 48; Devor, 1997; Thompson, 1995, p. 118-119; Martino e Harriet, 1997, p. 170).
O motivo que é dado pela literatura para a ausência de preocupação com a fala de homens transexuais é fisiológico: a ingestão de testosterona engrossa as cordas vocais e faz a voz do homem transexual ficar mais grave (Günzburger, 1993, p. 13-21; Günzburger, 1996; Oaets e Dacakis, 1986). O caso das mulheres transexuais é diferente: o estrogênio não tem efeito em suas cordas vocais, o que significa que a voz permanece grave. O fato da altura da voz (pitch) de homens transexuais recobrir o que é considerado geralmente como masculino significa que homens transexuais “são sortudos” no que diz respeito aos hormônios, como Lou Sullivan expressa (Sullivan, 1990, p. 48). Eles não precisam se preocupar com sua fala. [N.T.: distingue-se popularmente a altura maior da voz como “aguda, fina” e a menor como “grave, grossa”.]
Contudo, como a extravagante pluralidade de conselhos a transexuais femininas indica, uma voz adequada, em termos de gênero, não é somente sobre a altura da voz (pitch) (de fato, um artigo clínico afirma que até mesmo a cirurgia, pela qual algumas mulheres transexuais passam para encurtar suas cordas vocais, “não elimina a necessidade de fonoterapia em quase todos os casos”). Falar como uma mulher envolve dominar uma série de habilidades que abarcam não só altura da voz (pitch) e entonação, como também léxico, sintaxe, comportamento paralinguístico, tal como falar suavemente (Jennifer Anne Stevens informa seus leitores que “em geral, mulheres que falam suavemente são mais bem-aceitas na sociedade de hoje que as desbocadas (loud mouths), especialmente aquelas com voz grossa”), comportamento não-verbal, como movimentar mais a boca, olhar diretamente no olho dos outros ao falar, sorrir e acenar encorajando (Asscheman; Gooren, 1992, p. 50-51; Stevens, 1990, p. 74).
Por esse motivo, a ausência de literatura aconselhando os homens transexuais a falarem como homens é um fato tão ideológico quanto fisiológico e merece mais pesquisa sobre o que nos diz acerca de ideias e práticas de masculinidade e feminilidade. Isso tanto reflete quanto suscita atitudes culturais amplamente disseminadas que sustentam que ser um homem é autoevidente, enquanto ser uma mulher é um conjunto complicado de procedimentos que requer aderência cuidadosa a instruções detalhadas, explícitas (frequentemente estabelecidas por homens) sobre como andar, falar, sentar-se, comer, vestir-se, mover-se e demonstrar afeto. Isso converge também com o fato interessante de que, enquanto transexuais DMAN geralmente solicitam poucas intervenções cirúrgicas para se tornarem homens (a maioria faz apenas mastectomia e talvez lipoaspiração nos glúteos e quadris), muitas transexuais DHAN passam anos voltando aos cirurgiões para passar por um grande número de procedimentos e operações, incluindo aumento dos seios, dos lábios, lifting faciais, rinoplastia, diminuição do queixo, realinhamento da mandíbula, depilações de sobrancelha, implantes de bochecha, remoção das costelas falsas, peeling químico, raspagem da traqueia [redução do pomo de adão] e cirurgia nas cordas vocais5. Ser um homem, tanto nos modelos culturais quanto na prática transexual, parece fácil. Ser uma mulher requer esforço, aconselhamento e ajuda.
Era esse alinhamento certeiro entre os pressupostos culturais (cultural assumptions) e as práticas transexuais que me fez pensar na tese de Janice Raymond, que sem dúvidas tem alguma validade aqui. Anne Bolin nos lembra, por exemplo, em uma linguagem que tocaria o coração de Raymond, que as transexuais que passam mais tempo aprendendo a enunciar e estereotipar a língua das mulheres “não participam de uma revolução feminista; elas simplesmente querem passar” (Bolin, 1988, p. 134-135).
Haja vista a dimensão conservadora de tudo isso, seria relativamente fácil argumentar que, mesmo quando as mulheres transexuais conseguem, enfim, falar como mulheres, elas não estão simplesmente (ou não só) “reforçando o tecido pelo qual a sociedade sexista mantém sua unidade” (Raymond, 1980, p. xviii-xix). Se Jacques Derrida e Judith Butler nos ensinaram algo, é que a mimesis e a repetição — ou citacionalidade, que parece ser a palavra mais adequada nesse caso — não são simples reproduções de língua ou relações sociais já existentes. Toda citação é uma alteração, já que ocorre em uma estrutura temporal, em uma localidade, em um contexto, em um corpo diferente. Isso significa que a adoção de normas de fala estereotípicas por indivíduos transgêneros, ainda que em certo sentido possa ser entendida como reafirmação de estereótipos, também abre espaço conceitual para a apreciação de que essas normas de fala são estereótipos: repetições estilizadas que ajudam a produzir a aparência de corporeidade adequadamente sexuada. No espírito da análise do drag por Butler, poderíamos argumentar que a adoção por transexuais da “linguagem das mulheres” ou da “linguagem dos homens” demonstra precisamente a natureza fantasmática desses mesmos construtos (Butler, 1990). Decerto, o fato de que a “linguagem dos homens” e a “linguagem das mulheres” podem ser apropriadas por indivíduos transgêneros é a evidência mais forte que eu poderia pensar que esses rótulos em si são irremediavelmente inadequados, teoricamente fracos e conceitualmente improdutivos.
Além disso, há algumas evidências de que pelo menos algumas mulheres transexuais não estão tão interessadas assim em passar como moças (cf. Bolin, 1998, p. 77; Griggs, 1998, p. 9). Falando sobre si mesma como “foragida do gênero”, Kate Bornstein, por exemplo, menciona explicitamente a língua. “Nas aulas de voz”, ela lembra:
Eu fui ensinada a falar em um tom de voz muito agudo, muito sussurrado, cantado e a posicionar tag questions no fim de cada sentença. E deveria sorrir o tempo todo enquanto estivesse falando. Eu disse: “Ah, eu não quero falar assim!”. Os professores presumiam que você se tornaria uma mulher heterossexual. Ninguém te ensinaria a ser uma lésbica, porque ser lésbica era tão fora da lei quanto ser transexual (Bornstein apud Bell, 1993, p. 112).
Chamando a atenção explicitamente ao fato de que a “língua das mulheres” está implicada com a heterossexualidade normativa, Bornstein visibiliza um ponto cego que continuava bem despercebido durante vinte anos de pesquisa sobre língua e gênero. Ela nos lembra o papel da língua na constituição da sexualidade e seus comentários apontam para uma agenda de pesquisas pela qual só agora os linguistas queer começaram a se interessar.
*
Além da literatura sobre como os transexuais devem falar, outro gênero de literatura sobre transgeneridade e língua é o que debate terminologia e classificações. Ativistas transgêneros amam cunhar palavras, e jornais, revistas e grupos da internet transgêneros se agitam com debates sobre nomes, rótulos e pronomes. Ainda que esteja agora, de certa maneira, bem-estabelecido, os prós e os contras do termo transgênero continuam a ser debatidos com vigor (cf. Beatty, 1995, p. 50-51; Green e Sharp, 1997, p. 1-4; Laing, 1995, p. 48). Outras palavras que foram inventadas e debatidas incluem gendertrash [lit. ‘lixo de gênero’] (de Riki Anne Wilchins), spokesherm, genderqueer e os pronomes hir (pronunciado como “here” [‘aqui’]) e s/he (“shu-he”), que alguns transgêneros preferem (Wilchins, 1995, p. 46-47; Wilchins, 1997; Valentine e Wilchins, 1997, p. 215-222). E mesmo se suas categorizações das pessoas como femisexuals, mascusexuals, transhomosexuals, e por aí vai, nunca pegam, esses termos, cunhados por Tracie O’Keefe e Katrina Fox, demonstram o talento para criatividade linguística que está cada vez mais sendo explorado por indivíduos transgêneros e que clama por atenção e por pesquisas (O’Keefe e Fox, 1997).
Criatividade linguística parece ser uma característica fundamental de muitas línguas queer. Os ultrajantes insultos de bichas transcritos por Stephen O. Murray, o uso bastante debatido de pronomes femininos por homens gays para referenciar a si mesmos e a outros homens, bem como o irreprimível zelo neológico de escritoras lésbicas feministas como Mary Daly são ricos exemplares de respostas possíveis dos queers para a pergunta de Humpty Dumpty: “Quem será o mestre?” (Murray, 1983, p. 189-211; Rudes e Healy, 1979, p. 49-61; Barrett, 1995, p. 207-226; Daly, 1979). Só recentemente, contudo, os acadêmicos começaram a se voltar para os modos como indivíduos transgêneros manejam o sistema gramatical de sua língua para auxiliar na constituição de suas próprias subjetividades e desejos.
Às vezes, é claro, indivíduos transgêneros não são capazes de fazer algo assim. Considere-se, por exemplo, Herculine Barbin, hermafrodita do século XIX que se tornou famoso(a) por Michel Foucault6 (Foucault, 1980). Classificado(a) e socializado(a) como uma menina, Barbin viveu como uma mulher até que uma confissão na igreja sobre sua paixão por outra menina deu início a uma série de exames que o(a) fizeram ser reclassificada(o) legalmente como homem aos 21 anos. Nove anos depois, Barbin cometeu suicídio. Vicent Crapanzano recentemente apresentou uma releitura das memórias de Barbin, na qual ele argumenta que uma tragédia profunda na vida de Barbin era que ela(e) excedia à capacidade linguística do período de proporcionar-lhe uma perspectiva, uma identidade. “A vida de Barbin pode ser entendida em termos da perda de um gênero (genre)”, escreve Crapanzano, “a perda daquelas estratégias discursivas convencionalizadas pelas quais um homem (ou mulher) do contexto provincial e burguês de Barbin poderia ‘significativamente’ articular sua vida”. Ao explorar a estrutura interlocutória do texto de Barbin [i.e., as relações entre o(s) Eu(s) narrador(es) e o(s) Eu(s) narrado(s)], o uso do tempo gramatical e o modo como as convenções de gênero [genre] são trabalhadas, Crapanzano argumenta que as intervenções dos padres, de doutores e da lei empurraram Barbin para além da narrativa, para além dos meios pelos quais ele(a) poderia significar seu passado ou sua vida. Tudo o que restou a Barbin, no fim, foi “o horror de ser desprovido(a) de toda e qualquer história7” (Crapanzano, 1996, p. 126).
As amarras linguísticas impostas aos indivíduos transgêneros são algo que eu tenho examinado em minha própria pesquisa entre prostitutas transgêneras no nordeste brasileiro. Nesse trabalho, eu explorei como as falantes são limitadas pela gramática e como elas criativamente manipulam e perturbam esses limites em sua autorreferência e na referência a outrem (Kulick, 1998, p. 214-221). A palavra mais amplamente difundida para sua subjetividade singular é travesti, uma palavra que é gramaticalmente masculina em português (o travesti). Sempre que as travestis usam essa palavra para falar genericamente sobre travestis como um grupo, elas são aparentemente conduzidas pela gramática a usar formas masculinas – como ele, artigos masculinos e terminações de adjetivo – que concordem com travesti. A maioria das travestis, contudo, raramente usam a palavra travesti, preferindo no lugar as palavras gramaticalmente femininas bicha e mona para falar sobre si mesmas e sobre suas colegas. Mesmo se uma travesti utiliza a palavra travesti para falar sobre as travestis em geral, ela sempre alternará a formas femininas para falar sobre indivíduos, nomeadamente travestis, a não ser que ela deseje proferir um grave insulto (cf. Hall e O’Donovan, 1996, p. 251-255; Hall, 1997, p. 450-451).
Travestis também usam a língua como um modo de enlaçar seus clientes em meio à realidade opressiva das ideias sobre gênero no Brasil. Para coagir clientes a pagarem mais, as travestis às vezes encenam dramatizações públicas ofensivas a que chamam escândalos. Escândalos consistem em gritos altos, ofensivos, de que o cliente da travesti (o qual quase invariantemente se autoidentifica como um homem heterossexual) é uma maricona: uma palavra que significa “homossexual passivo” e que é feminina, tanto gramatical quanto culturalmente. Ao representar seu cliente ostensivamente heterossexual como um homossexual afeminado e ao chamá-lo de “ela”, as travestis afirmam o poder de definir identidades e a natureza das relações sociais. Em uma cena dramática, elas colocam em primeiro plano o texto queer que permeia as relações cliente-travesti, esse em que o cliente se importa sobremaneira com manter-se oculto ao olhar público. Escândalos demonstram como a linguagem pode ser utilizada para interpelar indivíduos como transgêneros, a despeito da vontade do indivíduo assim interpelado8 (Kulick, 1996, p. 3-7).
Outra pesquisadora que explorou a relação entre linguagem e transgeneridade é Anna Livia. Em suas contribuições aos volumes Gender Articulated (“Gênero articulado”) e Queerly Phrased (“Expresso de um modo queer”), Livia examina como diferentes formas de masculinidade e feminilidade são construídas através da língua. O que torna essas análises tão interessantes é o foco da Livia em linguagens que pretendem transmitir masculinidade em mulheres e feminilidade em homens. Em seu prazeroso ensaio intitulado “I Ought to Throw a Buick at You” (“Eu vou jogar um ‘carro’ em você”), Livia descreve os atributos linguísticos de sapatões (butches) em novelas lésbicas. “Sapatões (butches)”, ela sintetiza, “falam pouco, [...] frequentemente limitam suas respostas a grunhidos monossilábicos ou usam gestos físicos ao invés de palavras para transmitir seu significado; têm cautela para expressar emoções, geralmente deixando que as letras de músicas falem por elas; e seu vocabulário para com as lésbicas femininas (femmes) é de posse e de insinuação sexual” (Livia, 1995, p. 258). Ao mostrar como escritores se utilizam de características de uma fala estereotipicamente “masculina” para enquadrar suas personagens como sapatão (butch), Livia demonstra como aquilo a que outros pesquisadores ainda se referem ingenuamente como língua “dos homens” e “das mulheres” não está ancorado em ou limitado aos corpos adequadamente sexuados. Na verdade, a língua “dos homens” e “das mulheres” constitui um recurso que está disponível para ser convocado e manipulado por qualquer um a fim de transmitir e construir posições e identidades de gênero.
O mesmo ponto é desenvolvido na análise de Livia do jeito como o gênero referencial é gramaticalmente codificado na autobiografia da transexual francesa Georgine Noël. Ainda que Noël “afirme que ela tenha sido feminina desde o nascimento”, Livia mostra como a autobiografia alterna entre a concordância de gênero no masculino e no feminino quanto à Noël, quem manipula o sistema de gênero do francês para “expressar e sublinhar muitas de suas mudanças de humor, atitude e identificação”. Uma análise do gênero referencial nesse e em outros textos franceses leva Livia a concluir que o indivíduo transgênero “age, poderíamos dizer, como um solucionador de problemas (troubleshooter) de gênero, revelando recursos disponíveis no sistema de gênero aos quais identidades mais tradicionais podem ter pouco recurso” (Livia, 1997, p. 352 e 365).
A ideia de que indivíduos transgêneros têm um relacionamento mais autorreflexivo e, por isso, mais consciente e criativo com o sistema de gênero de sua língua também é um tema desenvolvido por Kira Hall e Veronica O’Donovan em sua discussão sobre os modos como hijras (eunucos) falantes de híndi empregam o gênero gramatical para indexar identidade, afeto, solidariedade e hierarquia. Hall e O’Donovan analisam transcrições de entrevistas entre hijras e elas mesmas. Elas mostram que nessas entrevistas as hijras tendem a usar a forma marcadamente feminina da primeira pessoa gramatical, exceto quando colocam em primeiro plano suas conquistas em esferas culturalmente masculinas, como a posse de um imóvel, quando elas desejam evocar uma imagem delas mesmas como confiáveis ou quando elas desabafam sua raiva. Elas também alternam para a forma masculina quando falam sobre outras hijras para comunicar atitudes de extremo respeito ou, em outros contextos, desprezo desdenhoso (Hall; O’Donovan, 1996).
O recente artigo de Liora Moriel na World Englishes examina as letras de músicas escritas e performadas por Dana International, a nova diva pop transexual de Israel, que, em 1998, ganhou o concurso musical Eurovision — o evento anual, assistido por milhões de pessoas, que alavancou Abba (e, duas décadas depois, Céline Dion) para o estrelato internacional. Moriel argumenta que Dana International é “uma notável inovadora linguística” cujas letras “transcendem a língua de cada um do jeito que [ela] transcende o sexo de cada um.” Fazendo uma afirmação que explicitamente liga transgeneridade com transnacionalismo, Moriel sugere que Dana International (cujo nome meio que diz tudo) insere frases do inglês e de outras línguas em suas músicas como um modo de romper com as limitações do hebraico, em que o gênero é obrigatoriamente marcado na maioria das formas gramaticais. A língua inglesa e outras línguas europeias são, portanto, empregadas por Dana como um modo de manter a ambiguidade ou a indefinição de gênero, algo que não seria possível em hebraico. Ainda que não esteja totalmente claro como as letras de Dana International “subvertem” o hebraico (Moriel alega que elas proporcionam “um plano de aula sobre a subversão da língua através de sua internacionalização”), esse ensaio decerto demonstra as maneiras criativas de certos indivíduos transgêneros transcenderem o gênero gramatical e reconfigurarem a língua para expressar suas subjetividades e desejos. O artigo de Moriel também é uma importante contribuição em busca de entender os modos pelos quais os significantes de transnacionalidade são apropriados em contextos particulares e empregados na articulação de posições-sujeito transgressoramente generificadas9 (Moriel, 1998, p. 227, 229 e 236).
Uma observação semelhante é feita na monografia de Mark Johnson sobre gays no sul das Filipinas. Gays são afeminados(as) e geralmente homens cross-dressers que “têm um coração de mulher preso dentro de um corpo de homem” (Johnson, 1997, p. 89). E, assim como Dana International emprega a língua inglesa para indexar uma subjetividade particular que não é prontamente expressa em sua língua nativa, Johnson discute como gays das Filipinas usam a língua inglesa e palavras derivadas dela — particularmente palavras-chave como love (‘amor’), romanca ou gay — parar constituírem-se a si mesmas(os) como sujeitos, de um jeito muito particular. Através do codeswitch entre a língua local (tausug) e o inglês e através do uso de palavras como love para falar sobre seus relacionamentos afetivos e gay para denotar sua identidade, gays performativamente apropriam-se dos Estados Unidos como um espaço imagético usado para articular perspectivas sobre suas vidas de formas que não lhes estão disponíveis em seus discursos locais (cf. também: Manalansan IV, 1995, p. 249-266). Johnson destaca as formas pelas quais essa apropriação “da beleza e do poder” dos Estados Unidos liga tanto os desejos quanto as identidades de gays aos processos transnacionais, até mesmo porque também se produz um tipo particular de localidade globalizada, uma que altera e amplia o espaço para a vida afetiva, social e econômica de gays. Johnson usa as práticas linguísticas de indivíduos gays para desenvolver seu argumento de que “também não é mais válido tratar as várias formas e formulações de gênero e sexualidade como ilhas de desejo auto-perpetuadoras. Ao invés disso, elas se desdobram em discursos que atravessam os limites e as fronteiras nacionais, tanto quanto criam e reproduzem classificações étnicas e culturais divergentes” (Johnson, 1997, p. 13-14).
Como alguns dos outros trabalhos que agora começam a emergir no estudo da língua queer, a maioria das pesquisas recentes sobre língua transgênera é importante porque a examina em interações situadas, usando-a para se encaminhar a uma teorização da natureza contingente do gênero e do papel da língua na constituição e na indexação do gênero (cf. Barrett, 1997, p. 181-201; Barrett, 1995; Cromwell, 1995, p. 267-296; Gaudio, 1997, p. 416-429; White, 1998, p. 215-223). Além disso, obras como a de Liora Moriel, Mark Johnson e Martin Manalansan documentam como os tipos de gênero sendo indexados localmente são completamente inteligíveis em termos de processos e percepções globais e transnacionais.
Se há uma ressalva a essa literatura, é que a maior parte dela não examina a língua em contextos informais. Com algumas poucas exceções, os dados analisados pelos pesquisadores têm sido textos literários, cinematográficos e musicais; diálogos construídos; falas em palco; ou língua produzida em entrevistas mais ou menos formais com acadêmicos10 (Livia, 1997; Livia, 1995; Ogawa e Smith, 1995, p. 402-415; Moriel, 1998; Cromwell, 1995; Barrett, 1997; Barrett, 1995; Newton, 1972; Gaudio, 1997; Hall, 1997; Hall e O’Donovan, 1996; Manalansan, 1995). Enquanto a análise de tal material continua a proporcionar perspectivas teóricas importantes, a quase total ausência de dados empíricos sobre como pessoas transgêneros realmente falam umas com as outras e com as pessoas de suas comunidades é uma séria deficiência à qual nós precisamos nos voltar em pesquisas futuras (pode-se dizer o mesmo sobre o campo da linguística queer em geral). Nós precisamos não apenas entender mais completamente a complexidade da subjetividade transgênera, como também avançar nossa teorização. Na maioria da literatura que eu acabei de sumarizar, é possível notar um desejo dos autores de apresentar a língua de seus amigos transgêneros e objetos de pesquisa como subversivos, às vezes (como dito acima) subversivos em relação ao próprio sistema gramatical que empregam. Enquanto é totalmente possível que esse argumento possa ser sustentado em alguns contextos, para que seja convincente, nós precisamos saber mais sobre como os indivíduos transgêneros realmente falam com as pessoas em seus meios e precisamos saber como essas pessoas avaliam e correspondem a essa fala. Utilizar recursos linguísticos de uma maneira nova não é o mesmo que “subverter”, “reconfigurar” ou mesmo “desafiar” o sistema linguístico como tal.
Isso nos leva ao meu último ponto: sobre o futuro. Uma das tarefas mais urgentes a serem enfrentadas pelos acadêmicos interessados em transgênero e língua, como eu destaquei, é começar a coletar e analisar dados sobre como pessoas transgêneras realmente falam – como usam a língua em uma ampla variedade de situações sociais para generificar a si mesmas e às outras. Embora faltem dados sobre praticamente todos os grupos transgêneros, a lacuna é especialmente vasta quando se trata de homens transexuais. Pelo menos, quando mulheres transexuais, drag queens e transgêneros como hijras e travestis são tematizadas, temos algumas poucas análises de exemplos de suas falas. Quanto aos homens transexuais ou quanto aos tipos de mulheres muito masculinas (bulldagger) da vida real representadas em novelas lésbicas analisadas por Anna Livia, não há nada. Uma das razões para essa falta de interesse na fala de homens transexuais, eu acredito, é que os pesquisadores têm acriticamente aceitado o conhecimento prévio que nos informa que os hormônios permitem a uma mulher falar como homem. Mas para reiterar: falar como homem não é simplesmente ter cordas vocais grossas. Estudos detalhados sobre como homens transexuais adquirem e utilizam a língua em suas apresentações generificadas de si mesmos não apenas poderiam proporcionar valiosos materiais empíricos, talvez úteis a homens transexuais interessados; também poderiam iluminar algumas maneiras pelas quais a masculinidade é convocada e indexada (e é convocável e indexável) com frequência.
Uma das grandes contribuições que trabalhos sobre língua e transgênero podem oferecer para a sociolinguística e a antropologia é soltar, de uma vez por todas, a conexão entre língua e corpos sexuados. Embora muitos trabalhos recentes sobre língua e gênero reconheçam completamente que a língua constitui (ao invés de apenas refletir) o gênero, ainda se encontra frequentemente uma confusão irritante entre como alguns (geralmente brancos, de classe-média, escolarizados) homens falam (em certos contextos) e a “língua dos homens” e entre como algumas (geralmente brancas, de classe-média, escolarizadas) mulheres falam (em certos contextos) e a “língua das mulheres”. Há ainda pouco foco estabelecido ao que Kathleen Stewart chamou de “práticas interpretativas que continuamente transformam uma fala dialógica polêmica em conceitos fixos de masculino e feminino” (Stewart, 1990, p. 44). Um problema semelhante reaparece em obras sobre línguas queer que confundem o que alguns (de novo, geralmente brancos, de classe-média, escolarizados) homens gays dizem, em alguns contextos, com um genérico “Inglês Gay11” (Gay English).
A inerente processualidade, indecidibilidade, instabilidade e evanescência de toda semiose são, em certo sentido, feitas da carne de indivíduos transgêneros. O fato de que os próprios indivíduos transgêneros encarnam o processo, a indecidibilidade, a instabilidade e a evanescência torna extremamente difícil, para acadêmicos pesquisando transgênero e língua, conseguir essencializar a língua deles ao enraizá-las em seus corpos ou em sua socialização (à la Tannen), uma vez que esses corpos são frequentemente avessos a quaisquer essências que se presuma que eles venham a representar e uma vez que essa socialização (como garotos? Garotas? Garotos que eram garotas? Garotas que queriam ser garotos?) é delicada e tem camadas demais para ser capturada pela binariedade sociológica grosseira de que atualmente nós dispomos para análise. A relação entre transgênero e língua é de différance mútua, da fluidez mútua que excede significados fixos, permanece sempre plural e continuamente perturba a marcação de limites. Nesse sentido, investigar a transgeneridade é investigar algo da natureza e do funcionamento da própria língua. É também investigar algo da natureza e do funcionamento do transnacionalismo. De fato, talvez um entendimento mais minucioso sobre transgênero e língua possa nos proporcionar modelos inovadores para compreender processos globais. Por todas essas razões, o estudo da relação entre transgênero e língua é um dos mais fascinantes — e necessários — projetos em que podemos nos engajar hoje.
Nota
Esse ensaio foi preparado para a 6ª Conferência Anual Universitária Americana sobre Linguística e Línguas Lavandas (Lavander Linguistics and Languages), 11-13 de setembro de 1998. Ele também foi lido na conferência “Sexo e Conflito” na Lund University, Suécia, e discutido na série de seminários sobre teoria queer da Universidade de Estocolmo. Eu sou grato a todos que comentaram o ensaio nessas ocasiões. Bambi Schieffelin, Michael Silverstein e Christopher Stroud me proporcionaram sua crítica com olhar aguçado da linguística; David Valentine me proporcionou muitas referências valiosas e muita conversa fértil sobre transgeneridade. Beth Povinelli providenciou a pitada editorial que permitiu ajustar esse ensaio em sua forma final. Esse artigo foi escrito na Suécia, onde o acesso à literatura sobre transgeneridade é extremamente limitado. Enquanto minha própria coleção de literatura trans é respeitável (e tem sido recentemente complementada pelos esforços bibliográficos e copistas de Laurel Smith Stvan), o ensaio não poderia ter sido escrito sem a generosidade de Ann Kroon, quem gentilmente permitiu-me acesso a sua biblioteca pessoal.
Referências bibliográficas:
ASSCHEMAN, Henk; GOOREN, Louis J. G. Hormone Treatment in Transsexuals. In: BOCKTING, Walter; COLEMAN, Eli (ed.). Gender Dysphoria: Interdisciplinary Approaches in Clinical Management. New York: Haworth, 1992.
BARRETT, Rusty. The “Homo-Genius” Speech Community. In: LIVIA, Anna; HALL, Kira (ed.). Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. New York: Oxford University Press, 1997, p. 181-201.
BARRETT, Rusty. Supermodels of the World, Unite! Political Economy and the Language of Performance among African-American Drag Queens. In: LEAP, William L. (ed.). Beyond the Lavender Lexicon: Authenticity, Imagination, and Appropriation in Lesbian and Gay Languages. Amsterdam: Gordon and Breach, 1995, p. 207-226.
BEATTY, Christine. The “T” Word. Transsisters: The Journal of Transsexual Feminism, n. 9, verão 1995.
BELL, Shannon. Kate Bornstein: A Transgender, Transsexual Postmodern Tiresias. In: KROKER, Arthur; KROKER, Marilouise. The Last Sex: Feminism and Outlaw Bodies. New York: St. Martin’s, 1993.
BELL, Shannon. Finding the Male Within and Taking Him Cruising: “Drag-King For-A-Day" at the Sprinkle Salon. In: KROKER, Arthur; KROKER, Marilouise (ed.). The Last Sex: Feminism and Outlaw Bodies. New York: St. Martin’s, 1993.
BEN-ZVI, Yael. Zionist Lesbianism and Transsexual Transgression: Two Representations of Queer Israel. Middle East Report, primavera 1998.
BOLIN, Anne. Transcending and Transgendering: Male-to-Female Transsexuals, Dichotomy, and Diversity. In: DENNY, Dallas. Current Concepts in Transgender Identity, ed. Dallas Denny. New York: Garland, 1998.
BOLIN, Anne. In Search of Eve: Transsexual Rites of Passage. South Hadley, Mass.: Bergin and Gamey, 1988.
BROWN, Mildred L.; ROUNSLEY, Chloe Ann. True Selves: Understanding Transsexualism-For Families, Friends, Coworkers, and Helping Professionals. San Francisco: Jossey-Bass, 1996.
BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990. [Traduzido como: Problemas de gênero: feminismo e a subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.]
CAMERON, Deborah. Verbal Hygiene. Londres: Routledge, 1995.
CAMERON, Deborah. Feminist and Linguistic Theory. 2. ed. Basingstoke: Macmillan, 1992.
CONN, Canary. Canary: The Story of a Transsexual. Los Angeles: Nash, 1974.
CRAPANZANO, Vincent. “Self”-Centering Narratives. In: SILVERSTEIN, Michael; URBAN, Greg (ed.). Natural Histories of Discourse. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
CROMWELL, Jason. Talking About without Talking About: The Use of Protective Language among Transvestites and Transsexuals. In: LEAP, William. Beyond the Lavender Lexicon, Londres: Gordon and Breach, 1995, p. 267-296.
DALY, Mary. Gyn/Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. London: Women’s, 1979.
DEVOR, Holly. FTM: Female-to-Male Transsexuals in Society. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
ECKERT, Penelope; McCONNEL-GINET, Sally. Think Practically and Look Locally: Language and Gender as Community-Based Practice. Annual Review of Anthropology, n. 21, 1994, p. 461-490.
FEINBLOOM, Deborah H. Transvestites and Transsexuals. New York: Delacorte/Lawrence, 1976.
FOUCAULT, Michel. Herculine Barbin: Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century French Hermaphrodite. New York: Pantheon, 1980.
GARFINKEL, Harold Garfinkel. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1967.
GAUDIO, Rudolph P. Not Talking Straight in Hausa. In: LIVIA, Anna; HALL, Kira (ed.). Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. New York: Oxford University Press, 1997, p. 416-429.
GAUDIO, Rudolph P. Funny Muslims: Humor, Faith, and Gender Liminality in Hausa. In: WARNER et al. (ed.). Gender and Belief Systems, 1996, p. 261-267.
GREEN, James; SHARP, Nancy. Transgender Dialogue. FTM Newsletter, n. 36, 1997.
GRIGGS, Claudine. S/he: Changing Sex and Changing Clothes. Oxford: Berg, 1998.
GÜNZBURGER, Deborah. An Acoustic Analysis and Some Perceptual Data concerning Voice Change in Male-Female Transsexuals. European Journal of Disorders of Communication, n. 28, 1993, p. 13-21.
GÜNZBURGER, Deborah. Gender Adaptation in the Speech of Transsexuals: From Sex Transition to Gender Transmission? In: WARNER, Natasha et al. (ed.). Gender and Belief Systems: Proceedings of the Fourth Berkeley Women and Language Conference. Berkeley: Berkeley Women and Language Group, 1996.
HALL, Kira; O’DONOVAN, Veronica. Shifting Gender Positions among Hindi-Speaking Hijras. In: BERGVALL, Victoria L.; BING, Janet M.; FREED, Alice E. (ed.). Rethinking Language and Gender Research: Theory and Practice. London: Longman, 1996.
HALL, Kira. “Go Suck Your Husband’s Sugarcane!” Hijras and the Use of Sexual Insult. In: LIVIA, Anna; HALL, Kira (ed.). Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. New York: Oxford University Press, 1997.
JEFFREYS, Sheila. The Lesbian Heresy. Melbourne: Spinifex, 1993.
JOHNSON, Mark. Beauty and Power: Transgendering and Cultural Transformation in the Southern Philippines. Oxford: Berg, 1997.
KESSLER, Suzanne J.; McKENNA, Wendy. Gender: An Ethnomethodologial Approach. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
KNIGHT, H. Merle. Gender Interference in Transsexuals’ Speech. In: HALL, Kira; BUCHOLTZ, Mary; MOONWOMON, Birch (ed.). Locating Power: Proceedings of the Second Berkeley Women and Language Conference, v. 2. Berkeley: Berkeley Women and Language Group, 1992.
KULICK, Don. Travesti: Sex, Gender, and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes. Chicago: University of Chicago Press, 1998. [Traduzido como: Travestis: prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.]
KULICK, Don. Causing a Commotion: Scandal as Resistance among Brazilian Travesti Prostitutes. Anthropology Today, v. 12, n. 6, 1996, p. 3-7.
LAING, Alison. A Label by Any Other Name Might Stick, Transgender Tapestry, n. 74, 1995.
LAKOFF, Robin. Language and Woman’s Place. Nova Iorque: Harper and Row, 1975. [Traduzido como: “Linguagem e lugar da mulher”. In: OSTERMANN, Ana Cristina; FONTANA, Beatriz (org.). Linguagem, gênero, sexualidade: clássicos traduzidos. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
LIPPI-GREEN, Rosina. Accent, Standard Language Ideology, and Discriminatory Pretext in the Courts. Language in Society, n. 23, 1994, p. 163-198.
LIVIA, Anna. I Ought to Throw a Buick at You: Fictional Representations of Butch/ Femme Speech. In: HALL, Kira; BUCHOLTZ, Mary (ed.). Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self. New York: Routledge, 1995.
LIVIA, Anna. Disloyal to Masculinity: Linguistic Gender and Liminal Identity in French. In: LIVIA, Anna; HALL, Kira (ed.). Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. New York: Oxford University Press, 1997, p. 349-368.
MANALANSAN IV, Martin F. “Performing” the Filipino Gay Experiences in America: Linguistic Strategies in Transnational Context. In: LEAP, William (ed.). Beyond the Lavender Lexicon. Londres: Gordon and Breach, 1995, p. 249-266.
MARTINO, Mario; HARRIETT. Emergence: A Transsexual Autobiography. New York: Crown, 1977.
MORIEL, Liora. Diva in the Promised Land: A Blueprint for Newspeak?. World Englishes, n. 17, 1998.
MURRAY, Stephen O. Murray. Ritual and Personal Insults in Stigmatized Subcultures: Gay, Black, Jew. Maledicta, n. 7, 1983.
NEWTON, Esther. Mother Camp: Female Impersonators in America. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1972.
OATES, Jennifer M.; DACAKIS, Georgina. Voice, Speech, and Language Considerations in the Management of Male to Female Transsexualism. In: WALTERS, William A. W.; ROSS, Michael W. (ed.). Transsexualism and Sex Reassignment. Oxford: Oxford University Press, 1986.
OGAWA, Naoko; SMITH, Janet S. The Gendering of the Gay Male Sex Class in Japan: A Case Study Based on Rasen No Sobyo. In: LIVIA, Anna; HALL, Kira (ed.). Queerly Phrased: Language, Gender, and Sexuality. New York: Oxford University Press, 1997, p. 402-415.
O’KEEFE, Tracie; FOX, Katrina. Trans-X-U-All: The Naked Difference. London: Extraordinary People, 1997.
RAYMOND, Janice G. The Transsexual Empire: The Making of the She-Male. Londres: Women’s, 1980.
RICHARDS, Renée; AMES, John. Second Serve: The Renée Richards Story. New York: Stein and Day, 1983.
RUDES, Blair A.; HEALY, Bernard. IS She for Real? The Concepts of Femaleness and Maleness in the Gay World. In: MATHIOT, Madeleine (ed.). Ethnolinguistics: Boas, Sapir, and Whorf Revisited. The Hague: Mouton, 1979, p. 49-61.
SILVERSTEIN, Michael. Monoglot “Standard” in America: Standardization and Metaphors of Linguistic Hegemony. In: BRENNEIS, Donald; MACAULAY, Ronald K. S. (ed.). The Matrix of Language: Contemporary Linguistic Anthropoly. Boulder, Colo.: Westview, 1996, p. 284-306.
SÖDERPALM, Ewa. Transsexualism i ett logopediskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 1996.
STEVENS, Jennifer Anne. From Masculine to Feminine and All Points in Between: A Practical Guide. Cambridge, Mass.: Different Path, 1990.
STEWART, Kathleen C. Stewart. Backtalking the Wilderness: “Appalachian” Engenderings. In: GINSBURG, Faye; TSING, Anna Lowenhaupt (ed.). Uncertain Terms: Negotiating Gender in American Culture. Boston: Beacon, 1990.
STONE, Sandy. The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto. In: EPSTEIN, Julia; STRAUB, Kristina (ed.). Body Guards: The Cultural Politics of Gender Ambiguity. Londres: Routledge, 1991), 280-304. [Traduzido como: STONE, S. O Império contra-ataca: um manifesto pós-transexual. Revista Periódicus, n. 19, v. 2, 2023, p. 254–277.]
SULLIVAN, Lou. Information for the Female to Male Cross Dresser and Transsexual, 3. ed. Seattle: Ingersoll Gender Center, 1990.
TANNEN, Deborah Tannen, You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation. Nova Iorque: Ballantine, 1990. [Traduzido como: Você simplesmente não me entende. Santana de Parnaíba: Best Seller, 1990.]
THOMPSON, Raymond. What Took You So Long? A Girl’s Journey to Manhood. London: Penguin, 1995.
TROEMEL-PLOETZ, Senta. Selling the Apolitical. Discourse and Society, n. 2, 1991, p. 489-502.
VALENTINE, David; WILCHINS, Riki Anne. One Percent on the Burn Chart: Gender, Genitals, and Hermaphrodites with Attitude. Social Text, n. 52-53, 1997.
VALENTINE, David. We’re “Not about Gender”: The Uses of “Transgender”. In: LEAP, William L.; LEWIN, Ellen (ed.). Out in Theory: The Emergence of Lesbian and Gay Anthropology. Illinois: Illinois University Press, 2022, p. 222-245.
VERA, Veronica. Miss Vera’s Finishing School for Boys Who Want to Be Girls. Nova Iorque: Doubleday, 1997.
WHITE, C. Todd. On the Pragmatics of an Androgynous Style of Speaking (from a Transsexual’s Perspective). World Englishes, n. 17, 1998, p. 215-223.
WILCHINS, Riki Anne. Read My Lips: Sexual Subversion and the End of Gender. Ithaca: Firebrand, 1997, p. 59-62.
WILCHINS, Riki Anne. What’s in a Name: The Politics of Gender Speak. Transgender Tapestry, n. 74, 1995.
Data de Recebimento: 27/03/2025
Data de Aprovação: 23/05/2025
1 Este ensaio somente considera materiais já publicados. Eu incluo referências aos ensaios de anais de conferências não tão acessíveis somente quando tais ensaios comentam ou discutem dados que eu não vi em publicações.
2 É claro que vieram antes de Raymond: Harold Garfinkel (1967), Esther Newton (1972) e Suzanne J. Kessler e Wendy McKenna (1978).
3 Uma nota para não-linguistas: o livro de Lakoff, que é amplamente reconhecido como inaugural do campo de língua e gênero, é um catálogo de observações sobre a “linguagem das mulheres”. As observações não são baseadas em observações empíricas, mas na introspecção de Lakoff sobre como ela e suas conhecidas falavam. Lakoff foca diferenças vistas por ela na linguagem de homens e mulheres para argumentar que a afirmação social de uma feminilidade adequada é paga, pelas garotas e mulheres, com a moeda da fala não-assertiva (unassertive speech). As mulheres têm de aprender a “linguagem das mulheres” se desejarem receber aprovação ou confirmação de si mesmas como femininas. Contudo, a linguagem prevê que as mulheres se tornem comunicadoras efetivas, porque espera-se que elas falem como subordinadas sem poder. Nesse sentido, a “linguagem das mulheres” disfarça, naturaliza e consolida o maior poder dos homens na sociedade. Como Lakoff, a Tannen é uma linguista bem-sucedida e respeitada. Você simplesmente não me entende, contudo, é um livro desenhado para um mercado popular, um que se caracteriza pelo gênero de literatura de autoajuda. O livro argumenta que homens e mulheres falam, fundamentalmente, línguas diferentes, porque eles são segregados durante os anos de formação da infância. Ao invés de destacar o desequilíbrio no poder entre homens e mulheres, como faz Lakoff, Tannen chama seus leitores a entenderem as diferenças entre a linguagem de homens e mulheres e a serem mais tolerantes a elas. Ainda que muitas de suas observações tenham sido importantes, os livros de Lakoff e de Tannen têm sido repetidamente criticados por reduzir processos interacionais complexos a listas de traços baseados no gênero, por fazer uma generalização a partir de um conjunto extremamente limitado de dados, por trabalhar com entendimentos rasos sobre gênero e por involuntariamente prescrever (ao invés de simplesmente descrever) padrões de fala generificada. Cf. também: Cameron (1992, 1995), Eckert e McConnel-Ginet (1994), Troemel-Ploetz (1991).
4 Comparar com o conselho dado a mulheres que participavam de workshops de “Drag-king por um dia”, em que o instrutor diz para as mulheres (com “uma voz grave de comando, autoritária”) que elas deveriam “falar devagar: levar todo o tempo do mundo, falar baixo e com poucas palavras” (Shannon Bell, 1993, p. 92).
5 Eu agradeço à Ann Kroon por ter me indicado isso.
6 Poderíamos perguntar em que sentido Barbin pode ser considerado(a) “transgênero” e, de fato, o que esse termo significa em primeiro lugar. Não seria Foucault o primeiro a insistir em uma contextualização histórica e política do termo e não se oporia ele, vigorosamente, a Barbin ser arrastada(o) na rabeira desse movimento discursivo? Deixe-me apontar, portanto, que, ao longo deste ensaio, eu utilizo transgênero (transgender) como um termo guarda-chuva que inclui “todas as pessoas que se travestem (cross-dress)” (Bolin, 1998, p. 78) [o termo atualmente contempla as identidades de gênero não-cisgêneras]. Língua transgênera é uma simplificação para “diferentes tipos de língua usados em diferentes contextos por diferentes tipos de pessoas gênero-variantes”. Eu estou completamente a par das dificuldades de empregar transgênero (ou qualquer outro termo) ao escopo das subjetividades e comportamentos gênero-variantes discutidos na pesquisa que eu sumarizo neste ensaio. Contudo, meu propósito não é interrogar as especificidades culturais e históricas do termo tampouco problematizar o modo como um ensaio deste teor, de fato, faz um trabalho discursivo particular e cria os mesmos objetos sobre os quais fala (i.e., “sujeitos transgêneros”). Pelo menos uma tese de doutorado está sendo atualmente escrita sobre a história, semiótica e pragmática de transgêneros, e eu recomendo sua leitura ao leitor interessado (Valentine, no prelo) [aparentemente, um desdobramento da pesquisa foi publicado com o nome de Imagining Transgender: An Ethnography of an Category, 2007]. Ver também: Valentine (2002).
7 Estranhamente, a análise de Crapanzano do memorial de Barbin não considera os usos de gênero gramatical ao longo do texto (cf. Livia, 1997, p. 349-368). Para um breve apontamento sobre a questão, ver Foucault (1980, p. xiii).
8 Eu não gravei nenhum escândalo de travesti em Salvador. Contudo, minhas observações indicam que clientes envolvidos em um escândalo tendem a reagir, permanecendo em silêncio e tentando se distanciar, o mais rápido possível, da cena do escândalo. É interessante comparar a falta de linguagem desses homens transgêneros com os argumentos de Crapanzano sobre a perda de gênero que acompanhou a reclassificação de Barbin como homem.
9 Cf. uma afirmação igualmente incontestável por Hall e O’Donovan de que a fala das hijras “subvertem” o sistema de gênero do hindi (1996, p. 258). Para uma análise da Dana International que discuta como suas letras de música também zombam e transgridem o nacionalismo israelense, cf. Ben-Zvi (1998, p. 26-28).
10 Embora Marty Gomez, a vendedora transexual analisada no ensaio de White “On the Pragmatics of an Androgynous Style of Speaking (from a Transexual’s Perspective)”, não performe no palco de uma casa noturna, o aspecto linguístico que abordo neste ensaio ocorreu quando Gomez tentou atrair transeuntes para sua cabine de fotografia para tirar fotos deles e fazê-los comprá-las. As interações ocorreram em um shopping movimentado, e Gomez falava em um microfone, frequentemente à frente de “uma audiência de 30 ou mais pessoas” (White, 1998, p. 218). Para exemplos de trabalhos que examinam a língua em contextos informais, cf. Gaudio (1996) e Kulick (1996, 1998).
11 A obra de William Leap contém ressalvas e avisos evidenciando que ele está consciente de que não está somente descrevendo um tipo particular de comportamento linguístico usado em algumas circunstâncias por um grupo particular de homens gays (nomeadamente, brancos, profissionais de classe-média que moravam, em sua maioria, em Washington, D.C.). Por essa consciência e tendo em vista uma década de teorização queer que questionou fortemente a coerência política, epistemológica e mesmo ontológica de um termo como gay, é difícil entender por que Leap insiste em chamar o que ele estuda de “Inglês Gay” (com iniciais maiúsculas). A poderosa crítica recente a rótulos genéricos, homogeneizantes como “língua dos homens” e “língua das mulheres” (e.g., Cameron, 1985; Eckert; McConnel-Ginet, 1992) deve ser suficiente para fazer com que qualquer linguista pegue o alho e saque o crucifixo sempre que termos desse tipo sejam sugeridos.