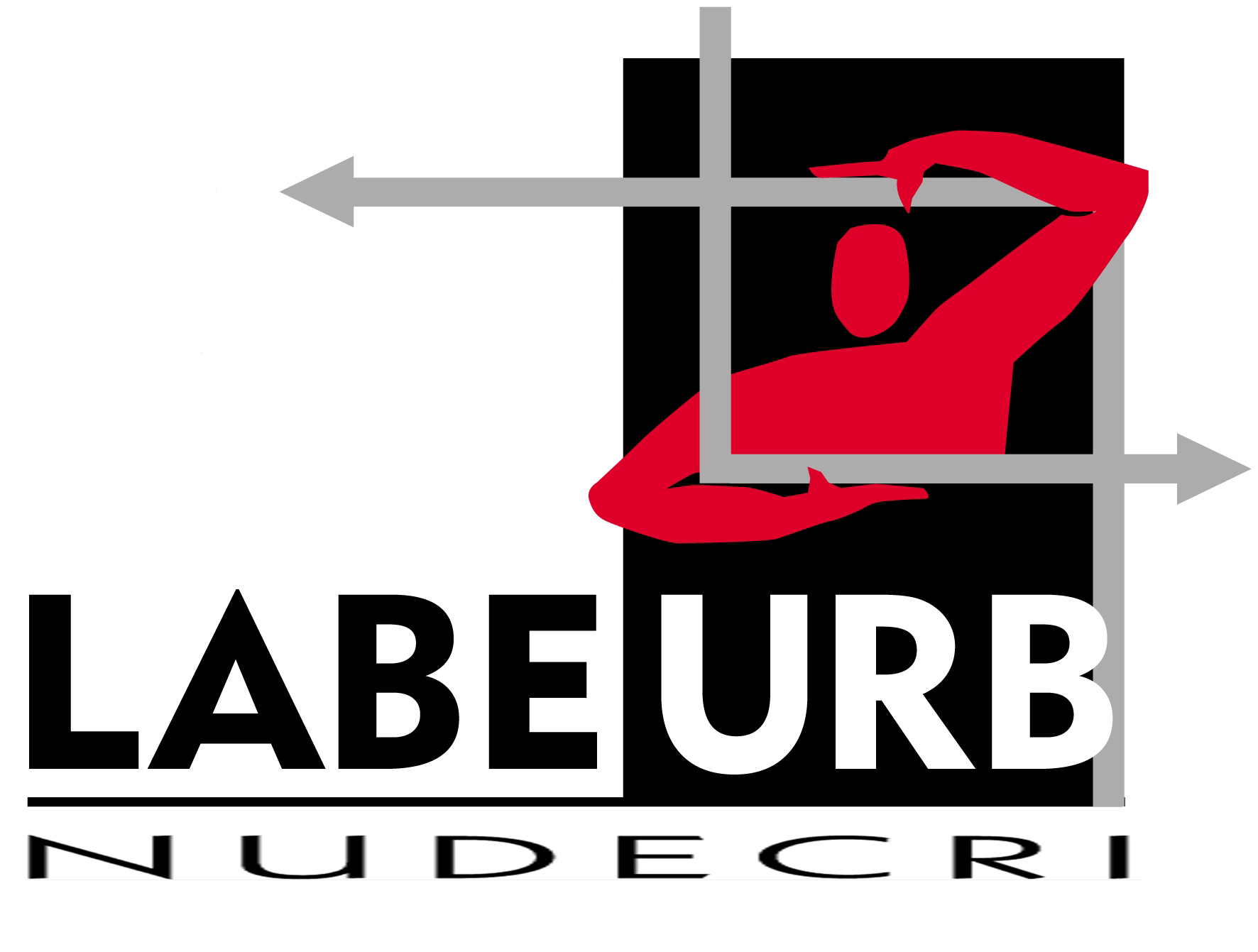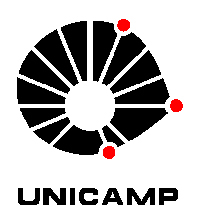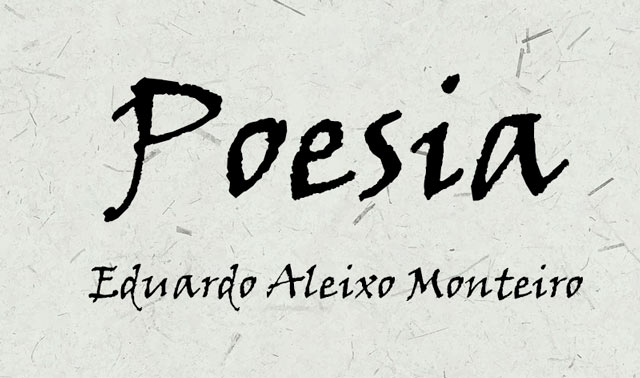Cartografias [des]veladas: Situações de residualidade urbana. O caso do Morro do Castelo


Fernando Espósito Galarce
Federica Linares
“[sobre espaço residual:] uma área onde a aplicação é suspensa,
mas onde a lei, enquanto tal, permanece em vigor”
Giorgio Agamben
O acordo da exceção
A cidade, enquanto espaço habitado, sempre será produto da memória que ela estimula sobre os indivíduos; “a cidade é o locus da memória coletiva”, afirma Rossi (2001). Porém, assim como qualquer outro sistema em rede, a narrativa urbana também está sujeita a eventuais “falhas” de processamento de dados. O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre essa situação-problema, uma categoria de espaço produto, não de memória, mas de ausência de memória. Trata-se do locus das situações indesejadas que forçadamente nos obrigamos a esquecer por estarem associadas ao abandono, à marginalidade, mas, sobretudo, a um histórico de memórias repulsivas e a estigmas sociais. Lugares que enterramos no mais profundo do nosso inconsciente e que só lembramos quando somos confrontados com situações urbanas de desconforto e desorientação. Lugares “aparentemente esquecidos, onde parece predominar a memória do passado sobre o presente (...) nos que somente certos valores residuais parecem se manter” (SOLÀ-MORALES, 2002, p. 127, tradução nossa).
São o que podemos chamar de “espaços residuais”, territórios em “estado de exceção” (AGAMBEN, 2004), sítios onde as práticas não recomendadas são excepcionalmente permitidas por necessidade pública. Zonas de tolerância que a cidade mantém, dentro de seus limites, para satisfazer desejos que a legalidade é incapaz de fornecer. Lugares que fazem parte de uma rede política de acordos firmados entre duas oposições e que permanece velada para não comprometer o funcionamento do sistema. São lugares como o beco escuro, o baixo viaduto, a praça abandonada, a favela, a rua sem saída e tantos outros que a “cidade dos normais” frequenta, diariamente, mas se nega a reconhecer.
Apesar dessas incongruências espaciais serem características de todo espaço habitado, algumas áreas do Rio de Janeiro ressaltam especialmente. O contato com o marginalizado é tão diário que se torna quase obrigatório. Não à toa Richard Sennett se refere às cidades como “um assentamento humano em que estranhos têm chance de se encontrar” (1978, p. 39. Apud: BAUMAN, 2001, p. 121). A privatização das áreas comuns de condomínios e a decadência das praças públicas da cidade não deixa de ser um reflexo disso. São alguns dos mecanismos de defesa contemporâneos contra a aversão de interagir com o outro, com o diferente.
O problema é que ao saber disso, o simples sair de casa se torna quase um consentimento à marginalidade e as narrativas urbanas passam a sustentar uma sensação contraditória de “insegurança cotidiana”. São situações que, apesar de fazerem parte da rotina urbana, são estigmatizadas como falhas do sistema. Damos dinheiro para o mendigo que dorme na calçada; compramos uma bala do menino no sinal; pagamos para o senhor do camelô consertar nosso celular; vamos até a Alfândega para pagar mais barato pela fantasia do carnaval. E pronto, acabamos estabelecendo uma rede paralela em que a relação com o ilegal é involuntariamente tolerada. É quase um código de conduta carioca: estabelecemos uma relação de tolerância contra o estigmatizado para garantir que a lógica urbana continue funcionando. É claro que tais práticas por si só não denotam algo negativo. A questão é a contradição que sustentam: por vezes, observamos que os sujeitos desta relação são tratados de maneira depreciativa, porém, outras, como nos casos apontados acima, não.
Nicolás Leyva (2017), em seu artigo Estado de excepción, el barrio de Santafé de la ciudad de Bogotá, compara o bairro de Santafé com um “estado de exceção”, dizendo que o bairro funciona como um prestador de serviços ilícitos da cidade de Bogotá, em especial, por possuir três componentes: o Cemitério Central; a Zona de Tolerância (área de prostituição); o Museu Exposição El Hombre (coleção de fetos com malformação). Três lugares que representam uma presença incômoda na cidade, mas que são inconformadamente mantidos para benefício da própria imagem. Para ele, essas relações omitidas e não-oficiais experimentadas em zonas como essa, representam mitos urbanos facilmente comparadas com a animação “Shrek” (2001), sobretudo porque trabalham sobre a ideia inquietante da convivência entre o rejeitado e o aceito, neste caso entre “pântanos” e “terras do senhorio”, dentro de um mesmo contexto.
Hace un par de meses, cuando miraba por la ventana de mi habitación, vi pasar un ‘habitante de calle’ un poco malhumorado, arrancando las hojas de las plantas que se cruzaban en su camino e insultando al aire. De imediato pensé: es un Shrek (...) Pero cuando pensaba en como escribir este texto, no pensé tanto en Shrek como en su pantano. En cómo este se produjo y perpetuó (LEYVA, 2017, p. 193).
A história se desenvolve num reino chamado “Tão Tão Distante”. Em especial, num lugar meio isolado, um pântano. Um baldio onde ninguém nunca jamais pensou em viver. Nesse sítio desdenhado vive o personagem principal, um ogro chamado Shrek (Fig. 1). Livre das leis de Farquaad, o rei de Tão Tão Distante, o pântano vira um lugar de liberdade onde Shrek consegue viver sob suas próprias regras. Isso até o momento que o Farquaad decide caçar todas as criaturas mágicas de seus domínios e elas fogem para o único lugar em que a sua soberania parece não vingar, o pântano de Shrek. Incomodado com os novos visitantes e ciente de sua incapacidade de expulsar a todos, o ogro não vê outra alternativa senão negociar com o próprio senhor das terras. O soberano, instintivamente, nega qualquer contato com ele, tentando, inclusive, assassiná-lo. Porém, com o seu fracasso, ambos acabam chegando a um acordo, com o Shrek prestando um serviço ao reino de Farquaad eliminando todas as criaturas que invadiram suas terras.
Figura 1. Cena do filme Shrek. Fonte: Dreamworks, 2001.
A partir da animação, percebemos a existência de lugares e personagens da cidade nitidamente “afastados”, mas que permanecem completamente internos ao sistema por uma simples questão de boa vizinhança. E que acordos firmados entre essas duas forças são fundamentais para garantir o funcionamento urbano. Dessa forma, podemos dizer que os múltiplos “pântanos” e respectivos “Shreks” são condição de existência de todo ou qualquer espaço socialmente organizado. De fato, ao fazer o paralelo com o Rio de Janeiro, a situação não fica muito diferente. Só que agora, certamente, a classificação indicativa é outra. A “criatura” que deve ser evitada não é mais um ogro que “caminha sem roupa ao léu, pesca a base de flatulências e acende o fogo com arrotos” (LEYVA, 2017, p. 188, tradução nossa). O novo “outro” da paranoia, dos condomínios privados e das seguranças 24 horas é o assaltante, o pixador, o mendigo, o favelado, o ambulante e muitos outros que vemos, mas não enxergamos (toleramos), vagando, por aí, nas ruas das nossas cidades.
No entanto, sabemos que nenhum Farquaad, ou outro soberano, com poder equivalente, ousaria reconhecer tais “patologias urbanas” dentro de seus domínios de extrema perfeição, uma vez que isso implicaria a perda da sua legitimidade como ordem dominante e protetora. Portanto, é importante reforçar que a interação entre essas duas antagônicas se baseia, estritamente, em negociações veladas, onde a parte “legitima” se propõe a relegar uma zona de tolerância (os espaços fora da lei estariam excepcionalmente dentro da lei, em sentido de Agamben), e outra a fornecer serviços que o reino necessita, mas que, por incompatibilidade, é incapaz de financiar ou aceitar. Assim, arriscaria dizer que a animação “Shrek” analisada por Leyva representa uma alegoria da residualidade contemporânea, um mito dos sujeitos estigmatizados e dos espaços precariamente resignados a eles. Sobretudo se situados na “Cidade maravilhosa” (FILHO, 1935), que assim com “Tão Tão Distante”, certamente também possui seus “pântanos”.
O encontro e o desencontro
A condição de “pântano”, abordada por Leyva através da analogia de Santafé e o filme, representa certamente um produto social dessas forças antagônicas que disputam um mesmo território. Dessa forma, fica claro que para tratar de espaço residual, é necessário, em primeiro lugar, se referir às pessoas que nele habitam. A residualidade não passa de uma denominação social para espaços considerados “ruins” dentro da cidade. No entanto, é difícil definir o conceito, uma vez que depende, entre outras coisas, do julgamento daqueles que transitam nesses espaços. Trata-se claramente de uma categoria baseada em critérios subjetivos e de gosto. Mas a questão é: se esses espaços não possuem uma definição clara e reconhecível, o que possuem de tão repugnante para serem taxados abertamente como “lugares para onde não ir”?
A primeira dedução, desde um ponto de vista dos usos e presenças nesses espaços, é que eles se tornam residuais quando frequentados por pessoas estigmatizadas. Dessa forma, estudar a relação entre os “normais” e “estranhos” que Goffman (1975) e outros autores introduzem em suas pesquisas surge como um recurso relevante da observação da residualidade espacial e, agora, social. Neste ponto, resulta importante destacar que, mesmo não sendo uma prerrogativa, o espaço residual começa a ser tratado de uma forma negativa, uma vez que estabelece uma relação entre residualidade espacial e estigmatização social. Daí, se define, claramente, a condição de “lugares para não ir”, antes mencionada. Porém, deve-se ressaltar que a residualidade não necessariamente deve ser assumida com esse apelo. A intenção da discussão é problematizar algumas realidades presentes no espaço público que surgem como produto dessa estigmatização sócio-espacial.
Goffman (1975) afirma que a estigmatização do outro prescreve qualquer encontro social no espaço. São as “interações incongruentes” que promoveriam o descrédito social e consequentemente do espaço também. O mito grego de Procusto oferece uma primeira aproximação, bastante nítida, do que é, em essência, esse ato estigmatizador.
Procusto era um ser que vivia na serra de Elêusis, na Grécia. Seu passatempo era convidar todos os viajantes que por ali passavam a experimentar sua cama, feita com suas próprias medidas. Porém, sempre que alguém se deitava nela, seu corpo parecia não encaixar na escala. O visitante sempre era muito grande ou muito pequeno. A criatura, então, intervinha corrigindo os desvios de proporção. Quando o visitante era demasiadamente alto, ele amputava o excesso, se fossem baixos, por sua vez, eles eram esticados até atingirem o comprimento ideal. O que ninguém sabia, entretanto, era que Procusto guardava, em segredo, dois tamanhos de cama.
Evidentemente, o corpo do estrangeiro nunca terá as medidas adequadas sob o leito de Procusto. Isso porque não é uma questão de proporções mais ou menos estranhas, mas, propriamente, de encontros, ou, nas palavras de Bauman (2001, p. 121), de “desencontros” (se formos assumir a qualidade não-desejável do instante). A noção de normalidade pregada no mito, através da metáfora da cama, corresponde a uma visão restrita de mundo que, por tabela, condena qualquer normalidade alheia que venha a ser confrontada. Nesse sentido, entende-se que o estranhamento do outro, diferente, não pode ser evitado, é um efeito colateral da estrutura de sociedade, suscetível a qualquer espaço habitado.
É exatamente esse instante de estranhamento que para Goffman define todo o processo de estigmatização. Já dizia ele que “normais e estigmatizados são perspectivas que são geradas em situações sociais durante os contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas que provavelmente atuam sobre o encontro” (GOFFMAN, 1975, p. 148, Apud: SIQUEIRA, CARDOSO, 2011, p. 95). O que se observa, portanto, é que cada indivíduo, confinado a uma circunstância social, projeta, no outro, “expectativas normativas” (influências culturais referentes a sua experiência no mundo) que, durante o contato, ao não serem atendidas, geram uma frustração acompanhada de um estranhamento. Essa sensação desfamiliar, repetida inúmeras vezes, automatiza a rejeição do estigma e impossibilita a avaliação crítica da situação experimentada.
No entanto, “o processo de estigmatização não ocorre devido à existência do atributo em si, mas, pela relação incongruente entre os atributos e os estereótipos.” (SIQUEIRA, CARDOSO, 2011, p. 94). Na verdade, é a falta de uma característica “normal” que faz o estigma ser, propriamente, um “desvio da norma”, o que reforça a dificuldade de definir a aparência do “atributo depreciativo” (GOFFMAN, 1975, p. 13, Apud: SIQUEIRA, CARDOSO, 2011, p. 94). O estigma se define como algo que não corresponde ao repertório normativo do contexto da situação. É o oposto daquilo, socialmente, considerado como “normal”. O processo, em si, é totalmente baseado no juízo de valor da sociedade que condena todos aqueles que não se encaixam nos padrões sociais estabelecidos.
A partir disso, fica claro que o mito de Procusto não passa de mais uma alegoria urbana que, assim como “Shrek”, facilmente se insere na lógica contemporânea. A ideia de um “normalizador” que descarta incongruências físicas por estarem “fora do padrão”, apesar de ambientar uma situação um tanto absurda, não se afasta muito da realidade de segregação social existente na capital carioca. As periferias e seus respectivos ocupantes são excluídos diariamente e sem nenhum escrúpulo do imaginário coletivo urbano. De fato, a relação com o outro se torna extremamente excludente, quando vista em escala urbana. Tais espaços permanecem dentro da cidade, mas claramente, não fazem mais parte dela (BAUMAN, 2001, p. 126).
No entanto, é necessário dizer que o status quo levantado pela alegoria não impede que os “normais” assumam políticas de “tolerância”, que se não evitam, no mínimo “dosam” o contato indesejável. Dessa forma, apesar de conviverem com o outro, não são obrigados a lidar diretamente. O que nos faz pensar que o indivíduo marcado pelo estigma nunca será incluído totalmente na sociedade. “Destarte, uma pessoa dentro de uma categoria da qual ela não é esperada pode ser tolerada, mas não aceita totalmente.” (SIQUEIRA, CARDOSO, 2011, p. 96). Dessa forma, podemos imaginar que muitos espaços na cidade são invisibilizados e excluídos das “rotas oficiais” exatamente por serem os locais mais recorrentes desse tipo de ocupação.
Os encontros, inevitáveis num espaço lotado, interferem com o propósito. Precisam ser breves e superficiais: não mais longos nem mais profundos do que o autor os deseja. O templo (...) bem-supervisionado, apropriadamente vigiado e guardado é uma ilha de ordem; livre de mendigo, desocupados, assaltantes e traficantes (...) (BAUMAN, 2001, p. 125).
Dessa forma, percebemos que a prática da precarização social envolve uma fonte, mas, sobretudo, uma circunstância, um contexto. Visto isso, podemos dizer que os atributos “normais” estão suscetíveis a indefinidas alterações descritivas dependentes das variações do contexto histórico em que estão inseridos. Alguns estigmas podem perdurar por séculos, enquanto outros, por um período menor. Segundo Ainlay, Coleman & Becker (1986, apud SIQUEIRA, CARDOSO, 2011, P.95), o conceito de estigma é uma construção social onde a característica pela qual determinadas pessoas são desqualificadas varia, dependendo do momento histórico e a cultura. Dessa forma, as pessoas são estigmatizadas somente num determinado contexto cultural, histórico, político, social, econômico. “Ou seja, a estigmatização não é propriedade individual” (SIQUEIRA, CARDOSO, 2011, p. 95), o que torna o entendimento do processo muito mais complexo.
Estas relações espaciais e sociais podem ser observadas na história do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro: cidade lapidada
Percebe-se, assim, que o contexto histórico de formação do Rio de Janeiro tem um papel fundamental no processo de estigmatização social da cidade. No entanto, se tratando de um estudo inserido no campo da arquitetura, nos interessa, sobretudo, entender as interferências dessas dinâmicas de segregação no espaço habitado. Dito isso, é relevante traçarmos um panorama, mesmo que breve, dos planos urbanos implementados na cidade que influenciaram a condição atual. Assim, acreditamos que será possível mostrar as estratégias historicamente adotadas diante do encontro inevitável entre “normais e estranhos” e, posteriormente, entender melhor as dinâmicas da residualidade e, sobretudo, como ela se expressa e se espacializa.
No Rio de Janeiro, antes mesmo da primeira reforma urbana, já era possível ver as influências da estigmatização na composição dos espaços. A casa grande e a senzala, por exemplo, são, claramente, estratégias implementadas para evitar o contato prolongado com os outros, sem, obviamente, prescindir dos serviços por eles prestados. Dessa forma, o que observamos é que, apesar da convivência num mesmo perímetro, demarcações restritivas de fluxos e permanências garantiam que os “encontros indesejáveis” fossem relevados e, finalmente, “tolerados” pela sociedade.
No entanto, apesar da distinção rígida das partes, isso não impedia que se estabelecessem relações “não-oficiais” entre ambos, assumindo o que Freyre (2003, p.13) chama de “moral permissiva”. Sabe-se que muitos senhores, durante as noites, iam até a senzala para deitar-se com as escravas. Tais negras, por outro lado, passavam a ganhar privilégios dentro da hierarquia social, principalmente quando carregavam um filho do senhor. A prática foi tão recorrente que acabou definindo a formação da sociedade brasileira extremamente miscigenada. Essas considerações nos levam a pensar que o estigma não inibe, propriamente, o contato, mas precisa de um incentivo maior para que aconteça, como, por exemplo, um serviço prestado.
Vencedores no sentido militar e técnico sobre as populações indígenas; dominadores absolutos dos negros importados da África para o duro trabalho da bagaceira, os europeus e seus descendentes tiveram, entretanto, de transigir com índios e africanos quanto às relações genéticas e sociais (FREYRE, 2003, p. 16).
Na sociedade pós-abolicionista, não foi diferente. Apesar do negro já gozar de liberdade, o estigma ainda prevalecia. A cidade só precisou fazer uns ajustes para continuar a invisibilizá-lo. E a topografia do Rio de Janeiro foi extremamente facilitadora. Bastou desertar os ex-escravos para os lugares que a cidade não frequentava; as cotas dos morros. “Os que descem na escala da vida, vão morar para o alto…” (MOTTA, 1992, p. 55. Apud: MENEZ, 2014, p. 70). Dessa forma, garantiu-se que a massa trabalhadora permanecesse perto dos núcleos urbanos, ao mesmo tempo que se restringia sua visibilidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1896, os ex-escravos sob a promessa de títulos de terras entraram na guerra de Canudos[1] (combate entre o exército brasileiro e um movimento popular de fundo sociorreligioso, no interior da Bahia), e no final do conflito, ao não receberem as terras oferecidas, não tiveram outra opção, senão, no morro da Providência, assentar a sua primeira comunidade, originando, assim, a primeira favela do Rio de Janeiro.
Com o insistente descaso das políticas públicas, o problema da falta de moradia cresceu e as favelas acabaram se tornando parte da paisagem dos centros urbanos do Rio de Janeiro. A cidade, que até então ignorava a existência desses “desvios”, começou a se sentir incomodada. O que antes era visto como um facilitador de mão de obra passou a ser uma ameaça ao prestígio da elite abastada, que se viu na necessidade de tomar “medidas de contenção”. No fim do século XlX, o discurso do “problema sanitário” começou a ganhar destaque e soluções de reforma urbana foram implementadas. É claro que, na verdade, não passava de uma política para evitar o encontro das classes sociais. “Era o medo branco, manifestado diante das possibilidades de alargamento do espaço (político e geográfico) da população afro-brasileira’” (NEDER, 1997, p. 110. Apud: MENEZ, 2014, p. 72).
A reforma de Passos alterou profundamente esta relação, tendo como um de seus objetivos separar esses espaços, tanto para controlar o seu uso como para separar as classes sociais. Para tal, o desejo de separar os usos e as classes, delegou os bairros do centro para a produção e circulação, os novos bairros da zona sul para os ricos e os novos bairros do subúrbio para os pobres (PAIXÃO, 2008, p. 35. Apud: MENEZ, 2014, p. 72).
Veio então a ideia de destruir o morro. Assim, um “... inquérito efetuado por três médicos e apresentado ao Senado da Câmara, no final do século XVIII, serviu de base para que o bispo Azeredo Coutinho, no início do século seguinte, apresentasse um relatório indicando a necessidade de demolir...” (MOTTA, 1992, p.55. Apud: MENEZ, 2014: 71). Começou com o Morro do Castelo, que apesar de ter sido ponto de fundação da cidade do Rio de Janeiro, nada impediu que fosse completamente destruído. E isso, certamente, foi movido pela aversão da classe abastada aos pobres que não tinham moradia na parte plana da cidade. As camadas detentoras do poder econômico começavam a acreditar que era preciso transformar a capital em uma cidade limpa e moderna e para isso deveria se desfazer daquilo que retardavam o seu progresso. “O morro do Castelo era visto como um atraso para o Brasil, este que devia se modernizar para finalmente entrar na seleta categoria de nações civilizadas.” (MENEZ, 2014: 73).
Figura 2. Moradores do Morro do Castelo.
Fonte: https://diariodorio.com/historia-do-morro-do-castelo/
Vêm de longa data os comentários de que o morro do Castelo estaria atrapalhando o bom desempenho e o crescimento urbano do Rio de Janeiro. A começar, em 1798, foi elaborado, pelo Senado da Câmara, um questionário acerca da situação sanitária da cidade, a fim de investigar as causas e possíveis soluções sobre as doenças endêmicas e epidêmicas existentes. Respondido por três médicos portugueses, Manoel Joaquim Marreiros, Bernardino Antônio Gomes e Antonio Joaquim de Medeiros, o seu resultado condenou os morros da cidade, dizendo-os responsáveis pela má circulação do ar e consequentemente pela permanência dos miasmas, agravando as péssimas condições de saúde em que o Rio de Janeiro se encontrava (PAIXÃO, 2008, p. 30. Apud: MENEZ, 2014, p. 71).
Ao passo que iam destruindo os morros, aterros eram construídos e a cidade ia sendo lapidada. Questões sociais se tornaram, evidentemente, os parâmetros de urbanização da nova reforma. Tais operações passaram a categorizar os espaços a partir de demarcações zonais no território (manchas de áreas) e de definições das rotas de transporte (no caso, de bonde e trem), garantindo, assim, a separação de classes. É um dos primeiros momentos, no território carioca, que os desvios para evitar o “encontro” passam a ganhar estrutura urbana. Dessa forma, podemos entender que muitos estigmas territoriais estão consolidados, hoje, por terem sido, de certa forma, a matriz construtiva da malha da cidade do Rio de Janeiro.
Cartografias do estigma
Essas operações contraditórias podem ser vistas como uma interferência do convívio entre o “normal” e o “estranho” no espaço. De fato, parece o máximo da utopia da normalidade. Uma cidade que, facilmente, se desfaz dos espaços indesejados para construir belos bulevares no litoral. Porém, isso de fato aconteceu e definiu violentamente a paisagem do Rio de Janeiro. O valor histórico do morro do Castelo, associado à fundação da cidade, foi totalmente ignorado porque o estigma da precariedade era, ironicamente, mais importante. O medo do outro, sem dúvida, tem a capacidade de despertar o mais assustador dos “politicamente corretos”, o que nos faz questionar a reversibilidade desses papéis que se dizem tão antagônicos.
Essa “i-lógica política revela a questão da residualidade como um processo totalmente a mercê de dinâmicas de “des-re-territorialização” (HAESBAERT, 2014). Uma imprevisibilidade de ações sobre a superfície que a qualquer momento podem se inverter. O problema é que essas inversões, inseridas no mundo contemporâneo, acabam se tornando consideravelmente mais frequentes. É o que podemos ver, por exemplo, no caso dos teleféricos construídos em algumas favelas brasileiras, em que o contexto pré-olimpíadas reverteu, rapidamente, a lógica de lugar de “periferia” para lugar de “atração turística”.
Assim, a cidade do Rio de Janeiro passa a experimentar uma sobreposição de territórios (multiterritorialidade) que, ao crescerem desordenadamente, compõem um cenário de contrastes geométricos cada vez mais evidenciados (HAESBAERT, 2014, p. 104), o que reforça as desigualdades econômicas e sociais dos distintos grupos urbanos (sobretudo quando as incongruências sócio-espaciais se estabelecem na topografia). Claramente a discussão trata de concepções muito mais dinâmicas do que fixas.
O grande dilema que se coloca, é que essa composição aglomerada de agentes normais e anormais presume uma complexidade de limites e fronteiras, consideravelmente mais rígidas (não, necessariamente, no sentido físico), mas totalmente sujeitas a possíveis inversões qualitativas. Dessa forma, fica claro que o mapeamento dos espaços e sua respectiva categorização é totalmente relativa à experiência do transeunte que caminha naquele instante e espaço. Acreditamos que assim como aspectos sociais, históricos e políticos, questões urbanas de orientação e leitura do espaço também influenciam no processo da residualidade, sobretudo em uma cidade em que os contrastes estão atenuados e o encontro com o outro é quase obrigatório. Assim, é necessário falar sobre essas características urbanas que não nos lembramos de mapear, mas que definem, claramente, os lugares que podemos ou não transitar.
Bauman, em seu livro “Modernidade Líquida” (2001), relata uma dessas situações urbanas em que a incompatibilidade de mapeamentos e a realidade vivida é evidenciada. Ele conta que em uma de suas viagens de conferências, ao sair do aeroporto, foi recebido por uma jovem profissional, de alta escolaridade e família rica. A moça se desculpou porque não poderia evitar que a viagem até o hotel fosse demorada, uma vez que teria que passar por avenidas movimentadas de tráfego intenso. Demoraram quase duas horas. Na volta, a guia se ofereceu para levá-lo ao aeroporto, mas sabendo de quão cansativo seria, agradeceu e disse que pegaria um táxi. Para sua surpresa, a viagem, desta vez, demorou menos de dez minutos.
(...) o motorista foi por fileiras de barracos pobres, decadentes e esquecidos, cheios de pessoas rudes e evidentemente desocupadas e crianças sujas vestindo farrapos. A ênfase de minha guia em que não havia como evitar o tráfego do centro da cidade não era mentira. Era sincera e adequada a seu mapa mental da cidade em que tinha nascido e onde sempre vivera. Esse mapa não registrava as ruas dos feios “distritos perigosos”, pelas quais o táxi me levou. No mapa mental de minha guia, no lugar em que essas ruas deveriam ter sido projetadas havia, pura e simplesmente, um espaço vazio (BAUMAN, 2001, p. 132).
O relato nos mostra como o mapeamento está à mercê das nossas experiências pessoais na cidade. Cada indivíduo elabora seu mapa mental e, inevitavelmente, acaba estabelecendo espaços “em branco” ou “vazios”, os que são excluídos por estarem associados a uma memória ausente desses lugares, sendo muitas delas injustificadas ou produto de preconceitos induzidos. “O vazio do lugar está no olho de quem vê e nas pernas ou rodas de quem anda.” (BAUMAN, 2001, p. 132). Dessa forma, percebe-se como a nossa orientação na cidade se define, principalmente, pelos espaços que achamos que devemos evitar.
São mapas que respondem a influências individuais, mas, sobretudo, a estímulos externos de estereótipos sociais. Os atributos desviantes são reflexos de manifestações culturais e políticas que durante os contatos mistos transferem suas qualidades do corpo ao chão. São deduções simples como; “o bom moço vive no condomínio e o marginal vive no morro”, que moldam os nossos percursos pela cidade. De fato, “(...) não há como definir o indivíduo, o grupo, a comunidade, sem ao mesmo tempo inseri-los num determinado contexto geográfico, ‘territorial’.” (HAESBAERT, 2016, p. 20). E é por isso que nos é tão natural associar pessoas a lugares e, consequentemente, seus estigmas a eles. O espaço passa a ser visto como superfície de projeção da psique humana diante das interações com outro e a dissociação dos dois fica quase impossível. Dessa forma, ao tentarmos evitar situações de confronto com o estranho, invariavelmente, vamos acabar segregando espaços e transformando-os em espaços vazios, aos olhos da cidade. Não é à toa que Massey denomina a cidade como “região com buracos” (MASSEY, 1994. Apud: HAESBAERT, 2014, p. 104).
A questão é que as projeções corpóreas que nos referimos aqui como residuais, não são geradas por experiências de afetividade, mas de extrema repulsão, o que provoca que os mapeamentos sejam, obviamente, mais restritivos e consolidados, já que se baseiam no medo. Aos olhos de Freud estaríamos falando de propriedades do “estranhamente familiar” (traduzido do original Unheimlich). Memórias reprimidas que em situações de desorientação e desconforto ressurgem para nos alertar sobre algo que não deveríamos estar vivenciando. Um paralelo com os “estranhos” que insistimos em invisibilizar, mas que habitam dentro do mais familiar que conhecemos, nossas próprias cidades. Estranhos internos que, em sentido Freudiano, deveriam ter permanecido escondidos, mas que vieram à tona (FREUD, 1917). É importante ressaltar que essas condutas de rejeição são justamente o que queremos discutir aqui como um componente da nossa relação histórica com a cidade, algo que devemos combater, superar e reformular a partir de uma nova ideia de inclusão e integração urbana, tanto física, como social e afetiva.
Dessa forma, fica claro que a melhor forma de se referir a esses “internos” ou “externos”, certamente, seria o de “foras internos”, apresentados pelos autores Deleuze e Guattari. Duas ordens completamente diferentes convivendo, no mesmo espaço do “dentro”. Sendo a primeira regida por uma Lei, e a segunda pela ausência desta. Ou, talvez, se referir a eles como desdobramentos do mesmo tecido urbano, em que, por razões contextuais, a Lei se entrelaçou de outra forma. Nesse sentido, a linha limítrofe que dividiria as incongruências urbanas, seria, simplesmente, uma “dobra” (DELEUZE, 1991, p. 122, Apud: HAESBAERT, 2014, p. 122). O que justificaria suas conformações sócio-espaciais “subalternas”. No caso, essas protuberâncias (enquanto parte da superfície que se destaca) seriam melhor entendidas como “rugas” (termo, que, talvez, tenha conotação mais pejorativa), que saíram de seu estado normal liso e se “enrugam”, adquirindo assim qualidade “a-normal” e “disforme”.
Para Deleuze, idealizador do conceito, a matéria orgânica teria “dobras endógenas”, enquanto a inorgânica, “dobras exógenas”, ou seja, que advém do exterior, da vizinhança. Portanto, as dobras que nos referimos adquirem caráter de “irregularidade” por confrontação com a referência homogênea e regular do tecido, ao mesmo tempo que permanecem como parte imprescindível da maleabilidade de qualquer tecido. Dessa forma, podemos concluir que os espaços residuais, enquanto internos à cidade, se reduzem a uma questão, essencialmente, de alteridade, em que, ao mesmo tempo, ambas partes são oposição e razão de existência, uma da outra.
Aproximação [fictícia]: O caso da residualidade urbana do Morro do Castelo
Figura 4. A linha pontilhada representa o antigo contorno do morro do Castelo. Fonte: Agache, 1930.
Em: Cidade do Rio de Janeiro: Extensão- Remodelação-Embelezamento. [Edição nossa]
Percebemos que o Rio de Janeiro se revela criterioso com suas cartografias registrando muitas vezes um traçado de forma adulterada, valorizando linhas homogêneas e omitindo irregularidades. Suas plantas e mapas são, nitidamente, influenciados por fatores políticos, sociais e históricos. Dessa forma, observar um recorte da cidade nos permitiu entender que essas ocorrências cartográficas revelam uma “presença não-mapeada” que, claramente, representa uma resposta normativa a atribuições residuais resultantes do “encontro” involuntário entre normais e estranhos no espaço (GOFFMAN, 1975, p. 48, apud: SIQUEIRA, CARDOSO, 2011, p. 95). O cruzamento dos conceitos abordados nos leva a um recorte anteriormente mencionado, caracterizado por uma história de modificações físicas promovida por estigmas sociais e urbanos. Este recorte envolve um sítio totalmente ausente, um território que foi expropriado, extirpado da cidade, de forma física e simbólica por possuir atributos consideravelmente “estranhos”, mas que mesmo após sua condena parece ainda apresentar vestígios de seu passado forçadamente esquecido. Assim, o recorte escolhido foi a esplanada do Morro do Castelo.
Porém, antes de nos aprofundar nele e a partir das reflexões e discussão desenvolvida até aqui, é importante definir algumas condições que caracterizam a imagem (genericamente falando) de um espaço omitido/residual. Identificou-se, assim, seis principais pré-requisitos ou categorias do residual. São eles: (1) Estar sujeito a alterações espaciais qualitativas associadas ao contexto da situação (uma experiência frente-verso que Haesbaert coloca como “des-re-território”): (2) possuir sinais de precariedade (espaço visualmente maltratado por possuir atributos que Goffman nomeia como “depreciativos”): (3) Ser frequentado diariamente por pessoas que estabeleceram uma relação de tolerância entre seus respectivos atributos (citando Agamben, verdadeiros “estados de exceção”): (4) Ser acessível para os dois fluxos (que em palavras de Bauman permitiria que o [des]encontro aconteça): (5) Estar circunscrito a uma zona “nobre” (no sentido de Deleuze, um “fora interno”): e por fim, (6) ser um espaço não-mapeado ou, minimamente, evitado (parafraseando Massey; a cidade é uma “região com buracos”).
Listando-as ficam dispostas desta forma:
Des-re-território
Atributo depreciativo
Estados de exceção
[Des]encontro
Fora interno
Região com buracos
Assim, o caso de estudo é analisado segundo estes parâmetros, de forma a nos permitir identificar as propriedades residuais que poderiam ter se mantido na área. Sendo mais claros: busca-se investigar os possíveis “resíduos” sobrantes dessa operação anos atrás vivenciada. É claro que se entende a proposta muito mais como uma provocação poética da discussão do que qualquer outra coisa, e, nesse sentido, podemos definir esta ação como uma busca pela “presença da ausência” do Morro do Castelo no Rio de Janeiro atual. Dessa forma, esta análise tem como objetivo evidencia-las no território. O ponto que queremos trabalhar é exatamente o de uma residualidade ligada a situações espaciais, e não necessariamente aos espaços físicos. Acreditamos que a categoria do espaço abordada está diretamente relacionada com a transitoriedade das pessoas que possuem o estigma. Por esse motivo, para fazer a análise urbana, escolheu-se um lugar de caráter errante, no sentido de errado e nômade. O morro do Castelo é presente, mas ausente; é residual, mas nobre. No entanto, sem dúvida é um espaço completamente estranho.
A história do sítio em questão é extremamente controvérsia. O Morro do Castelo é, ao mesmo tempo, razão de existência e oposição da própria cidade. Primeiro porque representa um sítio cuja presença foi dada pela ausência de outra (o antigo morro foi desmontado para dar origem a grandes avenidas e edifícios) e, segundo, porque representa o local de fundação da cidade que sofreu inversão qualitativa e se tornou residual ao ponto de ser totalmente eliminado. A zona está imersa num processo de (1) des-re-territorialização constante, uma contradição espacial que a todo momento parece ser questionada. Isso fica evidente nos mapas apresentados posteriormente (Fig.3, 4 e 5).
O primeiro mapa representa a época da fundação da cidade (1576), no qual podemos ver a malha urbana limitada ao contorno do morro do Castelo deixando a parte plana da cidade completamente (a não ser por alguns caminhos) desabitada. A segunda, por outro lado, mostra a cidade durante as grandes reformas urbanas (1928) que, por mudança do contexto, as cotas se “inverteram”. As mais altas se tornaram residuais, sendo eliminadas e as mais baixas permanecerem como malha oficial e valorizada da cidade. O terceiro mostra o projeto proposto por Alfred Agache na década de 1920 para a área originada pelo desmonte do Morro do Castelo, a qual, em teoria, reverteria novamente as propriedades espaciais, integrando a zona à cidade. Tais incongruências aparecem também nos relatos das respectivas épocas:
Durante muito tempo, a cidade ficou circunscrita à muralha do Morro do Castelo, onde seus habitantes estavam em melhores condições de resistir aos ataques dos índios, que a investiram diversas vezes (…) A planície dos arredores era, ademais, quase que inteiramente coberta de brejos, mangues de água salobra, exceto um istmo menos inundado, ligando o Morro do Castelo ao Morro de São Bento e sobre o qual foi construída mais tarde a Rua da Direita, hoje Primeiro de Março (ANTUNES, [19--?], p. 22).
Como quer que seja, bem hajam os que resolveram o arrasamento do Morro do Castelo - obra de saneamento que, pelas suas proporções, era o almirantado das cabeças de porco, que ainda existem por esta cidade. Si dessa obra colossal não resultaram para o tesouro as riquezas dos jesuítas, resultará, sem dúvida alguma, para os nossos pulmões a riqueza do ar que temos de respirar por séculos e séculos, até a consumação com que a Bíblia nos ameaça (ROSSO, 1985, p. 347).
Immediatamente atraz deste frontispicio de mar monumental e no sítio dos antigos morros do Castello e de Santo Antonio, de cada lado da avenida Rio Branco, artéria vital da cidade, eleva-se-ão os << buldings >> e os arranha-céus do bairro dos grandes negócios onde, ao redor de um conjunto de praças, avenidas dotadas de galerias, de passagens para transeuntes e << parkings >> para automóveis, irá concentrar-se tudo quanto diz respeito a Sociedades, Bancos, Bolsa de valores e Bolsa de Commércio, armazéns de luxo, grandes teatros e os inúmeros escritórios (AGACHE, 1930, p. 167) .
Figura 3. Mapa de 1576 mostrando a cidade circunscrita nos limites do morro do Castelo. Fonte: Agache, 1930. Em: Cidade do Rio de Janeiro: Extensão- Remodelação-embelezamento.
Figura 4. Mapa de 1928 mostrando a ausência do antigo morro circunscrita na cidade. Fonte: Agache, 1930. Em: Cidade do Rio de Janeiro: Extensão- Remodelação-Embellezamento.
Figura 5. Mapa mostrando o projeto idealizado por Agache para a esplanada do Morro do Castelo. Fonte: Agache, 1930. Em: Cidade do Rio de Janeiro: Extensão- Remodelação-Embellezamento.
Com estes antecedentes, foram realizadas visitas de campo, que consistiram em percorrer a área antes ocupada pelo morro de Castelo e observar quais e de que forma essas reformas têm deixado marcas, restos sócio espaciais ou, nos conceitos aqui desenvolvidos, resíduos. Assim, as visitas ao local revelam que essa experiência qualitativa reversível passa por um quarto momento. As propriedades residuais desaparecidas no passado pela destruição do morro parecem ressurgir de forma fragmentada no território através da presença de seres estigmatizados que ainda circulam por lá. O que nos leva a acreditar que a residualidade não foi completamente eliminada (como idealizava a elite carioca), apenas deixou de ter “cinco milhões e quinhentos mil metros cúbicos” (ANTUNES, [19--?], p. 38).
Em planta, com a forma de um rim, voltando sua convexidade para a única entrada da nossa imensa baía e com a sua maior dimensão normal à direção dos ventos reinantes, esse monte agravava por este motivo o inconveniente precedentemente indicado, e produzia, por seu aspecto inestético e asqueroso, uma má impressão ao viajante, que, ao entrar na esplêndida baía do Rio de Janeiro, tinha a mesma sensação que se teria ao ver a linda bôca com o dente da frente cariado (ANTUNES, [19--?], p. 22).
O trecho datado da época em que a área adquiriu por primeira vez o “atributo profundamente depreciativo” (GOFFMAN, 1975), revela que tal desgosto está, muitas vezes, associado ao seu impacto visual. Hoje percebemos que o estigma ainda prevalece de certa forma, marcado no território, mas como foi dito anteriormente, ele acaba se manifestando em pequenas situações de estranhamento. Elas são percebidas a partir de concentrações espalhadas de camelôs, colchões de papelão, pichações, lixeiras entupidas, gelos-baianos, mobiliários “anti-mendigos” (cadeiras com divisória no meio que impedem as pessoas de se deitarem, por exemplo), entre outros. No entanto, não podemos deixar de ressaltar que os mobiliários “esquisitos” são acompanhados de suas respectivas “criaturas”. Dessa forma, os personagens estigmatizados da cidade também estão incluídos no repertório do (2) “atributo depreciativo” e, com eles, é possível ver elementos que operam como suporte para essa ocupação residual e estigmatizada (Fig. 6).
Figura 6. Elementos marcados pelo atributo “depreciativo”. Fonte: própria
É necessário entender, no entanto, que tais atributos (explicados no conceito anterior), somente absorvem qualidades repulsivas quando confrontadas com sua alteridade. A questão é que na área analisada existe uma grande diversidade devido à sua posição central na cidade e, portanto, as incongruências acabam ficando mais ressaltadas, (apesar de mais normalizadas que em outros bairros como, por exemplo, os da Zona Sul). Em razão disso as interações entre esses dois agentes de territorialidade se tornam mais expostas e visíveis. Ambas as partes parecem mais confortáveis ao interagirem. De fato, as práticas não recomendadas pela “city” (AGACHE, 1930) parecem melhor toleradas nessa parte da cidade.
O problema é que esta equivalência quantitativa de “normais e estranhos”, por se tratar de uma zona acessível e de trabalho, faz com que seja comum observar, por exemplo, executivos e ambulantes ou policiais e mendigos, interagindo no mesmo espaço, o que, como já dito anteriormente, não é por si só negativa, mas contraditória, visto que trata-se de uma prática de tolerância e não de aceitação/inclusão do sujeito estigmatizado (só é praticada quando beneficia a fonte). A área se torna uma manifestação territorial do que Freyre chamaria de “moral permissiva”, Agamben de (3) “estado de exceção” e Leyva de grande “Pântano” da cidade. Portanto, podemos concluir que a residualidade é dada pela interação do estigmatizado com sua alteridade e não apenas da presença do primeiro. É o confronto de ambos num mesmo recorte espacial que provoca que o “atributo depreciativo” seja evidenciado e consequentemente rejeitado (Fig. 7).
Figura 7. Situações de “exceção” entre “estranhos e normais” no espaço. Fonte: própria.
Por essa necessidade da presença contraditória, a residualidade fica completamente dependente dos fluxos (normais e estranhos) que permeiam os espaços. A acessibilidade do território passa a essencial para que o (4) [des]encontro aconteça e o outro seja estigmatizado. Dessa forma, podemos perceber que a localização central do recorte em questão e a grande variedade de transportes que ela sustenta configura uma área com alta probabilidade de se experimentar situações de desconforto e desorientação provocadas pela presença do “outro”.
A área analisada, apesar de se encontrar dentro dos limites do Rio de Janeiro, assume uma conformação de “fora” por não compartilhar das mesmas caraterísticas que ela. Isso devido a uma imagem associada à cidade que não corresponde ao repertório visual e sensitivo experimentado no recorte. Essa incompatibilidade imagética introduz, então, outra das características do espaço residual; um (5) “fora interno”, ou seja, algo totalmente destoante na paisagem “normal” da cidade, mas que permanece inconformadamente dentro dela. Dessa forma, a esplanada do Castelo, apesar de estar, essencialmente, à “margem” da cidade por questões de gosto, permanece completamente interna por questões relacionadas ao sistema social e político que opera sobre ela (Fig. 8).
Figura 8. diagrama mostrando a contradição do espaço residual de “fora interno”. Fonte: própria
Assim, como outras áreas da cidade consideradas “residuais”, foi possível identificar algumas ruas dentro do recorte que proporcionam maior sensação de insegurança. Determinados trajetos passam a ser "não recomendados” por estarem relacionados com diversas situações que envolvem estigmas (como por exemplo manifestações políticas, moradores de rua e comércio informal). O risco do conflito é tão grande que desvios de caminhos acabam sendo uma opção para aqueles que precisam atravessar o outro lado e querem evitar encontros “desagradáveis”. Tais ruas, portanto, “desaparecem” dos dispositivos de localização e dos mapas mentais dos transeuntes e são completamente desconsideradas. Trata-se, desta forma, de um dos “buracos” da malha urbana do Rio de Janeiro, ou como afirmado por Massey (6) “uma região com buracos” (Fig. 9).
Figura 9. Em branco, as áreas com maior sensação de vulnerabilidade. Fonte: própria
Considerações finais
Conclui-se, portanto, que num contexto de sobreposição de “territórios múltiplos” (HAESBAERT, 2014), em que os contrastes são mais evidenciados e de rotatividade das lógicas de poder no espaço, a residualidade, em algumas áreas do Rio de Janeiro, se torna, nitidamente, mais recorrente e, sobretudo, mais fragmentada. A cidade se revela cheia de lacunas espaciais que são preenchidas por pequenas situações de estranhamento. Portanto, entende-se que o conceito de residualidade é muito mais um produto de propriedades imateriais transitórias, do que propriamente de elementos fixos no espaço.
A conceituação das categorias de Des-re-território; Atributo depreciativo; Estados de exceção; [Des]encontro; Fora interno; Região com buracos apresentadas como condicionantes dos espaços residuais da cidade, surgem, então, como uma matriz de observação e análise urbana das complexas relações sócio-espaciais inseridas num contexto de agudas desigualdades e estigmatização, podendo, portanto, servir para posteriores pesquisas em outros lugares da cidade.
Referências
AGACHE, A. Cidade do Rio de Janeiro: Extensão- Remodelação-Embellezamento. Paris: Foyer Brésilien, 1930. Disponível em: <http://planourbano.rio.rj.gov.br>
ANTUNES, Paranhos. Coleção cidade do Rio de Janeiro: Estudos de história carioca. Rio de Janeiro, Prefeitura do Distrito Federal Secretaria-Geral de Educação e Cultura, [19--?].
AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. Trad. Iraci D.Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004, p.1-49.141p.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro, Jorge Zahar editor Ltda, 2001.
BLOG MITOLOGIA. O Leito de Procusto. Disponível em: <https://mitologica.blogs.sapo.pt/o-leito-de-procusto-304>.
FREUD, Sigmund. O inquietante. In FREUD, Sigmund.Obras completas volume 14 (1917-1920).Trad. Paulo C. de Souza. São Paulo, Companhia das letras, 2010.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. Pernambuco, Global Editora, 2003.
HAESBAERT, Rogério. Viver no-limite. Território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2014.
HAESBAERT, Rogério. O Mito da desterritorialização. Do “Fim dos Territórios” à Multiterritorialidade.Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2016.
LEYVA, Nicolás. ”Estado de excepción” el barrio de Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Conferencia internacional Santiago Chile, MUEY proyecto. 2017
MENEZ, Alexsandro. Civilização versus barbárie: A destruição do morro do Castelo no Rio de Janeiro (1905-1922). Revista Historiador Número 06. Ano 06. Disponível em: http://www.historialivre.com/revistahistoriador
SIQUEIRA, R; CARDOSO, H. O conceito de estigma como processo social: uma aproximação teórica a partir da literatura norte-americana. São Paulo, FAPESP.2011
ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001.
ROSSO, Giovanna. O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questão ll. 1985: 347
SOLÀ-MORALES, Ignasi. Territórios. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2002.
VIDLER, Anthony. Uma teoria sobre o estranhamente familiar. In NESBITT, Kate. Uma nova agenda para arquitetura. São Paulo, Cosac Naify, 2006.
VIDLER, Anthony. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely.MIT Press, 1992.
Data de Recebimento: 09/03/2020
Data de Aprovação: 22/06/2020
[1] Os detalhes desta importante parte da história brasileira estão brilhantemente narrados no livro Os Sertões, do escritor e jornalista brasileiro Euclides da Cunha, publicado em 1902.
1
Exibindo 1 de 1