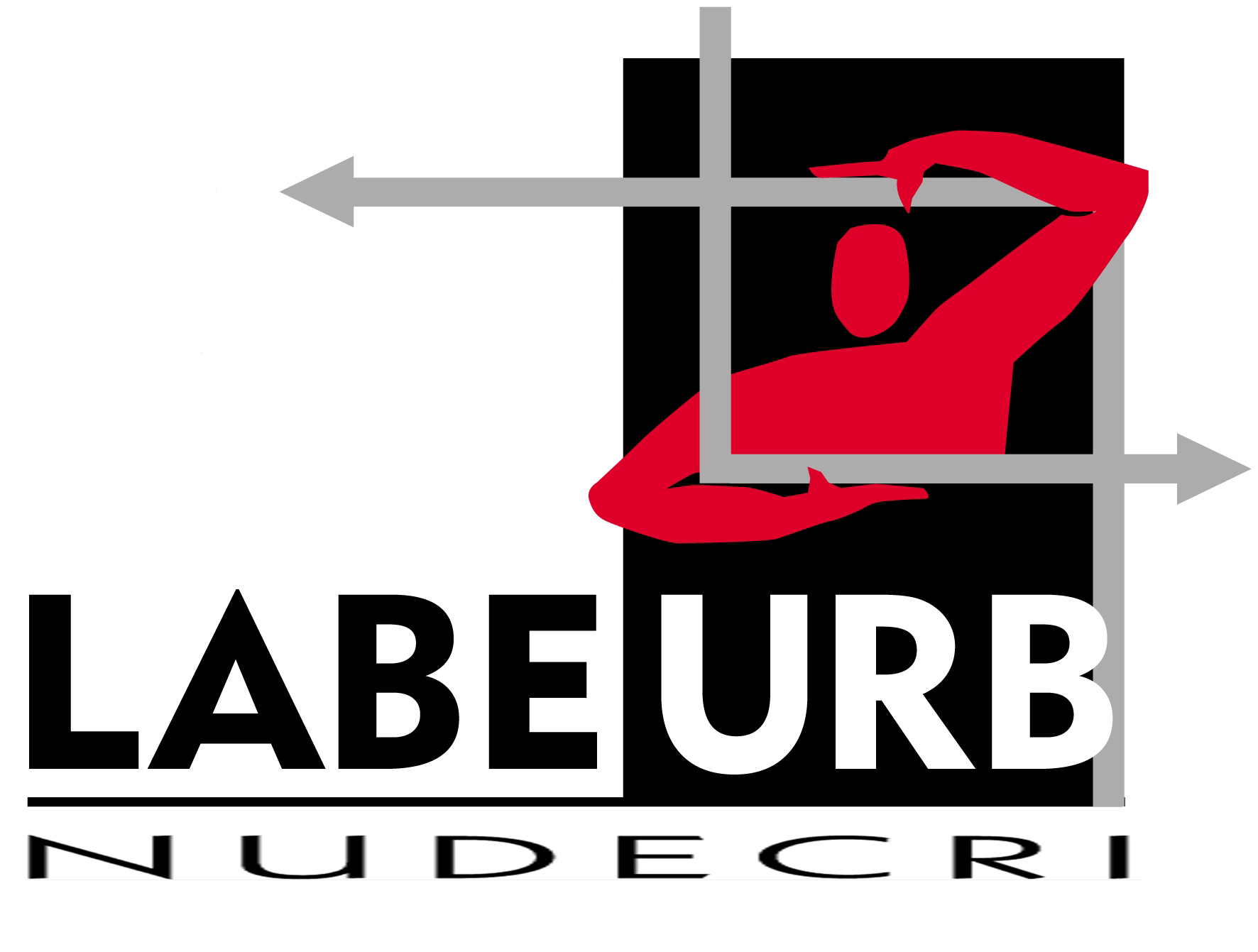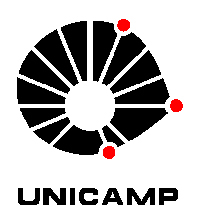Ensaio sobre o cuidado: Mulheres e cidades, d’A vida invisível ao centro de João Pessoa


Maria Isabel Costa Menezes da Rocha
Compondo com o que afeta
Este trabalho experimental é guiado pelos afetos provocados pelo livro e o filme homônimos A vida invisível. Afetos esses que encontraram ressonância na experiência de conhecer o Centro antigo de João Pessoa, onde realizei o meu último trabalho de pós-doutorado,1 notadamente focado na presença pulsante de vida no centro urbano tido como esvaziado, ou abandonado, para usar uma palavra mais corriqueira. O livro, de autoria de Martha Batalha, chegou até mim em um período de pós-parto, no início de intenso aprendizado da maternidade, no final de 2018, sublinhando aspectos da minha própria experiência de leitora-mãe-mulher, mas também de pesquisadora de arquitetura-urbanismo-e-da-dança. Já o filme, dirigido por Karim Aïnouz e lançado em 2019, conheci em 2020, no início da pandemia de Covid-19, período de ênfase em diversos aspectos da vida que desconhecíamos. Já a aproximação com o Centro de João Pessoa começou apenas no final de 2021 – impulsionada pelo pós-doutorado e pelo controle do coronavírus – e se intensificou entre finais de 2022 e início de 2023, com a preparação para o evento Urbicentros #6.2
Aqui, neste ensaio, retomo, relembro, revisito A vida invisível, entendendo os objetos e personagens ali retratados como potenciais guias para ver a vida invisível na realidade urbana experienciada, e para se (me) fazer afetar também por ela. A palavra guia é aqui utilizada para remeter à guia das pessoas cegas ou ao seu cão-guia, enfatizando a necessidade de uma certa disponibilidade corporal e de abertura dos poros – e não somente ou necessariamente dos olhos – para ver o invisível. Invisível, por sua vez, é fio-condutor e também ímã; tudo o que remete ao invisível vem colar-se nessa peça-ensaio que assume seres e situações de naturezas distintas. Nesse sentido, peço que observem o trecho do livro reza, de Léo (2020), aqui localizado como uma epígrafe. O livro é, em si, uma dessas materialidades livres que vêm colar-se nesse imã-palavra invisível por apresentar uma história de família impressa em tinta branca sobre papel branco, ou seja, invisível à primeira vista.
Talvez esse ensaio tenha como tema invisível justamente essas histórias de família, ou histórias de vida, ou ainda história do/no corpo, corpo-história, corpos-histórias. Daí a premissa de começar esse texto na primeira pessoa do singular, assumindo por vezes o plural, quando não se é possível diferenciar quantos nós [ou quantas de nós] atuam nestas palavras. Penso aqui na possibilidade de nos colocar, de maneira honesta, como corpo de afetos [que afeta e, sobretudo, é afetado]; não somente no sentido individualizante ou pretensamente neutro ou científico, mas como com-posição ou com-formação de mundo(s). Nesse sentido, somos co-atuação de presenças [visíveis e invisíveis] das quais, sobretudo, o campo das artes tem se disposto a estudar. No entanto, tomando o caminho aberto pela pesquisa nas artes – especialmente as artes da cena, que se afirmam como pesquisas encarnadas, onde o/a artista se implica de corpo e história na elaboração de seus questionamentos – ansiamos tensionar o campo da arquitetura e urbanismo como lugar do corpo, do corpo social e seus imaginários; e não somente das formas materiais construídas. Indagamos, assim, sobre a possibilidade de nos implicarmos/engajarmos enquanto corpo-vida-história também nas nossas produções técnicas ou acadêmicas.
A autora do livro aqui citado e centralizado, por sua vez, dá um exemplo de como se implicar/engajar, ao introduz sua obra com uma pequena carta à “cara leitora, prezado leitor”, onde contextualiza a trama por entre fatos reais, acontecidos nos anos 1950, e finaliza a carta revelando: “Eurídice e Guida foram baseadas na vida das minhas, e das suas avós.”
Assim, além dos afetos produzidos pelas narrativas artísticas d’a vida invisível, partimos para a afetação mais encarnada na experiência da cidade. “Com isso, concebemos os corpos (não só humanos) como lugar fundante na criação de existências e presenças – visíveis e invisíveis. Uma paisagem que é sentida, experimentada e vivida com e a partir do corpo.” (Guzzo, 2023, p. 230)
Se nos disponibilizamos a percorrer o centro de João Pessoa em busca de melhor conhecê-la, nos colocamos dentro do cotidiano urbano, onde se encontram os muitos sujeitos que atuam no corpo-a-corpo com essa cidade. Assim, nosso método se aproxima de um caminhar errante movido pelas interpelações com o lugar, dialogando com a prática antropológica e etnográfica, ou, um método experimental – como já ensaiado na tese de doutorado, em Salvador, Bahia3 – onde encontramos histórias de vidas e memórias que o constituem. Aqui, veremos fragmentos dessas histórias e memórias invisíveis, compondo com os afetos provocados pelo livro, pelo filme, mas também pelas reminiscências de outras experiências de cidade latentes no corpo, contando histórias de outras épocas e de outros lugares. São essas reminiscências de memórias que se fazem rugosidades – segundo o entendimento de Milton Santos (2009)4 trazido para o campo da subjetividade – nas quais tropeçamos e somos, assim, convocadas a [re]vê-las.
Eurídice e Guida
A vida invisível de Eurídice Gusmão, é um romance ficcional escrito por Martha Batalha e publicado pela Companhia das Letras, no Brasil, em 2016 – depois de já ter sido publicado fora do país. Traz em seu título o nome de Eurídice Gusmão, “a mulher que poderia ter sido”, nas palavras da narradora, no entanto, trata da história de duas irmãs, de temperamentos quase opostos, mas nem por isso menos unidas: Eurídice e Guida Gusmão. Suas vidas foram separadas ao final da adolescência, não só pelo pai, principal sujeito da separação, mas pelo patriarcado, encarnado sobretudo na rede masculina presente e operante na trama.
A ausência de Guida no título já revela uma invisibilidade, na trama escrita, já que o filme dirigido por Karim Aïnouz, lançado em 2019, traz apenas A vida invisível em evidência no título. Tanto o livro quanto o filme dão protagonismo às vidas de Eurídice e de Guida, mas a sentença “a mulher que poderia ter sido” é aplicada diretamente àquela do título do livro. Eurídice é ali descrita em comparação/oposição a outra mulher que “aparece” na trama:
Maria das Dores era mãe de três filhos que se criavam sozinhos, que se alimentavam dos pratos que ela guardava no forno e se vestiam das roupas que ela deixava na cômoda, e que agora já tinham idade para andar soltos na casa, não sendo mais necessário acorrentá-los no quarto para se manterem longe das facas e fogos da cozinha.
Mas esta não é a história de Maria das Dores. Maria das Dores inclusive só aparece por aqui de vez em quando, na hora de lavar uma louça ou fazer uma cama. Esta é a história de Eurídice Gusmão, a mulher que poderia ter sido. (Batalha, 2016, p. 38)
Maria das Dores, personagem apenas do livro, é a empregada de Eurídice, uma mulher sem cor – já que Martha Batalha não revela essa sua característica física – portanto, invisível. É importante dizer que a trama se passa nos anos 1950, quando se celebravam as maravilhas da vida moderna, que se disseminava pelo país com valores a serem assumidos, ao lado de aspectos sombrios, reminiscentes da formação colonial brasileira, presentes até os dias atuais.
A vida inclusive ficou ainda mais tranquila depois que os Gusmão Campelo adquiriram uma das maravilhas daquela e de tantas outras épocas: uma empregada doméstica. Maria das Dores chegava a tempo de servir o café dos patrões e ia embora depois do último prato do jantar lavado, deixando um rastro de camas feitas, pisos encerados e banheiros limpos. Eurídice continuava responsável pela feira e pela mercearia e pelo açougue e pelo aviário e por qualquer motivo que a fizesse sair de casa desde que estivesse de volta às três da tarde para ligar o rádio, torcer as mãos e encarar a estante de livros. [...]
Maria da Dores, coitada, ganhou ainda mais dores. Para Eurídice sempre havia franzidos na cama já feita, risquinhos no piso encerado, pentelhos no box lavado. Ela não se importava de começar a trabalhar às sete da manhã e de ir embora depois das oitos da noite, não se importava em fazer todos os dias a mesma refeição de arroz, feijão e músculo, não se importava em passar as blusas de linho e os ternos de casimira no quartinho dos fundos, que no verão atingia temperaturas de meios-dias equatoriais, desde que pudesse chegar em casa todos os dias para ver seus três amores. (Ibid., p. 37)
Nos percursos para conhecer João Pessoa, chegou até nós a história de uma das moradoras mais antigas do Centro Histórico;5 uma história que já tinha sido inclusive objeto de matéria de jornal televisivo na/da cidade. Diferente de Eurídice, a Dona da história foi tudo o que pôde, inclusive mãe, e, chegando à velhice, procurou uma pessoa jovem para lhe ajudar a cuidar de si. A Cuidadora chegou à sua casa com 15 anos e ali viveu mais 45, responsável por tudo o que dissesse respeito à Dona da casa.
Em um trabalho com estudantes do primeiro período de Arquitetura e Urbanismo, ouvimos o relato de um grupo que se aproximou da casa da antiga moradora. As estudantes recolheram informações sobre a Dona da casa e sua história no centro da cidade. A principal fonte de tais informações era a própria senhora e sua Cuidadora, de quem as estudantes lembravam muito mal o nome. E ela também não era moradora do centro há mais de 40 anos? Como era a sua relação com a cidade? Havia chegado a João Pessoa vinda de um interior empobrecido. Fora “resgatada da pobreza”, segundo as falas trazidas pelo grupo. Passou a estudar ali no centro mesmo. Onde? Até quando? Gostava de produzir artesanato. Até já havia exposto suas peças em alguma feira. Onde estão? “Ali, tudo guardado.”, dizia a Cuidadora, quando pude conversar com ela. Mas a senhora viveu a vida toda aqui? “Eu faço tudo com amor”.
Imagem 01: “eu acho tudo muito bonito ainda, mas eu acho que necessita mais carinho, mais cuidado”

Fonte: croqui-carta de um dos grupos de estudantes do primeiro período (2022, formato A3)
Tanto o livro quanto o filme localizam os Gusmão Campelo na classe média, no entanto, Batalha faz de Antenor, o marido de Eurídice, um importante funcionário do Banco do Brasil, na então capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. Já a equipe de roteiristas do filme escolhe que Antenor deve ser funcionário dos Correios. Quanto a Eurídice, o foco dado pela autora é na sua capacidade de se destacar em qualquer coisa que escolha fazer; assim foi enquanto flautista, na infância e adolescência, como também foi enquanto cozinheira brilhante e como costureira dedicada. Essas duas últimas ocupações estavam dentro do leque de possibilidades da dona de casa; como muitas que utilizam seus dotes e prendas, aperfeiçoadas no ambiente doméstico, para expressar-se enquanto sujeitos produtivos [passíveis de atuação numa economia produtivista] ou simplesmente enquanto sujeitos.6
Aqui, em João Pessoa, é a Cuidadora que vai exercer seus dotes artísticos em ambiente doméstico.
Já na narrativa para o cinema, o foco profissional de Eurídice foi a sua paixão e talento pela música, desta vez, ao piano, sendo a profissão de musicista perseguida por ela, mesmo depois de se tornar mãe. O piano foi carregado para dentro da casa do novo núcleo familiar, após o casamento com Antenor, ali permanecendo como uma entidade, esta que guardava a alma de Eurídice – e destoava da “modernidade” aparente, almejada pelo marido. É ao piano que Eurídice sente o prazer de desaparecer, em suas próprias palavras. Quando a invisibilidade não é sinônimo de opressão e sim de transcendência.
Em relação à busca por modernidade, tanto a narrativa cinematográfica quanto a literária evidenciam, no ambiente da casa, algumas peças de mobília e decoração tida como moderna construindo uma ambientação kitsch.7 Entre as peças inovadoras do lar, cabe destacar, no filme, a cena em que a filha de Eurídice brinca com um aspirador de pó, remetendo às facilidades na vida da dona de casa moderna, bastante promovidas no período em tela, como forma de tornar atrativa a vida doméstica e colando à habitação [ao lar] as mulheres de então.
Imagem 02: cena em que Eurídice observa a filha “brincar” com o aspirador de pó

Fonte: A Vida Invisível (2019, 1º36’28”)
Já mais velhas, ambas as Eurídices são levadas pelos maridos a viverem em apartamentos. A personagem do livro parte para Ipanema.
Mudar-se para Ipanema no início dos anos 60 não era apenas transferir a mobília para alguns quilômetros adiante. Era atravessar os portões do tempo, para viver num lugar que fazia o resto do Rio se parecer com o passado. Ipanema era o bairro dos escritores, poetas e músicos. Atores, pintores e escultores. Jornalistas, dramaturgos e diretores de cinema. Ipanema também era um bairro familiar, com casas de muro baixinho, prédios de poucos andares e confortáveis apartamentos de andar inteiro, os mais caros do Rio de Janeiro.
Foi para um desses apartamentos que Eurídice e Antenor se mudaram. As seis janelas da sala emolduravam o Atlântico, o extenso corredor dava para quatro quartos com armários embutidos e vista para a copa das amendoeiras. (Batalha, 2016, p. 38)
Quanto a essa transformação urbana, relacionada aos modos de vida, eu gostaria apenas de notar que o primeiro edifício em altura de João Pessoa teve sua construção concluída em 1962 e se localiza na mesma rua da casa daquela senhora e sua Cuidadora. Conhecido como “Dezoito andares” o Edifício Presidente João Pessoa foi [talvez ainda seja, para algumas pessoas] promovido como imagem do paraíso, enquadrando as mais espetaculares paisagens da capital paraibana e, ao mesmo tempo, mantendo os moradores longe do perigo da rua – diferentemente das casas do seu entorno. Apesar dos seus 60 anos de idade, o prédio ainda é utilizado, por alguns grupos da classe média, como prova da possibilidade de morar bem, no centro da cidade, esse território que é a cada dia mais marginalizado, periferizado e estigmatizado pelos poderes e imaginários hegemônicos.
É preciso dizer aqui também que a casa da Cuidadora é um caso em que as moradoras souberam se reinventar nesse contato e, sobretudo, nesse cuidado com a rua. E não falo apenas do cuidado de si, em relação à rua, mas do cuidado da rua, de um cuidado recíproco entre as pessoas de dentro de casa e as pessoas que trabalham ali fora, na calçada, cuidando dos carros, ou no comércio ambulante. As duas senhoras e seu grupo familiar souberam se refamiliarizar com o cotidiano mutante do centro em ruínas, mas cheio de vida.
Aqui, relembro outro caso de regulação e cuidado operado por uma mulher junto ao espaço público. Foi na cidade de Salvador que conhecemos dona Jô, comerciante de cocos atuante “há mais de 20 anos” [em 2014] na orla do Porto da Barra, herdeira do saber-fazer do pai, segundo ela, primeiro fornecedor de cocos para a capital da Bahia. (Rocha, 2016) Jô foi permissionária de um quiosque delimitado pela prefeitura, no espaço público em frente ao Forte de Santa Maria. Ela viu seu quiosque de alvenaria ser demolido para dar lugar à obra [de pacificação urbana] relativa à Copa do mundo da Fifa, em parceria com o projeto municipal Nova Orla, de ordenamento e gentrificação da orla de Salvador.
Entre os permissionários que tiveram seus serviços desabrigados, muitos desistiram de continuar no ramo, mas dona Jô, que havia se tornado uma forte referência no local através de sua participação intensa no espaço público da orla, continuou atuando no ramo, agora em um ponto comercial alugado nas proximidades da sua clientela, na região do Forte de Santa Maria. Seu ponto de venda se tornou distante dos olhos de quem passava pela orla, diferente daquele quiosque bem no meio do caminho, mas a sinalização criada por Jô garantiu a manutenção da clientela e o agenciamento coletivo do qual fazia parte permitiu o fortalecimento da rede de sociabilidade formada por grande parte da classe trabalhadora presente no seu entorno.
Seu ponto de venda, agora menos visível em relação à praia, é base para outros trabalhadores, como os garis que se concentram ali na hora do almoço, ou a baiana que vende acarajé e guarda ali seu material de trabalho. Todos apresentam grande respeito para com ela, que foi desrespeitada e deslegitimada pelo poder público. (Ibid. p. 161-162)
A ação ou agência social de dona Jô fazia parte de um cuidado mútuo entre os diferentes sujeitos que compunham aquele território, favorecendo assim as condições de florescimento da vida comunitária em um lugar que foi, durante muito anos, negligenciado pelo [cuidado do] poder [e regulação] público; cabia, assim, às pessoas que o com-formaram esse cuidado e regulação, como natureza que sustenta a ruína, entre mutualismos e simbioses (Tsing, 2019).
Imagem 03: duas perspectivas do interior da mesma ruína, posta à venda em uma antiga localização nobre do Centro

Fonte: fotografias da autora (agosto de 2022)
Essas imagens, da casa em ruína da Praça 1817, vistas agora, à distância, remetem à estética vegetativa utilizada no filme A vida invisível, como uma vida selvagem que prospera apesar das restrições construídas, dos muros de contenção, das normas e padrões vigentes que visam a instauração de uma civilidade heteropatriarcal. Há vegetação por toda a cenografia do filme, como por exemplo na varandinha dos fundos do apartamento de Antenor e Eurídice.
Imagem 04: cena do cotidiano dos recém-casados: as plantas na área de serviço expressam aconchego e cuidado, remetendo ao quintal, cômodo de muitos usos na época retratada.

Fonte: A Vida Invisível (2019, 40’35”)
Mais tarde, em uma cena da velhice de Eurídice, no famigerado edifício Pedregulho – ou Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – no Rio de Janeiro, vemos uma vegetação exuberante, embora contida em pequenos vasos, no corredor da edificação.
Imagem 05: cena em que Fernanda Montenegro vive Eurídice Gusmão, em uma velhice apática, mas atenta ao cuidado do seu pequeno jardim na passagem do corredor do edifício.

Fonte: A Vida Invisível (2019, 2º03’32”)
A aparente apatia de Eurídice foi lentamente desenhada nas páginas do livro, contrariamente ao que se passa no filme. Em ambas as narrativas, porém, há uma trama masculina operante tanto para separar as duas irmãs – e impedir que se apoiem mutuamente – quanto para frustrar a vida profissional de Eurídice. Tal “destino” provoca essa espécie de apatia comum a tantas mulheres que se veem impelidas ao trabalho doméstico. Foi o que transpareceu também na fala da nossa Cuidadora.
Ao final, sob o domínio de Antenor, Eurídice se convencia de “que não valia muito. Ninguém vale muito quando diz ao moço do censo que no campo profissão ele deve escrever as palavras “Do lar”.” (Batalha, 2016, p. 11) Essa condição lhe foi, no entanto, imposta na relação de dominação exercida pelo pai e, posteriormente, pelo marido.
A leitura de Martha Batalha parece fazer referência ao “livro que inspirou a revolta das mulheres americanas”; Mística Feminina, de Betty Friedan, publicado em 1971, no Brasil [1963, nos Estados Unidos], traz a pesquisa da autora sobre o mal das mulheres americanas que se disseminou em meados do século XX. A chamada mística feminina acometia principalmente as donas de casa da época; donas de casa compulsórias, formadas pelas revistas femininas. Nos Estados Unidos,
O Ladies’ Home Journal lança o protótipo dos inúmeros contos no estilo “ocupação: dona de casa”, que começaram a aparecer nas revistas femininas de então, prolongando-se por toda década de cinquenta. Começavam geralmente com uma mulher se queixando de que, quando tem que escrever “dona de casa” no cartão do censo sente complexo de inferioridade (“Quando escrevo essas palavras reconheço que eu, mulher de meia idade, com educação universitária, nunca fiz coisa alguma na minha vida. Sou apenas uma dona de casa”). Então o autor, que nunca é apenas uma dona de casa (neste caso é Dorothy Thompson, jornalista, correspondente estrangeira, famosa colunista do Ladies’ Home Journal, março de 1949) ri às gargalhadas: “O problema é que vocês não compreendem que são especialistas simultaneamente em uma dúzia de carreiras. Poderiam escrever: gerente, cozinheira, enfermeira, motorista, costureira, decoradora, contabilista, professora, secretária particular – ou então apenas filantropa... Passam a vida desgastando por amor suas energias, habilidade e talentos”. Contudo, a dona de casa continua a queixar-se: “Estou com quase cinquenta anos e nunca fiz o que desejava fazer na mocidade: estudar música. Desperdicei meu curso universitário”. [...] “toda essa vida através dos outros é vida de empréstimo” – suspira a dona de casa. “Tão de empréstimo como a de uma rainha”, resmunga Miss Thompson. “Recuso-me simplesmente a partilhar da sua autocomiseração. Você é uma das mulheres mais bem sucedidas que conheço”. (Friedan, 1971, p. 39)
No Brasil, a modernidade conservadora também estava travestida de mulheres “bem-sucedidas” como Eurídice Gusmão, visto que o segredo do sucesso era ter uma casa e uma família para cuidar. Neste ponto, é importante frisar que o discurso sobre as mulheres não foi racializado por Friedan – como muitas vezes ainda não é, na atualidade – então o ser do lar era indicativo de pertencer a uma classe social com certo poder aquisitivo, onde a mulher não “precisa” trabalhar. Desta forma, colocamos raça e classe como equivalentes no Brasil, onde a grande maioria das mulheres de classes mais pobres [as que precisam trabalhar, como Maria das Dores e como a Cuidadora do Centro e como dona Jô e como tantas outras] são negras.
Voltando ao Pedregulho, é interessante investigar um pouco mais essa escolha do diretor Karim Aïnouz, que também é arquiteto, por localizar a fase derradeira de Eurídice e família no edifício ícone da arquitetura habitacional moderna brasileira. O Edifício Pedregulho fora projetado – pelo casal Affonso Eduardo Reidy [arquiteto] e Carmem Portinho [engenheira] – pensando especialmente nas mulheres trabalhadoras. Carmen tornou-se diretora do Departamento de Habitação Popular (DHP) da Prefeitura do Rio de Janeiro em 1948 e, além disso, era feminista atuante.
Para Carmen, a intensificação da luta feminista em favor dos direitos das mulheres à emancipação política e econômica nos primeiros anos da década de 1930 vem junto da progressiva militância em favor do movimento moderno. Carmen seguia protagonizando a luta feminista e fundará, em 1929, a União Universitária Feminina, para apoiar as mulheres em suas carreiras e defender seus interesses nas profissões liberais. Em 1937 funda a Associação Brasileira da Engenheiras e Arquitetas. (Nascimento, 2017, p. 180)
Reydi, além de arquiteto, se tornou na mesma época o diretor de urbanismo na Prefeitura. A dupla passou protagonizar a institucionalização da produção arquitetônica e urbanística [modernas] no âmbito do município, colocando as necessidades habitacionais dos trabalhadores no centro do debate sobre habitação popular.
É possível que a escolha do filme tenha sido motivada pela busca constante do personagem de Antenor por conferir certa modernidade ao lar do casal.
[...] e todas as maravilhas tecnológicas que Antenor fazia questão de adquirir no momento em que eram anunciadas, por se considerar um homem além de seu tempo: o rádio no móvel de pés palito, a pequena vitrola que cabia num dos cantos da estante, o ventilador de pé, a televisão noutro móvel de pés palito [...] (Batalha, 2016, p. 45)
Como então capital brasileira, na década de 1950 – época que antecedeu a mudança da capital para Brasília – o Rio de Janeiro se queria vitrine da cidade moderna brasileira. A modernidade almejada, à primeira vista, contrasta com o arcaísmo dos valores patriarcais atuantes no controle dos corpos, sobretudo femininos, como fica explícito no decorrer da trama. E contrasta também com os ideais habitacionais [e feministas] que fundaram o projeto do Pedregulho.
Em 1950, o Pedregulho, a obra mais emblemática da parceria do casal, foi parcialmente inaugurado. O Plano inicial do Conjunto Residencial previa todos os elementos vitais ao funcionamento de uma unidade de vizinhança: escola, mercado, lavanderia, posto de saúde, blocos residenciais com apartamentos duplex, piscina com vestiários, ginásio, quadra esportiva, grandes jardins com áreas de playground, clube e creche. A primeira parte inaugurada do conjunto incluía os dois blocos residenciais com 56 apartamentos duplex de quatro quartos, mercado, lavanderia, centro de saúde e jardins projetados por Burle Marx. Escola, piscina, vestiários e ginásio foram inaugurados no ano seguinte. O curvilíneo bloco A ficou parcialmente pronto em 1958, mas sua ocupação total se deu em outra administração, na década de 1960, quando Reidy e Carmen já estavam aposentados da Prefeitura. O bloco C, a creche e o berçário nunca foram construídos, nem sequer iniciados. (Nascimento, 2017, p. 180)
Notamos como o projeto tem um viés feminista ao se preocupar em resolver as principais atividades domésticas, comumente atribuídas às mulheres. No entanto, o cuidado com as crianças [a creche e o berçário] é negligenciado quando da execução do Conjunto Residencial. Esta negligência é estrutural da sociedade patriarcal, para manter as mulheres atreladas ao ambiente doméstico e não ao ambiente do trabalho remunerado, fora de casa. Tal estrutura aparece igualmente na trama de A vida invisível; tanto no cinema, quanto na literatura, mesmo com a ajuda de eletrodomésticos e de uma empregada, Eurídice é quem “deve” se ocupar das crianças.
Por outro lado – e aqui adentramos a outra metade do melodrama – é com Guida que se desenvolve uma rede de apoio feminina para lidar com as questões da maternidade e do cuidado com as crianças. Resumidamente, Guida é a irmã que sai de casa sem o consentimento dos pais e, ao voltar grávida, não é aceita pelo chefe da família, devendo se virar sozinha para cuidar de si e da criança por vir. Tudo na vida de Guida se desenvolve a partir desses dados.
Encruzilhada
Proponho aqui um cruzamento com a vida experienciada no centro de João Pessoa em diversos aspectos, em cujo centro está o trabalho e o cuidado com as crianças.
Através da avenida aberta pelo filme, chegamos ao Pedregulho e, através dele, a Carmem Portinho, a engenheira feminista do Departamento de Habitação Popular que encabeçou o projeto do Conjunto Residencial. Ela mesma morava em uma residência unifamiliar cujo projeto original “aprovado como tipo oficial enquadrado na categoria popular” (Ibid. p. 189) foi elaborado para o DHP. Uma das transformações empreendidas para a sua própria residência8 foi a mudança do acesso e do nome do quarto localizado nos fundos da edificação, que de “quarto” passa a ser “dependência de empregada” no projeto executivo aprovado.
A ajuda com as tarefas domésticas era certamente uma questão para as mulheres que ingressavam no campo de trabalho, tendo relação direta com sua emancipação social e política. Pensar o espaço doméstico de forma racionalizada tinha implicações nas condições de vida da mulher trabalhadora e era um tema para as feministas, sobretudo para Carmen, que se põe a planejar casas para trabalhadores. Para ela, mesmo na sua pequena casa de espaços otimizados e racionais, não seria possível dispensar a ajuda cotidiana. (Ibid., p. 191)
Assim também pensava a antiga moradora de João Pessoa sobre a necessidade de ajuda cotidiana, quando trouxe a Cuidadora para morar consigo. Assim também pensam todas as mulheres [e alguns homens] que trabalham fora e precisam cuidar da casa e das crianças. Sem condições financeiras para arcar com honorários de uma empregada doméstica, as mulheres mais pobres – a maior parte das trabalhadoras deste país – contam umas com as outras para garantir essa ajuda cotidiana, tecendo assim a chamada rede de apoio. E [deveriam poder contar] também com os serviços públicos, sobretudo de educação e saúde.
Aqui nessa encruzilhada, coloco a ocupação João Pedro Teixeira, organizada pelo Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) da Paraíba, no antigo Edifício Nações Unidas, centro de João Pessoa, em frente à praça conhecida por Ponto dos Cem Réis, ao lado da ruína retratada anteriormente. Ainda tenho pouco conhecimento a respeito da história do edifício, mas a história da ocupação me afetou à primeira visita, a começar pelo cuidado com as crianças das famílias ocupantes.
Todas as pessoas adultas que vieram habitar a ocupação precisam trabalhar, para tanto, uma das primeiras providências foi organizar uma creche interna, contando com o revezamento de algumas das mulheres ocupantes, para garantir o tempo necessário senão para o trabalho, para a busca deste. A criação da “creche jardim” foi documentada no perfil do Instagram do MLB Paraíba (@mlb.paraiba), com destaque para essa entre outras iniciativas culturais da organização comunitária da ocupação.
Pude presenciar uma reunião do Movimento de Mulheres Olga Benário – cujo arroba (@movimentoolg.paraiba) está com frequência presente nas publicações do MLB Paraíba – onde observei que a participação das mulheres é garantida com a organização de um subgrupo responsável por ficar com as crianças durante a reunião. Assim, as mulheres levam suas crias, muitas delas crianças [muito] pequenas, e podem realizar o estudo-debate junto com as demais. Certamente foi dessa forma que se organizou o Movimento e a Ocupação João Pedro Teixeira, formada por famílias vindas de bairros da periferia urbana para reivindicar habitação no centro da cidade.
Imagem 06: antigo Prédio Nações Unidas, hoje, Ocupação João Pedro Teixeira, com a bandeira do MLB, Ponto dos Cem Réis, Centro de João Pessoa.

Fonte: fotografia da autora (agosto de 2022)
A necessidade de trabalhar de Guida Gusmão a colocou em uma classe social diferente da sua irmã. Como classe e raça estão intimamente associados, no Brasil, Guida se aproximou da invisibilidade das pessoas negras, habitando bairros da capital conhecidos por sua cultura rica e, ao mesmo tempo, marginalizada. As relações raciais no bairro do Estácio foram tangenciadas na construção do filme, onde Guida adentra a vida do bairro pelo samba.
Como mulher recém parida – embora ainda na fase de negação da sua condição de mãe – Guida estabelece rapidamente relação com outra mãe, uma das poucas mulheres negras da trama. Esta também quer ir se divertir no samba e deixa seu filho bebê com Filomena, uma senhora sem filhos, provocando a primeira aproximação entre as duas; Guida e Filomena, cuja relação vem a se tecer posteriormente. Na narrativa literária, a rede de apoio de Guida se fez quase como mágica.
Todo mundo que podia ajudava, e num caso como aquele todo mundo podia, e ajudava. A vizinha da frente mandou uma panela com canjica (“é bom pro leite”). A do lado disse que podia lavar as roupas (“você ainda está fraquinha”). Outra vizinha trouxe uma colcha de crochê e sapatinhos vermelhos (“para dar sorte”). Perguntou se Guida conhecia Filomena.
“Filomena?”
Sim, Filomena. Filomena tinha sido a prostituta mais requisitada do Estácio. Não era a mais bonita ou a mais versada, mas tinha um sorriso tão bom que os homens gostavam de descansar em seu peito. [...]
Não estava em seus planos viver de favor, e por isso começou a cuidar de uma ou outra criança enquanto a mãe trabalhava. [...]
As prostitutas, operárias e funcionárias do comércio não se importavam em ter uma mulher tão estragada cuidando dos filhos. As crianças pediam para ver a cuidadora, e protestavam na hora de ir embora. (Batalha, 2016, p. 109-110)
Filomena é mais uma personagem sem cor na trama escrita, assim como Maria das Dores, ambas atreladas à função de cuidar; uma da casa, outra das crianças. Se Filomena não cuidasse exclusivamente das crianças das mulheres trabalhadoras do bairro, acionaria as reminiscências da discussão sobre a Mãe-preta; aquela que alimentou os filhos dos senhores brancos [e de toda a nação] durante o nosso período escravocrata. O monumento à Mãe-preta de Campinas foi, portanto, um desses afetos que cruzam nosso caminho e nos instigam a tentar compreender suas contradições. Em relação ao filme, ficamos com a contradição de Filomena ter praticamente assumido Guida como sua filha-branca, embora tantas outras mulheres também contassem com seus cuidados. Guida se tornou a herdeira de Filó, que se mostrou uma mulher bem-sucedida, por contar com sua casa própria e com seu trabalho.
A casa de Filomena – ampla e com quintal capaz de se transformar em creche – traz à tona o questionamento sobre a propriedade e mesmo sobre o direito de uma mulher negra solteira à moradia digna na cidade, especialmente naquela época. O roteiro justifica: a casa teria sido herança de um falecido “marido” e Filó precisou ser astuta para garantir que Guida pudesse continuar na moradia-creche. O direito a moradia popular não é um dos temas debatidos pelo filme – menos ainda pelo livro – mas nos leva de volta à Ocupação do MLB.
Em João Pessoa, o edifício modernista Nações Unidas, localizado em área nobre do centro da cidade, foi ocupado por mais de 40 famílias no dia 5 de abril de 2022. Por se tratar do Centro – que, embora abandonado pelas classes de maior poder aquisitivo, ainda é, paradoxalmente, visto com uma certa nostalgia por estas e pelo poder público – a Prefeitura de João Pessoa, em reunião com o MLB no dia seguinte em que se deu a Ocupação, informou que já havia projeto para o prédio.
De acordo com Socorro Gadelha [secretária de Habitação de João Pessoa], já há um projeto para a reforma do imóvel, que contará com 43 apartamentos, além de salas comerciais. “Estamos trabalhando com Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) para reformar o espaço. Acredito que em 60 dias a obra será licitada”, destacou. (Hebert, 06/04/2022)
Engana-se quem pensa que tais apartamentos serão destinados às famílias ocupantes; naquele momento, eles eram destinados a famílias [ou investidores] de padrão aquisitivo superior àquelas que não podem pagar sequer aluguel. Fala-se em “cadastrar as 42 famílias nos nossos programas habitacionais e sobre a possibilidade de oferecermos auxílio-moradia.” (Ibid.). Não se falava em aluguel social – muito comum em países como a França,9 por exemplo – nem se fazia referência a outros projetos de habitação para a classe trabalhadora, como foi o próprio Pedregulho.
Hoje, após mais de um ano e meio de Ocupação – e dezenas de assembleias, plenárias, reuniões e outras ações dos movimentos sociais – a portaria nº 1482 do Ministério das Cidades (21 de novembro de 2023) inclui a Ocupação João Pedro Teixeira no Programa Minha Casa Minha Vida, para a construção de moradia popular.10 Um reconhecimento da luta e uma valorização dos saberes e fazeres dos grupos organizados em prol do direito à moradia.
Podemos perceber aqui, quanto temos a aprender enquanto arquitetos/as e urbanistas que prezam por um desenvolvimento urbano que priorize as pessoas igualmente, sem distinções de classe, de raça, nem de gênero. Os ensinamentos estão em toda parte; seja nos movimentos sociais por habitação, seja na literatura ou nos casos empíricos, seja no Brasil ou fora.
Embora toda a diversidade de famílias e de formas familiares possa ser um tanto nova, ideias para a criação de conjuntos habitacionais e até mesmo bairros inteiros que coletivizem e facilitem o trabalho doméstico podem ser encontradas tão recentemente quanto nas décadas de 1980 e 1990 e desde o final do século XIX na América do Norte. O livro de Hayden [1982], A Grande Revolução Doméstica: Uma História de Projetos Feministas para Casas, Bairros e Cidades Americanas, detalhou os esquemas utópicos e, às vezes, casas e comunidades reais projetadas pelas primeiras feministas materialistas que argumentaram que o trabalho doméstico e o cuidado com as crianças devem ser socializados e incorporados arranjos espaciais para facilitar a entrada das mulheres na força de trabalho, igualdade com os homens e desenvolvimento intelectual. (Kern, 2021, p. 69 [grifos no original])
Se os arranjos sociais não são institucionalizados, haverão de ser instituídos pelas mulheres, na criação de sua rede de apoio, como acontece na Ocupação, e como vimos com o caso de Guida Gusmão e Filomena.
Se, no livro, a vida de Guida no Estácio fica resumida a pouquíssimas 20 páginas, onde são relatadas as maiores tristezas que uma mulher poderia sofrer, Karim Aïnouz investe em uma natureza exuberante para representar aquele território onde Filomena, Guida e seu filho Chico se refugiam em uma comunidade de mães e muitas crianças que vão diariamente ocupar o quintal da casa de Filomena. Esta personagem “invisível”, mas de papel fundamental, poderia ter sido mais bem apresentada ao público.
Imagem 07: cena de Filomena no quintal com as crianças

Fonte: A Vida Invisível (2019, 1º10’25”)
Na galeria de co-autoras do filme, coube à Bárbara Santos [atriz] trazer a densidade, complexidade e refinamento ao modo como Filomena entende e vivencia seu lugar de raça, gênero e classe no Brasil dos anos 1950. [...]
Filomena é apresentada de modo marcante: preta arretada, de pavio curto que é também pioneira na proposição de creches infantis para que mulheres negras e/ou desamparadas pudessem batalhar pela autonomia financeira. O primeiro encontro de Filomena e Guida se dá por meio de uma desavença com Shirley, uma meteórica personagem negra que aparece apenas para fazer Guida ser melhor acolhida pelo cortiço carioca nos anos 50. (Pistache, 25/10/2019)
A exuberância da natureza vegetal é, portanto, associada à exuberância da natureza feminina. Se esta se apresenta exuberante, como uma potência prestes a tudo transformar, mesmo quando domesticada [em pequenos vasos], se torna quase selvagem quando colocada em relação com as construções precárias; demonstrando seu poder transformador, como natureza na ruína.
Ensaio infindo: notas para uma conclusão
A trajetória de afetos aqui percorrida apenas foi possível pela liberdade concedida pelo método do caminhar errante por entre memórias e lugares – rugosidades imateriais e materiais. Os afetos colecionados com as obras literária e cinematográfica intituladas A vida invisível vinham sendo curtidos – como se curte o couro ou alguma iguaria gastronômica – há 5 anos numa mistura de novos afetos, memórias, histórias que se somaram a esse caldo de referências sobre os diversos assuntos aqui tratados. O cuidado, as mulheres, a cidade, as opressões diversas que tentam conter a vida em “jarros” pequenos, e essa mesma vida que transborda por entre as brechas abertas com sua pulsão.
Numa primeira versão ensaiada deste texto, comecei lembrando de uma obra de etnografia, considerando que estava entre os antecedentes literários, de narrativas que unem mulher-mãe e cidade. Essa obra é o livro de Ruth Landes sobre a cidade de Salvador, Bahia, A cidade das mulheres. O livro foi publicado no Brasil em 1967, vinte anos após a publicação nos Estados Unidos. A autora, estadunidense, fez seu estudo etnográfico entre 1938 e 1939 na Cidade da Bahia, como era chamada Salvador. O livro de Landes nos provocou a pesquisar por outras narrativas que também revelam “cidades das mulheres” e nos ajudou na apreensão-compreensão de Salvador a partir das vivências femininas também nossas (Migliano; Rocha, 2016).
O seu estudo etnográfico reverberou na memória ao conhecermos a narrativa de Martha Batalha, buscando entender como as mulheres – em suas diferentes tonalidades de pele, em suas diferentes condições econômicas, geográficas, em suas diferentes sexualidades – são/estão mais ou menos invisibilizadas pelos discursos e pelas práticas hegemônicas, capitalistas e heteropatriarcais. Da mesma forma, o trabalho do cuidado é, ao mesmo tempo, relegado compulsoriamente às mulheres e invisibilizado junto com elas. A partir das narrativas trabalhadas, nos afetamos também pelas redes de sociabilidade construídas nos espaços privados, íntimos, invisíveis a partir do espaço público, sobre os quais a literatura, o cinema, as artes lançam luz. Essas redes, que se conformam a partir de relações de classe e raça, associadas ao gênero feminino, são atravessadas pelo domínio masculino em diferentes medidas, mas transcendem a lógica da dominação através da lógica do cuidado.11
Da mesma forma, as redes femininas que me afetaram ao percorrer o Centro de João Pessoa convocaram à memória essa ideia de cidade das mulheres, agora entendendo-a como uma vida invisível, já tendo em mente o livro e o filme que aqui serviram como guia. Desse percurso [de vida, posso dizer], para este ensaio, muitas imagens tiveram de ser colocadas de lado, outras se fizeram presente de modo menos explícito. Este foi o exercício: deixar emergir da memória e dos arquivos colecionados as afetividades, elementos capazes de somar sentido ao que fora [e vem sendo] apreendido pela pele, colocados lado a lado neste texto sobre o cuidado.
Afetividade é passar o olho nas crianças da sua vizinha,
para ela voltar a estudar à noite. Carla Akotirene12
Referências
A Vida Invisível. Direção de Karim Aïnouz. São Paulo: Vitrine Filmes, 2019. (139’).
Batalha, Martha. A vida invisível de Eurídice Gusmão. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
Guzzo, Marina Souza Lobo; Pele e cartografia: paisagens para pesquisa em dança. In: RUA [online]. Volume 29, número 1 - e-ISSN 2179-9911 - Junho/2023. Consultada no Portal Labeurb – Revista do Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade – <https://www.labeurb.unicamp.br/rua/artigo/capa/392-pele-e-cartografia-paisagens-para-pesquisa-em-danca> em 07/08/2023.
Hebert, Allan. Secretária de Habitação apresenta propostas às famílias que ocuparam o Edifício Nações Unidas. Portal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 06 de abril de 2022. Disponível em: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/noticias/secretaria-de-habitacao-apresenta-propostas-as-familias-que-ocuparam-o-edificio-nacoes-unidas/>. Consultado em 30/06/2023.
Hooks, Bell. Teoria feminista: da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019.
Kern, Leslie. Cidade Feminista: a luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2021.
Landes, Ruth. A Cidade das Mulheres. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2002.
Léo. reza. Salvador: à margem press, 2020.
Lispector, Clarice. A menor mulher do mundo. In.: Laços de Família
Migliano, M.; Rocha, M. I. C. M. da. Mulheres na rua: apontamentos sobre a dimensão política do corpo feminino no espaço público. URBANA: Revista Eletrônica do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, Campinas, SP, v. 8, n. 1, p. 60–75, 2016. DOI: 10.20396/urbana.v8i1.8642598. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana/article/view/8642598>. Acesso em: 1 dez. 2023.
Nascimento, Flávia Brito do. Da rede à BKF: a casa privada e o conjunto público de Carmen Portinho e Affonso Reidy. In: Nascimento, Flávia; Silva, Joana; Lira, José; Rubino, Silvana. (Orgs.) Domesticidade, Gênero e Cultura Material. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.
Pistache, Viviane. A Vida In.Visível de Filomena. Portal Geledés, 25 de outubro de 2019. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/a-vida-in-visivel-de-filomena/>. Consultado em 30/06/2023.
Rabelo, Adriano de Paula. A menor mulher do mundo na selva e na cidade: uma alteridade reveladora em Clarice Lispector. In.: Revista Letras Raras, v. 7, n. 2(2018), p. 208-2018.
Rocha, Maria Isabel Costa Menezes da. O dispositivo de pacificação dos espaços públicos urbanos através de um percurso pela Avenida Sete de Setembro. Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura, Salvador, 2016.
Rocha, Maria Isabel Costa Menezes da. Théories et pratiques des interventions urbaines dans les centres: Favelas et patrimoine urbain de Rio de Janeiro. Mémoire de fin d’études do Master « Sciences du territoire » – Univesité Pierre Mendès France, Institut d’Urbanisme de Grenoble, 2010.
Santos, Milton [1996]. A natureza do espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.
Tsing, Anna Lowenhaupt. Viver nas ruínas: paisagens multiespécies do antropoceno. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.
Data de Recebimento: 08/08/2023
Data de Aprovação: 29/02/2024
1 O pós-doutorado esteve dedicado à apreensão-compreensão do Centro de João Pessoa na pesquisa “Um Centro na Margem”, com financiamento da FAPESQ – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba.
2 O 6º Seminário Internacional Urbicentros aconteceu entre 12 e 15 de abril de 2023 no centro da cidade de João Pessoa. Foi uma realização do PPG-AU, ocupando um dos prédios da UFPB que se encontrava fechado (por questões de natureza política) e trazendo como tema central “habitar o centro”.
3 A tese, intitulada O dispositivo de pacificação dos espaços públicos urbanos através de um percurso pela Avenida Sete de Setembro, foi bastante interpelada pelo saber etnográfico e/ou antropológico como ferramenta teórico-metodológica de aproximação com o/s lugar/es, e fez das andanças pela Avenida e seu entorno um ativador da disponibilidade somática para a apreensão-compreensão do território estudado, alvo dos interesses público-privados [ou seja, mercadológicos] que tendem a negar [pacificar] as construções socioculturais de saberes e territorialidades na cidade.
4 Milton Santos (2009) trabalhou sobre a noção de rugosidades desde a década de 1970, buscando um termo para tratar das formas (físico-sociais, geo-territoriais) herdadas: “Chamemos rugosidade o que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em todos os lugares.” (Idem, pg. 140). Saindo do ambiente puramente físico-geográfico-objetivo, entendemos memória como rugosidade presente na nossa subjetividade.
5 A história aqui colada, por se tratar de história delicada, não nos foi contada com pormenores e detalhes. Por isso, tomo a liberdade de contar-lhes o pouco que sei, através dos relatos que ouvi; das estudantes e da Cuidadora. De todo modo, considero um assunto pertinente de ser tratado, pelo corriqueiro que já foi [senão ainda é!], em diversas partes deste Brasil.
6 Na entrevista-live de Martha Batalha para a editora Companhia das Letras (disponível no link <https://youtu.be/i7UT0rh0KQw>), a autora lembra de uma exposição de colchas (quilts) que visitou com a mãe nos Estados Unidos, onde mora atualmente, observando a energia que aquelas mulheres colocaram naquilo que elas podiam e eram autorizadas a fazer. Numa busca pela internet, encontramos alguns exemplos dessas exposições, como a retratada neste link: <https://curatedquilts.com/blogs/news/curated-quilts-2022-list-of-quilt-shows-in-the-united-states>.
7 O kitsch é um estilo artístico, cujas características estéticas remetem ao vulgar ou popular, ao melodrama ou àquilo que identificamos hoje como brega. Esteve inserido no contexto histórico e cultural da transição da modernidade para a pós-modernidade.
8 A Residência Carmem Portinho é como é chamado o projeto de Affonso Eduardo Reidy para a companheira.
9 Na cooperação internacional entre Paris e Rio de Janeiro, vimos a proposta da cidade francesa de implementar o aluguel social associado à produção habitacional popular em um complexo de favelas no bairro carioca do Estácio (Rocha, 2010).
10 O Fórum Nacional de Reforma Urbana organizou uma missão que percorreu diversas cidades visitando agrupamentos residenciais a fim de construir um acervo para indicação ao Prêmio Minha Casa Minha Vida; dentre os quais, indicou a Ocupação João Pedro Teixeira sob o topônimo “Residencial Nações Unidas”. Consulta à portaria disponível em: < https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/habitacao/programa-minha-casa-minha-vida/premio-minha-casa-minha-vida/portaria-1482-mcmv.pdf/view>. Consultado em 1º de dezembro de 2023.
11 O cuidado tem sido, felizmente, cada vez mais objeto do interesse de diversas pessoas e grupos de estudos não apenas feministas, colocando referências como bell hooks, do feminismo negro, ao centro do debate sobre uma diversidade de assuntos, da educação à arquitetura e urbanismo, do direito à medicina, no mesmo intuito de contraposição às lógicas hegemônicas fundamentadas na exploração e esgotamento do mundo.
12 Esta frase foi retirada de uma fala de Carla Akotirene que assisti durante o isolamento [da pandemia de Covid 19], em 2020. Estava anotada em um desses ensaios inacabados sobre a vida invisível. Mais um afeto para terminar este ensaio.